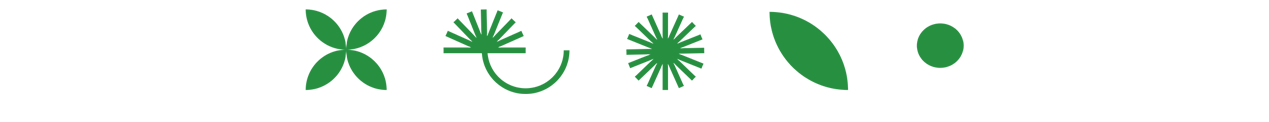
Programa - Pôster Eletrônico - PE01 - Agravos e Doenças Crônicas
DESIGUALDADES NAS PREVALÊNCIAS DE DEPRESSÃO NA POPULAÇÃO BRASILEIRA URBANA E RURAL E USO DE MEDICAMENTOS – PNS 2019
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
A depressão é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo com impacto importante na saúde e qualidade de vida das pessoas. A prevalência de transtornos mentais vêm aumentando globalmente desde o final do século XX em função, entre outros, das grandes transições demográficas, sociopolíticas e ambientais em curso, que influenciam de maneira diferente a população urbana e rural.
Objetivos
Estimar a prevalência de depressão em adultos (idade ≥20 anos) avaliada pela escala PHQ-9 na população urbana e rural, identificar presença de diagnóstico feito por profissional de saúde e o uso de medicamentos.
Metodologia
Estudo transversal com dados da PNS 2019 (n=86.510). Estimaram-se as prevalências de depressão pela escala PHQ-9: pessoas com 5 ou mais sintomas, frequentes em mais de 7 dias, e um dos sintomas sendo humor depressivo ou anedonia foram classificadas como tendo depressão maior; aquelas com pontuação abaixo de 10 foram consideradas sem depressão e as demais com depressão menor. Nos indivíduos identificados como tendo depressão foi verificada a presença de diagnóstico médico e, naqueles com diagnóstico foi analisado o uso de medicamentos. Razões de prevalências (RP) foram estimadas por meio de regressão de Poisson, ajustadas por sexo, idade e escolaridade com intervalos de confiança de 95%.
Resultados
As prevalências de depressão na população urbana foram 7,1% de depressão menor e 6,0% de depressão maior, e na rural 5,8% de depressão menor e 3,7% de depressão maior (p<0,001). Das pessoas identificadas como tendo transtorno depressivo, 34,8% e 31,2% da população urbana e rural, respectivamente, tinham diagnóstico médico de depressão (p>0,05). Entre aqueles com diagnóstico, o uso de medicamentos foi de 58,5% na população urbana e 51,7% na rural (p>0,05). Comparativamente à população urbana, as RP ajustadas mostraram que a prevalência de depressão (0,972; IC95%: 0,967-0,977) foi menor na população rural sem diferença estatisticamente significativa para o uso de medicamentos.
Conclusões/Considerações
O ambiente tende a influenciar hábitos e estilos de vida. Prática de atividade física regular, sono adequado, dieta equilibrada e conexão social, podem reduzir o risco de depressão e/ou colaborar na gestão dos sintomas. Embora o acesso a diagnóstico e uso de medicamentos seja semelhante nos dois grupos, os baixos percentuais de diagnóstico médico nas pessoas com sintomas podem indicar dificuldades de acesso.
RELAÇÃO ENTRE INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS E O ESTADO DE SAÚDE DE ADULTOS E IDOSOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFV
Apresentação/Introdução
A Hipertensão Arterial (HA), caracterizada como uma Doença e Agravo Não Transmissível (DANT), e seus agravantes, são responsáveis por cerca de 8,5 milhões de mortes em todo o mundo. No Brasil, a HA atinge mais de 38 milhões de pessoas. Se os fatores de risco fossem monitorados, especialmente a nível de Atenção Primária à Saúde (APS), esses diagnósticos poderiam ser evitados ou atrasados.
Objetivos
Analisar a associação entre os indicadores sociodemográficos e o estado de saúde com o Índice de Massa Corporal (IMC) de adultos e idosos com Hipertensão Arterial (HA) acompanhados pela Atenção Primária à Saúde (APS).
Metodologia
Estudo transversal realizado com 195 pessoas diagnosticadas com HA, cadastrados na APS da microrregião de saúde de Viçosa, Minas Gerais, composta por nove municípios. Os dados sociodemográficos foram coletados por meio de um questionário semiestruturado previamente testado. Os índices relacionados ao estado de saúde coletados foram: peso, altura, IMC, Circunferência da Cintura, Circunferência da Panturrilha (para os idosos), níveis pressóricos e o perfil lipídico. Os dados foram analisados de acordo com a categorização do IMC para adultos e para idosos. Foi realizada uma análise de regressão logística multinomial. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da instituição de origem.
Resultados
As variáveis positivamente associadas ao IMC foram: idade, diagnóstico de dislipidemia e CC. Para cada ano adicional de idade, a chance de um indivíduo estar abaixo do peso em relação a um eutrófico aumenta em 1,100 vezes. A CC foi significativa em todas as categorias analisadas, surgindo como fator de risco em duas delas (excesso de peso e obesidade). A chance de pessoas do sexo masculino ter excesso de peso é 0,156 vezes maior do que a chance de pessoas do sexo feminino ter excesso de peso. Além disso, a chance de indivíduos com diagnóstico de dislipidemia apresentarem excesso de peso é 0,211 vezes a chance de indivíduos sem esse diagnóstico apresentarem excesso de peso.
Conclusões/Considerações
Combinações de parâmetros sociodemográficos e o estado de saúde foram associadas principalmente ao sobrepeso e à obesidade. Isso demonstra que existem medidas fáceis de serem realizadas a nível de APS (medidas antropométricas), e devem ser utilizadas para triagem de fatores de risco como estratégia preventiva. Os profissionais de saúde devem ser treinados e considerar essas medidas para a análise clínica do quadro geral de cada paciente.
ENTRE PRESCRIÇÕES E ESCUTA: PERCEPÇÕES DE NUTRICIONISTAS SOBRE ABORDAGENS NO CUIDADO À OBESIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Apresentação/Introdução
A obesidade ainda se configura um desafio para o sistema de saúde e diante desse contexto ganham visibilidade novas abordagens que não se pautam exclusivamente no peso, se distanciando do modelo de nutrição hegemônico tradicional. A compreensão das vivências e percepções de nutricionistas pode contribuir para a reconfiguração do cuidado nutricional, buscando torná-lo mais humanizado e integrado.
Objetivos
Analisar as narrativas de nutricionistas, que atuaram com abordagem prescritiva tradicional e abordagem multicomponente, no cuidado a mulheres com obesidade na Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
Estudo exploratório qualitativo realizado em 2023 com oito nutricionistas atuantes no atendimento de mulheres com obesidade, na Atenção Primária à Saúde de Viçosa, MG. As profissionais foram alocadas em dois grupos, conforme abordagem nutricional adotada: prescritiva tradicional ou multicomponente. Foram analisados os diários de campo das nutricionistas, que contemplaram o processo de cuidado, dificuldades, vínculos, condutas e percepções sobre a abordagem adotada. A análise dos dados seguiu as etapas da análise de conteúdo de Bardin, com apoio do software IRaMuTeQ®. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Viçosa, parecer n.º 5.693.565.
Resultados
A dualidade entre prescrever e acolher e o questionamento acerca de seu papel enquanto nutricionista foram os principais eixos apontados nas vivências das nutricionistas na abordagem tradicional. Enquanto na abordagem multicomponente prevaleceu as seguintes temáticas: escuta como importante ferramenta de transformação, benefícios para além do peso e o impacto emocional e profissional. O sentimento de impotência das profissionais frente à complexidade dos casos foi a principal queixa em ambas as abordagens. A fragilidade emocional e social foi a principal barreira identificada pelas nutricionistas para a adesão à dieta.
Conclusões/Considerações
O uso dos diários de campo permitiu ir além de um relato técnico das condutas adotadas, mostrando a subjetividade e profundidade da vivência das profissionais. Este estudo aponta, portanto, para a necessidade de mudança na conformação do cuidado nutricional, pautando-se em abordagens sensíveis à realidade das mulheres atendidas e com constante aprimoramento dos profissionais para uma prática de cuidado nutricional efetivamente transformadora.
PADRÕES ALIMENTARES E ASMA ATÓPICA E NÃO ATÓPICA EM ADULTOS DO PROAR: UM ESTUDO CASO-CONTROLE
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
2 PUCE (Quito-Equador)
3 FMB/UFBA
Apresentação/Introdução
A asma é uma inflamação crônica das vias aéreas com fenótipos distintos. Sua alta prevalência e impacto são agravados por dificuldades no controle, sobretudo em países em desenvolvimento. Dietas ricas em ultra processados podem agravar os sintomas, mas a relação entre alimentação e fenótipos da asma em adultos ainda é pouco explorada.
Objetivos
O estudo tem como objetivo avaliar a associação entre os padrões alimentares e os fenótipos da asma em adultos atendidos pelo Programa de Controle da Asma e Rinite Alérgica na Bahia (ProAR).
Metodologia
Trata-se de um estudo caso-controle com 957 adultos (418 controles, 539 casos: 110 asma atópica, 429 não atópica) atendidos pelo ProAR, em Salvador e Lauro de Freitas (BA), entre 2013 e 2015. O consumo alimentar foi avaliado pelo Questionário de Frequência Alimentar. A análise fatorial (PCA) identificou os padrões alimentares com base em 12 grupos alimentares. A definição dos fenótipos foi feita por IgE específica (≥0,70 UI/ml: atópica; <0,70: não atópica). As variáveis sociodemográficas foram usadas como covariáveis. As análises foram realizadas no Stata 17.
Resultados
Foram incluídos 957 participantes (418 controles, 539 casos: 110 atópica, 429 não atópica). A maioria dos casos era do sexo feminino (77,27% atópica; 82,52% não atópica). Predominaram indivíduos pardos com idade entre 18 e 59 anos. Observou-se também uma frequência elevada de baixa renda nos grupos, enquanto o grupo atópico apresentou maior nível de escolaridade. Sete padrões alimentares foram identificados, destacando-se o padrão Ocidentalizado/industrializado na asma atópica. Contudo, não houve associação significativa entre os padrões alimentares e o tipo de asma nos modelos ajustados, indicando necessidade de mais estudos para compreender essa relação.
Conclusões/Considerações
Este estudo identificou o padrão “Ocidentalizado/industrializado” em pessoas com asma atópica que sugere maior vulnerabilidade aos efeitos pró inflamatórios dos alimentos ultra processados (AUP). Doces industrializados foram frequentes em todos os grupos. Recomenda-se uma dieta anti-inflamatória para asma atópica e a redução do consumo de AUP, além do equilíbrio alimentar, para melhorar o controle da inflamação e dos sintomas na asma não atópica.
ENTRE IDAS E VINDAS, O DIAGNÓSTICO: SOBRE O ITINERÁRIO DE PESSOAS COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
Pôster Eletrônico
1 UFPA
Apresentação/Introdução
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune do sistema nervoso central, caracterizada por danos à bainha de mielina que resulta em sintomas e sequelas a nível físico, cognitivo e funcional. O processo diagnóstico é feito por exclusão então, receber o diagnóstico a pessoa pode passar por um período convivendo com a angústia de não saber o porquê dos sintomas e do declínio de suas funções.
Objetivos
Apresentar a trajetória de pessoas com esclerose múltipla até o diagnóstico.
Metodologia
Este estudo faz parte de uma tese de doutorado, aprovada pelo comitê de ética em pesquisa sob número de parecer 6.920.276. É um estudo qualitativo com delineamento de estudo de casos múltiplos. A coleta ocorreu em julho/2024. Os instrumentos utilizados foram: entrevista semiestruturada, com perguntas relacionadas aos dados sociodemográficos, clínicos e sobre as ocupações; oficina de atividade expressiva e diário de campo. Os dados foram transcritos e posteriormente validados pelos participantes. Neste estudo, foram apresentados os resultados referentes aos relatos dos participantes sobre o início dos sintomas até o diagnóstico. Os participantes foram identificados como P1, P2, P3 e P4.
Resultados
Participaram 4 pessoas. Todos precisaram recorrer ao sistema privado de saúde e passaram por mais de 3 profissionais até iniciar a investigação de EM. Do início dos sintomas até o diagnóstico, o tempo foi de 6 meses a 1 ano. Os participantes relataram como sintomas iniciais: dificuldades visuais e no equilíbrio (P1 e P3); perda da mobilidade, paresia nos membros inferiores (P2 e P4); déficits cognitivos (P4). P2 e P3 tiveram agravos e passaram a utilizar dispositivo auxiliar de mobilidade, P1 e P4 foram estabilizados com medidas terapêuticas. Isto nos indicou que pessoas com EM enfrentam dificuldades até o diagnóstico, as quais evidenciam necessidade de atenção sobre o cuidado em EM.
Conclusões/Considerações
O estudo indicou a necessidade de fortalecimento das políticas e assistência no campo da EM, as idas e vindas a múltiplos profissionais podem sinalizar dificuldades na comunicação e referência e contrarreferência. As pessoas com EM podem conviver por período indeterminado com angústia de não saber o motivo de seu declínio funcional. Assim, é necessário refletir sobre o cuidado no campo da EM e pensar estratégias para a integralidade do cuidado.
DIAGNÓSTICO DE RISCO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS INTERNADAS NA UNIDADE PEDIATRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA UTILIZANDO A FERRAMENTA STRONG KIDS
Pôster Eletrônico
1 HUUFMA/EBSERH
Apresentação/Introdução
O STRONGkids é a ferramenta de diagnóstico de risco nutricional em crianças hospitalizadas, traduzida e validada no Brasil. O avaliador consegue identificar a presença de doença de alto risco nutricional ou cirurgia de grande porte prevista, além de sinais de perda de massa muscular e adiposa. Também é verificada a diminuição da ingestão alimentar e perdas, assim como ausência de ganho de peso.
Objetivos
Diagnosticar através da ferramenta STRONGkids o risco nutricional em crianças internadas na unidade pediátrica do Hospital Universitário da UFMA.
Metodologia
Estudo descritivo, realizado com 765 crianças admitidas na unidade pediátrica do Hospital Universitário da UFMA (HUUFMA), no período de março de 2022 a janeiro de 2023. O STRONGkids consiste em 4 partes. Cada parte contém uma pontuação para respostas positivas: Avaliação clínica subjetiva (1 ponto); Doença de alto risco ou cirurgia de grande porte (2 pontos); Ingestão ou perdas nutricionais (1 ponto); Perda de peso ou baixo ganho de peso em menores de 1 ano (1 ponto). A classificação é de acordo com o escore: baixo risco de desnutrição = 0, moderado = 1 a 3 e alto = 4 a 5. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUUFMA, parecer 4.853.350.
Resultados
A triagem nutricional foi realizada em até 48 horas em 86,1% (n=659) das crianças. A média de idade foi de 5,7±4,5 anos e 52,2% (n=399) eram do sexo masculino. O STRONGkids identificou que 71,1% (n=544) das crianças apresentaram risco de desnutrição moderado e 8,2% (n=63) alto. O item que mais motivou a pontuação foi “Doença de alto risco ou cirurgia de grande porte”, 66,1% (n=506). Outro item mais pontuado foi “ingestão nutricional ou perdas nutricionais”, 33,9% (n=259). A frequência de pacientes que pontuaram nos itens “Avaliação clínica subjetiva” e “Perda de peso ou baixo ganho de peso (< 1 ano)” foi de 28,0% (n=214) e 30,5% (n=233), respectivamente.
Conclusões/Considerações
O risco de desnutrição médio ou alto foi detectado precocemente nas crianças. Dessa forma o uso da ferramenta é de suma importância para estabelecer estratégias que possibilitem a intervenção nutricional adequada e evitando o agravamento e desfechos desfavoráveis durante a internação hospitalar.
TENDÊNCIAS DE VENDA DE ANTIDEPRESSIVOS E REGISTROS DE SUICÍDIO NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Unicamp
2 UnB
Apresentação/Introdução
O suicídio é um problema de saúde pública que afeta diferentes grupos etários. A depressão, relacionada a esse desfecho, é tratada com antidepressivos que podem causar efeitos adversos como a lesão autoprovocada. O aumento no uso desses medicamentos levanta questões sobre seus impactos na saúde mental da população.
Objetivos
Investigar a associação entre a venda de antidepressivos e as taxas de suicídio no Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico com análise de séries temporais, utilizando dados de vendas de antidepressivos obtidos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) e registros de óbitos por suicídio extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), entre 2014 e 2021. As vendas foram convertidas em dose diária definida por 1.000 habitantes/dia (DID). Utilizamos o modelo de autorregressão vetorial (VAR) para avaliar a relação temporal entre as variáveis. A função de resposta ao impulso foi usada para estimar os efeitos defasados, e o teste de causalidade de Granger foi empregado para investigar se as vendas precedem variações nas taxas de suicídio.
Resultados
Foram registrados 101.346 suicídios no Brasil no período, passando de 11.339 em 2014 para 16.248 em 2021. A incidência subiu de 56,2 para 76,2 casos por milhão de habitantes, com as maiores taxas entre homens de 40 a 79 anos, especialmente na região Sul. As vendas de antidepressivos aumentaram de 14,7 para 32,1 DID/mês. As taxas de suicídio foram influenciadas pelas vendas de antidepressivos de dois meses anteriores (β=0,016; IC 95%: 0,001–0,033; p=0,049) e pelas taxas de suicídio anteriores (β=0,376; IC 95%: 0,182–0,569; p<0,001). A variância nas taxas de suicídio mudou significativamente do segundo ao décimo mês após a variação nas vendas (p=0,004).
Conclusões/Considerações
Tanto o suicídio quanto a venda de antidepressivos aumentou no Brasil entre 2014 e 2021. As taxas de suicídio foram influenciadas tanto pelas vendas anteriores desses medicamentos quanto pelos próprios registros de suicídio dos meses anteriores. Por se tratar de estudo ecológico, não é possível avaliar se a exposição a antidepressivos ocorreu em as pessoas que morreram por suicídio. Os resultados sugerem dinâmica complexa entre consumo de medicamentos e desfechos em saúde mental, exigindo estratégias integradas de prevenção e atenção psicossocial.
POSSÍVEIS VIAS PARA ÓBITO FETAL ANTEPARTO: RESULTADOS PRELIMINARES DE UMA ABORDAGEM DE REDES BAYESIANAS E ANÁLISE DE MEDIAÇÃO
Pôster Eletrônico
1 Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
2 Laboratório de Investigação Médica em Obstetrícia (LIM 57), Hospital das Clínicas HCFMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
3 Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
4 Laboratório de Anatomia Patológica, Hospital das Clínicas HCFMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
5 Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
6 Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
Apresentação/Introdução
A mortalidade fetal é um importante indicador de saúde materno-infantil. No município de São Paulo a taxa de mortalidade fetal foi de 8,0 por 1.000 nascimentos em 2023. O óbito fetal é considerado um problema multifatorial, no qual intervêm fatores sociais, biológicos, comorbidades e cuidado pré-natal. Porém, as vias entre esses fatores que levam ao óbito fetal ainda não são totalmente conhecidas.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi identificar possíveis vias, entre exposições selecionadas, que levam à mortalidade fetal.
Metodologia
Este estudo faz parte do projeto FetRisks - um estudo caso-controle de base populacional, de óbitos fetais e nascidos vivos em 14 hospitais públicos do município de São Paulo, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023. Selecionamos características sociodemográficas, comportamentos maternos, pré-natal, comorbidades maternas, lesões placentárias e atributos fetais. Construímos uma rede bayesiana orientada por dados utilizando o algoritmo de busca tabu, e o equivalente bayesiano de Dirichlet para avaliar a qualidade do ajuste da rede. Com base na rede bayesiana, identificamos possíveis vias e as confirmamos por meio de análise de mediação contrafactual usando regressões probit.
Resultados
Foram analisados 263 óbitos fetais anteparto e 329 nascidos vivos. A restrição do crescimento fetal mediou parte dos efeitos da hipertensão (efeito indireto ajustado [EIA] 0,0704; IC 95%: 0,0139-0,1269), pré-eclâmpsia (EIA 0,0809; IC 95%: 0,0187- 0,1432), má perfusão vascular materna (EIA 0,0649; IC 95%: 0,0357-0,0940) e anomalias congênitas (EIA 0,0491; IC 95%: 0,0163-0,0820) na mortalidade fetal. A má perfusão vascular materna mediou parte do efeito da hipertensão (EIA 0,0355; IC 95%: 0,0017-0,0693) na mortalidade fetal. Tabagismo durante a gravidez mediou parte do efeito da escolaridade materna menor a 8 anos de estudo na mortalidade fetal (EIA 0,0266; IC 95%: 0,0010-0,0523).
Conclusões/Considerações
Identificamos possíveis vias etiológicas para o óbito fetal anteparto, que incluem hipertensão, pré-eclâmpsia, lesões placentárias, anomalias congênitas, restrição de crescimento fetal, tabagismo e escolaridade materna. Essas vias mostram as relações entre características sociais, comorbidades e atributos fetais sobre as quais poderiam ser desenvolvidas intervenções para reduzir o risco de óbito fetal.
FATORES ASSOCIADOS AO CONTROLE GLICÊMICO INADEQUADO NO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM BRASÍLIA DE MINAS E SÃO FRANCISCO - MINAS GERAIS
Pôster Eletrônico
1 UFVJM
2 SES/MG
Apresentação/Introdução
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis, dentre elas o Diabetes Mellitus, estão entre as principais causas de morte no Brasil. O controle glicêmico inadequado é fator de risco para complicações da doença. A manutenção de níveis glicêmicos adequados é essencial para evitar as complicações e dependem de diversos fatores, como alimentação, atividade física e o acesso a serviços de saúde.
Objetivos
Esse trabalho teve como objetivo identificar os fatores associados ao controle glicêmico inadequado em pacientes com diabetes assistidos pelo Centro Estadual de Atenção Especializada Brasília Minas - MG e São Francisco – MG.
Metodologia
Estudo quantitativo, descritivo, transversal realizado com 102 pacientes adultos com Diabetes Mellitus, que apresentaram hemoglobina glicada (A1c) acima de 7%, cadastrados no Centro Estadual de Atenção Especializado de Brasília de Minas e São Francisco (MG) entre janeiro/2018 e janeiro/2019. Os dados foram coletados dos prontuários da equipe multidisciplinar e incluíram informações sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida, medidas antropométricas e pressão arterial. A análise estatística foi feita com o software SPSS, utilizando regressão de Poisson para analisar associações entre variáveis e níveis de A1c. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFVJM.
Resultados
Do total de indivíduos com diabetes deste estudo, com glicemias fora do alvo, 54,9% apresentaram A1c > 9%, indicando alto risco de complicações. Na análise multivariada, o aumento da faixa etária (p = 0,025) escolaridade (p = 0,034) níveis de colesterol aumentado (p = 0,023), a não realização de anotações de automonitorização ( p =0,013) presença de doença renal crônica (p = 0,004); 3 ou mais consultas com nefrologista ao ano (p < 0,011) e uma ou nenhuma consulta com nutricionista (p <0,001) estiveram associados a valores mais elevados de A1c.
Conclusões/Considerações
O estudo demonstrou que os fatores associados ao controle glicêmico são múltiplos e variados, incluem fatores sociodemográficos, clínicos, complicações crônicas e relativos à assistência. Identificar estes fatores é importante para criação de estratégias a fim de melhorar o controle do diabetes e assim evitar as complicações desta doença.
ANÁLISE DA VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS USANDO UMA ABORDAGEM DE COLETA DE DADOS MULTIMODAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
2 Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
Pesquisas por telefone têm enfrentado desafios nas últimas décadas, incluindo taxas de resposta em declínio e custos crescentes, o que levou à necessidade de métodos alternativos de coleta de dados. A coleta de dados multimodal surgiu como uma abordagem viável, produzindo dados de alta qualidade, reduzindo custos e melhorando as taxas de resposta.
Objetivos
Avaliar a viabilidade de uma abordagem de coleta de dados multimodal para a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil, em comparação com uma pesquisa somente por telefone.
Metodologia
Dois estudos foram conduzidos em 2023 com adultos de Belo Horizonte, um com coleta multimodal (convite por mensagem de texto e posterior contato telefônico com não respondentes) e outro somente por telefone, seguindo metodologia do Vigitel 2023. Fatores de ponderação ajustaram as probabilidades de seleção e alinharam a composição sociodemográfica à população local. Foram calculadas prevalências de 23 indicadores de saúde e usadas regressões de Poisson com variância robusta para avaliar variações entre os modos de pesquisa (multimodal e somente telefone). Também foram analisados taxa de elegibilidade, resposta e recusa, custo e tempo médio por entrevista.
Resultados
A amostra do estudo multimodal foi semelhante à população projetada para Belo Horizonte em 2023. Dos 23 indicadores, apenas um (obesidade) apresentou diferente entre os estudos e foi negativamente associado à coleta multimodal (RP: 0,68, IC 95%: 0,56-0,82). Em relação aos indicadores de desempenho, o estudo multimodal apresentou taxa de elegibilidade maior (46,5%), taxa de resposta menor (7,2%) e taxa de recusa menor (7,1%). O custo para a coleta multimodal foi menor que a por telefone (R$ 82.797,00 vs. R$ 85.000,00). E a duração da entrevista, foi semelhante entre a coleta multimodal e a somente por telefone (14,14 minutos vs. 14,40 minutos, respectivamente).
Conclusões/Considerações
Esses resultados indicam que a coleta de dados multimodal é uma opção viável para a vigilância de fatores de risco e proteção para DCNT, potencialmente complementando entrevistas telefônicas. Essa abordagem produziu estimativas de indicadores comparáveis aos métodos utilizados anteriormente, com maior rapidez e custo ligeiramente menor.
ANÁLISE DAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM UMA OPERADORA DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE NO BRASIL, 2017 A 2023.
Pôster Eletrônico
1 Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Apresentação/Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos, associados a fatores de risco que incluem fatores ambientais, genéticos e de comportamento. No Brasil, atualmente, as DCV são a principal causa de morbimortalidade, exercendo grande impacto sobre as taxas de internação entre os serviços públicos e privados.
Objetivos
O objetivo deste estudo é caracterizar as internações por DCV em uma operadora de autogestão em saúde no Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, com horizonte temporal de 2017 a 2023, acerca das principais características das internações por DCV na população de uma operadora de saúde no Brasil.
Para identificar os usuários com a doença foram considerados os registros clínicos do capítulo IX, da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) ou a ocorrência de eventos assistenciais correspondentes ao mesmo capítulo. As internações foram identificadas com análise de dados provenientes dos sistemas de informação e de pagamento, da operadora. Foram retirados os eventos obstétricos e eventos não pagos. Foram analisados indicadores referentes a estas internações, a nível Brasil e por regiões do país.
Resultados
Os indicadores analisados permitiram observar que a proporção de internações por DCV entre os usuários diagnosticados apresenta queda de 36,15% em 2017 para 31,13% em 2023. A proporção de internações em UTI por DCV, nos usuários com a doença, inicia a série com 56,44%, cai para 48,67% em 2020, apresenta aumento em 2021 e volta a cair ao final com 48,92%. A proporção de internações domiciliares por DCV apresenta comportamento semelhante, iniciando a série em 29,53% com queda entre 2017 e 2019, aumento em 2020 e queda até 2023 com 22,66%. As taxas de internações hospitalares, por outro lado, permitem observar aumento na proporção de internações por DCV e por condições clínicas das DCV.
Conclusões/Considerações
O perfil de internações por DCV nesta operadora de saúde acompanha as tendências de queda nos valores proporcionais ao comparar os resultados com o Brasil. Aumentos foram identificados nos períodos concorrentes a Pandemia de COVID-19, mas mantida queda dos percentuais ao fim do horizonte avaliado, com exceção das taxas de internação, que apresentam aumento, em especial posterior a 2020.
MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS – DCNT E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG: UMA ANÁLISE DESCRITIVA , MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2020 A 2022
Pôster Eletrônico
1 IESC/UFRJ
Apresentação/Introdução
As DCNT constituem-se na maior carga de mortalidade no mundo, sendo responsáveis por 63% dos óbitos globais¹.Em 2019,no Brasil,54,7% dos óbitos foram por DCNT².Estas são fatores de risco para o agravamento da SRAG. Em 2020,observou-se uma elevação das internações e óbitos por SRAG, que pode contribuir para descompensação das DCNT resultando em óbito por SRAG ou DCNT durante e/ou após a internação por SRAG³.
Objetivos
Descrever o perfil dos óbitos por doenças cardiovasculares (DCV), óbitos por outras DCNT, óbitos por SRAG e óbitos por outras causas, em residentes do município do Rio de Janeiro (MRJ) com notificação para SRAG,2020 a 2022.
Metodologia
Trata-se de uma coorte retrospectiva, de óbitos por DCV, outras DCNT, SRAG e outras causas, residentes do MRJ, notificados para SRAG de 2020 a 2022.Utilizou-se a técnica de vinculação de base de dados determinística, probabilística e revisão manual, entre o SIVEP–Gripe (fator de risco) e o SIM (desfechos). Feita as análises descritivas das características sociodemográficas/clínicas e estimada a taxa de mortalidade (TM) dos desfechos. Utilizou-se o software R (v.4.1.3) e pgAdmin – PostgreSQL (v8.6). Aprovado pelo CEP do IESC/UFRJ, Secretaria Municipal de Saúde do RJ e consentimento/anuência da Secretaria Estadual de Saúde do RJ.
Resultados
Das notificações para SRAG (n=112.196), 43.231 foram óbitos. Destes, 6,3% foram óbitos por DCV, 6,9% outras DCNT, 15,9% outras causas e 70,9% SRAG. As mortes por SRAG foram mais frequentes nos homens, todos os demais desfechos foram mais frequentes nas mulheres. Os óbitos foram mais frequentes na faixa etária entre 60 a 79 anos. As DCV seguida do DM foram as comorbidades mais prevalentes. Dispneia, tosse e baixa saturação foram os sinais/sintomas mais encontrados. Observou-se que 44,2% dos óbitos necessitaram de UTI. Quanto a TM p/ SRAG, houve uma queda entre 2020 e 2022, de 237,1 para 24,9 por 100 mil/hab e uma elevação da TM p/ outras causas nesse período, de 28,9 para 35,2 por 100 mil/hab
Conclusões/Considerações
Esse estudo tem como finalidade contribuir com a vigilância em saúde do MRJ, com informações relevantes para planejamento de ações analisando o comportamento dos óbitos de indivíduos notificados como casos de SRAG no município do Rio de Janeiro. O perfil dos casos acometidos e dos óbitos por DCV, outras DCNT, por outras causas e por SRAG possibilita avaliar o impacto da SRAG durante e após a alta hospitalar por SRAG.
ÚLCERA PLANTAR: EVENTO SENTINELA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HANSENÍASE EM UMA REGIÃO ENDÊMICA DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
Na hanseníase, o acometimento do nervo tibial compromete a sensibilidade protetora da região plantar. A neurite deste nervo pode ser assintomática e evoluir para úlcera plantar e osteomielite, pode ter como desfecho a amputação desde o antepé ou eventualmente a amputação total do pé. A descompressão cirúrgica do nervo tibial é um procedimento preventivo para evitar úlceras plantares
Objetivos
Discutir a evolução das úlceras plantares em indivíduos com hanseníase acompanhados em uma unidade de referência submetidos a tratamento cirúrgico.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional de coorte retrospectiva, descritivo e nalítico, conduzido entre 2013 e 2018. Os pacientes foram avaliados e acompanhados por meio da Avaliação Neural Simplificada (ANS). Foram utilizados os dados da última avaliação registrada nos prontuários, realizando-se análise descritiva das características clínicas e sociodemográficas. As variáveis categóricas foram expressas em distribuição de frequência, enquanto a associação entre sexo, faixa etária e evolução das úlceras plantares foi analisada pelo teste qui-quadrado (χ²).
Resultados
Foram avaliados 103 pacientes, 72,8% sexo masculino e 96% multibacilar. A faixa etária predominante foi entre 40 a 59 anos (47,6%). Dos 103 pacientes, 88 apresentavam úlceras no pé direito, entre os quais, 61% realizaram cirurgia de ressecção, 39,8% cirurgia de descompressão do plexo tibial e 23,9% ambas as cirurgias; 83% dos pacientes apresentavam úlceras no pé esquerdo, 39,8% deles realizaram cirurgia de descompressão, 65,1% de ressecção e 31,3% ambas. Entre os que realizaram apenas a cirurgia de descompressão tibial, a taxa de cicatrização foi de 65,7% no MID e 66,7% no MIE. Nos pacientes submetidos a ambas as cirurgias, a taxa de cicatrização foi de 61,9% no MID e 73,1% no MIE.
Conclusões/Considerações
A descompressão neural do nervo tibial favoreceu a cicatrização de úlceras plantares. A associação entre ela e a ressecção da úlcera aumentou significativamente as taxas de cicatrização, indicando que esta abordagem combinada melhora o prognóstico das lesões. Nenhuma correlação foi observada entre fatores sociodemográficos e a evolução clínica, bem como não foi possível afirmar relação à classificação operacional ou a forma clínica.
IMPACTO DE UM PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE INFANTIL NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E SEVERIDADE DA OBESIDADE DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 PPGEF/UFRN; Hospital Infantil Varela Santiago
2 PPGEF/UFRN
3 UFRN; Hospital Infantil Varela Santiago
Apresentação/Introdução
Em 2019, 17,4% das crianças de 5 a 9 anos no Rio Grande do Norte tinham obesidade, o terceiro maior índice do país (Brasil, 2019). No mesmo ano, o Hospital Infantil Varela Santiago (Natal/RN) criou o núcleo de tratamento da obesidade infantil que fornece cuidado multidisciplinar, contínuo e focado na promoção do estilo de vida saudável.
Objetivos
Este estudo avaliou, de forma retrospectiva, os efeitos do tratamento multidisciplinar da obesidade infantil sobre o índice de massa corporal, percentual de gordura, massa magra e gravidade da obesidade.
Metodologia
Foram analisadas 143 crianças (71 meninas), com idade média de 8,1 ± 1,4 anos, que participaram do programa entre 2021 e 2024. Peso, estatura e composição corporal foram avaliadas a cada 21 dias, totalizando até 8 avaliações por ano. Os desfechos incluíram índice de massa corporal (IMC), IMC padronizado (IMC-z), severidade da obesidade (%IMCp95), percentual de gordura, massa livre de gordura e gordura do tronco. Modelos lineares mistos foram usados para investigar o efeito do tratamento sobre os parâmetros avaliado.
Resultados
Houve redução significativa no MC (b = -0,15; IC95% = -0,21 – -0,09 m/k²; p < 0,001), no escore-z do IMC (b = -0,02; IC95% = -0,04 – -0,01; p < 0,001) e no %IMCp95 (b = -0,71; IC95% = -0,99 – -0,43). Observou-se melhora na composição corporal: aumento médio de 500g de massa magra, redução de 3% na gordura corporal e diminuição de 1 kg na gordura do tronco. Crianças com obesidade grave apresentaram maiores reduções nos indicadores de adiposidade, mas sem alteração significativa na composição corporal. O estágio pré-puberal pode ter favorecido os resultados, pois crianças com obesidade tendem a crescer mais rápido antes da puberdade, o que se altera com a ação dos mecanismos neuroendócrinos
Conclusões/Considerações
Nosso estudo reforça a efetividade de programas multidisciplinares de longo prazo para o tratamento da obesidade infantil. Novas pesquisas devem buscar estratégias para melhorar os resultados em crianças com obesidade severa e com dificuldade em manter hábitos saudáveis. É fundamental avaliar ações que facilitem o acesso a alimentos locais acessíveis, atividades comunitárias, brincadeiras tradicionais e planos estruturados de atividade física.
DESIGUALDADES NO TEMPO DE ESPERA PARA O TRATAMENTO ADJUVANTE DO CÂNCER DE MAMA SEGUNDO TIPO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFJF
2 Instituto Oncologico
Apresentação/Introdução
O início oportuno do tratamento adjuvante no câncer de mama é essencial para melhores desfechos clínicos. No entanto, fatores relacionados ao tipo de assistência à saúde podem impactar significativamente o tempo de espera até o início das terapias complementares, refletindo disparidades estruturais no cuidado oncológico brasileiro.
Objetivos
Analisar o tempo de espera para início do tratamento adjuvante do câncer de mama (quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia), segundo aspectos sociodemográficos e clínicos em mulheres tratadas em serviços público e privado de saúde.
Metodologia
Estudo de coorte retrospectiva com mulheres diagnosticadas com câncer de mama, tratadas entre 2014 e 2016 em um centro de referência oncológica em Minas Gerais. Foram analisadas variáveis sociodemográficas, clínicas e relacionadas ao serviço de saúde. O tempo de espera foi estimado pelo método de Kaplan-Meier e os fatores associados avaliados por regressão de Cox
Resultados
Observaram-se diferenças significativas nos tempos de espera para início da terapia adjuvante, especialmente para a quimioterapia, segundo o tipo de assistência à saúde. Para as mulheres que receberam a quimioterapia como primeiro tratamento adjuvante, o tempo mediano de espera foi menor no serviço privado (49,0 dias; IC95%: 37-58) em relação ao público (63,0 dias; IC95%: 60-76). Fatores como idade, escolaridade, estágio da doença, modalidade do tratamento e tempo para liberação do exame imunohistoquímico influenciaram os tempos de espera para adjuvância, evidenciando desigualdades que comprometem o acesso ao cuidado especializado.
Conclusões/Considerações
O tempo de espera para o tratamento adjuvante do câncer de mama pode variar conforme o tipo de assistência à saúde, com desvantagem para o serviço público. Tais diferenças apontam a necessidade de políticas públicas voltadas à garantia de equidade no acesso a cuidados oncológicos oportunos, sobretudo na rede pública de saúde.
A RELAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E OBESIDADE EM MULHERES NO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
A vulnerabilidade no acesso a alimentos é um dos principais fatores que explicam a associação entre a insegurança alimentar (IA) e obesidade. Essa relação ocorre entre as mulheres e não entre os homens, sugerindo que há determinantes sociais e de gênero que influenciam esse padrão. Contudo, a maioria dos estudos não aprofunda a análise dessas desigualdades, sobretudo em nível municipal.
Objetivos
Analisar a associação entre IA e obesidade em chefes de família adultos do município do Rio de Janeiro, levando em conta as diferenças entre homens e mulheres.
Metodologia
Analisou-se dados do I Inquérito sobre a Insegurança Alimentar no Município do Rio de Janeiro, representativo para a cidade, considerando apenas os chefes de famílias adultos (20-59 anos), totalizando uma amostra de 1026. A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar avaliou a segurança alimentar e IA (leve e moderada/grave). O peso e estatura autorreferidos foram utilizados para o cálculo do IMC. Analisou-se o sexo em homem/mulher, idade, raça/cor, anos de estudo, recebimento do Programa Bolsa Família (PBF), e área de planejamento (AP) da cidade. Associações entre os níveis de IA e obesidade foram estimadas por modelos logísticos multinomiais (IC95%) no STATA 16. CAEE: 54473421.6.0000.5257.
Resultados
Excesso de peso acometia 59,9% dos adultos. A prevalência de obesidade foi maior quando a chefia tinha 40-59.9 anos (23,0%;IC95% 19,3-27,3), raça/cor preta (27,4%;IC95% 21,3-34,4), ≤4 anos de estudo (27,4%;IC95% 21,3-34,4), era beneficiária do PBF (25,6%; IC95% 19,5-32,9), em IA moderada/grave (29,1%;IC95% 20,9-38,9) e residia na AP1 da cidade (26,5; IC95% 20,9-33,0). Mulheres em IA leve tiveram maior prevalência de sobrepeso (23,3%) e obesidade (16,7%). Entre mulheres, a chance de ter obesidade foi 2,8 vezes maior (IC95% 1,3-5,8) naquelas em IA leve e 2,6 vezes (IC95% 1,0-6,4) maior naquelas em IA moderada/grave. Nos homens a relação da IA e obesidade não foi associada significativamente.
Conclusões/Considerações
A IA foi um fator de risco para obesidade apenas entre as mulheres, evidenciando as desigualdades de gênero. Os dados sugerem maior vulnerabilidade das mulheres aos efeitos da IA nos contextos urbanos, especialmente em grandes metrópoles, e destacam a necessidade de investigar diferenças sociais e metabólicas entre os gêneros em cenários de IA. Tais estudos são cruciais para compreender as causas subjacentes da obesidade entre diferentes grupos.
TRAJETÓRIAS DE ASMA E ATOPIA DA ADOLESCÊNCIA AO INÍCIO DA VIDA ADULTA NO BRASIL: COORTE DE NASCIMENTOS DE 1993 DE PELOTAS
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas
2 School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, Royal College of Surgeons in Ireland
3 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSEH
4 National Heart and Lung Institute, Imperial College London
Apresentação/Introdução
A coexistência de dermatite atópica (DA), rinite alérgica (RA) e asma afeta cerca de 20% da população mundial. Estudos longitudinais realizados em países desenvolvidos sugerem que, ao contrário do modelo proposto pela “marcha atópica”, a progressão dessas condições não segue um único percurso.
Objetivos
Identificar e caracterizar trajetórias de dermatite atópica (DA), rinite alérgica (RA) e sibilância (como proxy de asma) dos 11 aos 22 anos em uma coorte de nascimentos do Sul do Brasil.
Metodologia
Foram incluídos 4.692 indivíduos da Coorte de Nascimentos de 1993 de Pelotas. Foi utilizada a Análise de Classes Latentes com Medidas Repetidas para identificar trajetórias de DA, RA e sibilância. Cada trajetória foi descrita de acordo com características gestacionais, perinatais e contemporâneas, utilizando o teste do qui-quadrado para variáveis categóricas e ANOVA para variáveis contínuas. Foi adotado um nível de significância de 5%. As análises foram conduzidas nos softwares SAS, R e Stata.
Resultados
Foram identificadas seis trajetórias: uma assintomática (1), uma com predomínio de DA (2), uma com predomínio de sibilância (3) e três com predomínio RA (4, 5 e 6), sendo a última marcada pelas maiores proporções de simultaneidade entre as três condições. A trajetória 3 concentrou o maior percentual de indivíduos com menor renda familiar (24,5%), enquanto a 6 apresentou o menor (9,8%). As trajetórias 4 (76,8%) e 5 (79,6%) tiveram as maiores proporções de indivíduos Brancos, enquanto a 3 concentrou o maior percentual de Pretos/Pardos (41,7%). As trajetórias 4 e 6 se destacaram pelas maiores proporções de parto por cesariana (acima de 40%) e 3 e 6 pela insatisfação com a saúde (acima de 11%).
Conclusões/Considerações
As seis trajetórias identificadas indicaram que a progressão da DA, RA e asma não segue um único percurso. Os resultados revelaram disparidades relevantes no que tange aos aspectos socioeconômicos, comportamentais e de saúde. Tais achados reforçam a necessidade de intervenções específicas para diferentes subgrupos e de estratégias de cuidado personalizadas.
CUIDADOS AO ADULTO COM OBESIDADE NO SUS: REVISÃO DE PRÁTICAS, INTERVENÇÕES E DESAFIOS
Pôster Eletrônico
1 UFMA
2 ICEPi
Apresentação/Introdução
A obesidade é um dos principais desafios de saúde pública do século XXI, com elevada prevalência e impacto nas condições crônicas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de iniciativas para o enfrentamento da obesidade, mas enfrenta limitações: fragmentação da assistência, barreiras de acesso e desigualdades regionais nos serviços ofertados.
Objetivos
Mapear as ações de assistência ao adulto com obesidade no SUS, identificando práticas, intervenções e políticas implementadas nos níveis de atenção, além dos principais desafios e lacunas no cuidado integral.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo, seguindo metodologia PRISMA-ScR. A estratégia de busca foi baseada na estrutura PCC (População, Conceito e Contexto) e realizada nas bases PubMed, Embase, LILACS, SciELO e Web of Science. Foram incluídos estudos nacionais sobre assistência à obesidade no SUS em adultos com IMC ≥ 30 kg/m². A triagem foi feita por dois revisores independentes, com resolução de conflitos por um terceiro. Foram incluídos 38 estudos publicados entre 1993 e 2024. Os dados foram extraídos e organizados por tipo de intervenção, nível de atenção, população-alvo, tipo de ação e adesão ao tratamento. A síntese dos resultados foi descritiva, com identificação das lacunas.
Resultados
A maioria dos estudos abordou ações na Atenção Primária à Saúde, com destaque para programas de promoção de saúde, aconselhamento nutricional e apoio psicossocial. Intervenções na Atenção Secundária incluíram reeducação alimentar e suporte psicológico. Na Terciária, prevaleceram cirurgias bariátricas e reabilitação. Identificaram-se lacunas como a baixa integração entre os níveis de atenção, pouca abordagem multiprofissional, ausência de avaliações longitudinais e limitações metodológicas nos estudos. A adesão ao tratamento foi influenciada por fatores como apoio social, barreiras econômicas e estigma da obesidade.
Conclusões/Considerações
Embora o SUS disponha de estratégias relevantes para o manejo da obesidade, persistem desafios como fragmentação da assistência, falta de integração entre os níveis de cuidado e ausência de avaliações contínuas. A atuação multidisciplinar e o fortalecimento da Atenção Primária são essenciais para melhorar os desfechos. Investimentos em estudos robustos e políticas intersetoriais são fundamentais para qualificar o cuidado à obesidade.
ANÁLISE TEMPORAL DA MORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS NAS PRIMEIRAS 24 HORAS DE VIDA, 2000-2021
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz/Pernambuco
2 Fundação Joaquim Nabuco, Diretoria de Pesquisas Sociais, Recife,
3 Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo
4 Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife
5 Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
As primeiras 24 horas de vida concentram risco elevado de mortalidade neonatal, sendo muitas dessas mortes evitáveis. A análise de sua tendência temporal subsidia decisões em saúde pública para a redução desses óbitos, especialmente em estados como Pernambuco, que apresentam altas taxas. Na literatura nacional, são raros os estudos que usam o modelo ARIMA à mortalidade infantil e seus componentes.
Objetivos
Analisar o padrão temporal e estimar as taxas de mortalidade nas primeiras 24 horas de vida e por causas evitáveis no estado de Pernambuco, entre os anos de 2000 e 2021.
Metodologia
Estudo ecológico de série temporal, em que o trimestre constituiu a unidade de análise. Foram incluídos os óbitos nas primeiras 24 horas de vida e nascidos vivos do período de 2000 a 2021 no estado. Foram utilizados dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Foi aplicada a modelagem ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) para estimar e prever as taxas de mortalidade geral e por causas evitáveis nas primeiras 24 horas de vida. As séries foram analisadas quanto à sazonalidade, tendência e estacionariedade. A validação dos modelos foi feita por testes estatísticos (Ljung-Box, Shapiro-Wilk e Jarque-Bera).
Resultados
Foram registrados 14.462 óbitos nas primeiras 24 horas de vida, sendo 76,8% evitáveis. A taxa geral de mortalidade variou de 7,8 para 3,2 por 1.000 nascidos vivos, e por causas evitáveis de 6,6 para 2,5. As séries apresentaram tendência de queda. Os testes de ADF e KPSS indicam não estacionaridade para ambas as séries. A escolha do modelo baseou-se no critério de Akaike (Akaike’s Information Criterion – AIC), que especifica o melhor (dentre os testados). As projeções para 2022 a 2026 indicam taxas de 3,3 a 2,4 para mortalidade geral e de 2,3 a 1,8 para evitáveis. Os modelos ARIMA mostraram bom desempenho e adequação para prever o comportamento das séries.
Conclusões/Considerações
A previsão indica tendência de redução nas mortes evitáveis nas primeiras 24 horas de vida em Pernambuco. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido referente aos determinantes da saúde materno infantil no estado, com desigualdades que exigem melhorias na assistência pré-natal, parto e puerpério. O uso da modelagem ARIMA mostrou-se útil para o planejamento de intervenções e formulação de políticas públicas baseadas em evidências.
PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) EM IDOSOS NO BRASIL: META-ANÁLISE DE ESTUDOS POPULACIONAIS COM ANÁLISE ESTRATIFICADA POR IDADE, REGIÃO, COR E SEXO
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Paraná
2 Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Paraná
Apresentação/Introdução
A HAS é uma das principais causas de morte entre idosos no Brasil e, por isso, seu enfrentamento está previsto no Plano de Ações para DCNT (2021–2030). Ao reunir evidências representativas populacionais com recortes por idade, sexo, raça e região, este estudo contribui para o planejamento de ações alinhadas com os princípios do SUS, especialmente a equidade.
Objetivos
Estimar a prevalência da HAS em idosos (≥ 60 anos) no Brasil, por meio de meta-análise de estudos observacionais de base populacional, com estratificação por faixa etária, sexo, raça/cor da pele e região geográfica.
Metodologia
Trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise de estudos observacionais de base populacional, com amostras representativas ao menos em nível municipal. Foram incluídos estudos transversais e de coorte com total de participantes e número de casos de hipertensão, definida por autorrelato ou pressão ≥140/90 mmHg. As buscas foram feiras em cinco bases de dados e no repositório da CAPES em março de 2024, com atualização em 2025. As meta-análises foram conduzidas utilizando modelo de efeito randômico com transformação de Freeman-Tukey. A heterogeneidade foi quantificada por I² e tau², e o risco de viés dos estudos foi avaliado com o JBI Critical Appraisal Checklist for Prevalence Studies.
Resultados
Foram incluídos 42 estudos, de 5.514 artigos triados, correspondentes a 59 estudos primários. A prevalência geral de HAS em idosos no Brasil foi 57,2% (IC95% 54,5–59,9). Observou-se aumento da prevalência com o avanço da idade, sendo mais elevada entre aqueles com 80 anos ou mais (65,9%). A prevalência foi discretamente maior entre mulheres (48,5%) em comparação aos homens (43,7%), sem diferença estatisticamente significativa (p>0,05). Indivíduos não brancos apresentaram maior prevalência (58,0%) em comparação aos brancos (48,3%). As regiões Centro-Oeste (66,8%) e Sul (64,9%) registraram os maiores índices de prevalência.
Conclusões/Considerações
A HAS acomete mais da metade da população idosa brasileira. Os resultados evidenciam diferenças por idade, raça/cor e região, reforçando a necessidade de políticas públicas que considerem essas diferenças e promovam equidade na prevenção, diagnóstico e controle da hipertensão arterial entre idosos brasileiros.
HÁBITOS DE PROTEÇÃO SOLAR DE PACIENTES ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE NA REGIÃO SUL DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Municipal de Saúde – São José dos Pinhais (PR)
Apresentação/Introdução
O câncer de pele é o câncer mais prevalente no Brasil, especialmente na região Sul, sendo prevenível por meio de fotoproteção adequada. Apesar disso, muitos indivíduos negligenciam essas práticas. Conhecer os hábitos de proteção solar da população atendida na Atenção Primária é fundamental para direcionar ações educativas e preventivas efetivas, reduzindo riscos e melhorando a qualidade de vida.
Objetivos
Analisar os hábitos de proteção solar dos pacientes de uma Unidade Básica de Saúde na região Sul do Brasil, identificando fatores sociodemográficos associados ao risco de exposição solar e à propensão à adoção de melhores práticas de fotoproteção.
Metodologia
Estudo transversal quantitativo com amostra de 374 indivíduos acima de 18 anos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde da região metropolitana de Curitiba (PR). Utilizou-se o questionário Sun Exposure Protection Index (SEPI) validado para avaliar riscos de exposição solar e disposição para mudança de comportamento, associado a um questionário sociodemográfico específico. Os dados foram coletados entre abril e julho de 2021 por um pesquisador único para garantir padronização, e analisados com estatística descritiva, correlações (Spearman, Pearson) e testes comparativos (t-Student, ANOVA), considerando significativo p<0,05.
Resultados
Observou-se alto risco relacionado à exposição solar na população estudada. Cerca de metade não utiliza protetor solar, e a maioria não adota barreiras físicas regularmente. Homens (p=0,007), indivíduos com menor escolaridade (p=0,037) e fototipos de pele mais escuros (p=0,033) tiveram maior risco com a exposição relatada. A disposição para melhorar hábitos de proteção foi menor em pessoas com menor escolaridade (p=0,019) e fototipo mais escuro (p=0,010). Em geral, maior risco esteve associado à menor propensão à mudança de hábitos (p<0,001).
Conclusões/Considerações
Concluiu-se que quanto maior o risco individual de exposição solar, menor é a disposição em adotar medidas efetivas de fotoproteção. Assim, a conscientização sobre os riscos da exposição inadvertida ao sol e a orientação de condutas saudáveis em fotoproteção são de grande importância, especialmente na Região Sul do Brasil, uma das mais acometidas pelo câncer de pele no país.
TENDÊNCIA TEMPORAL DA PREVALÊNCIA DE FATORES DE PROTEÇÃO PARA DCNT EM ADULTOS BRASILEIROS COM OBESIDADE (2009-2023)
Pôster Eletrônico
1 Departamento Medicina Preventiva, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil; Núcleo de Pesquisa em Epidemiologia das Doenças Crônicas (CRÔNICAS), Universidade Federal de São Paulo, Brasil.
2 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.
3 Universidad de Santiago de Chile (USACH), Escuela de Ciências de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, Santiago, Chile
4 Senior Research Scholar, Yale University e Coordenador e pesquisador-chefe do Centro de Estudos da Ordem Econômica, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Apresentação/Introdução
Pessoas com obesidade apresentam maior risco de desenvolver Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Fatores como atividade física, alimentação saudável, não fumar e evitar álcool promovem melhores desfechos em pessoas com obesidade. Compreender a tendência temporal desses fatores é essencial para orientar políticas públicas voltadas a essa população.
Objetivos
Identificar a tendência temporal da prevalência de fatores de proteção para DCNT em adultos brasileiros com obesidade.
Metodologia
Dados autorreferidos de peso e altura foram obtidos de 120.223 adultos com obesidade (IMC≥30 kg/m²), participantes do Vigitel. Estimou-se a prevalência, entre 2009 e 2023, dos seguintes fatores de proteção: não fumar, não consumir álcool abusivamente (≥4 doses por ocasião para mulheres e ≥5 para homens), não tomar refrigerantes, consumir o recomendado de frutas, verduras e legumes (≥5 porções em ≥5 dias/semana) e praticar atividade física no lazer (≥150 min/semana moderada ou ≥75 min vigorosa). As tendências temporais foram analisadas por regressão segmentada (Joinpoint), com cálculo da variação percentual anual (VPA).
Resultados
Entre 2009 e 2023, observou-se aumento de 5,4pp na prevalência de não fumar em pessoas com obesidade (86,8% para 92,2%, VPA: 0,50%, P<0,001). O não abuso de álcool manteve-se estável até 2013 (79,7% para 83,7%, VPA: 0,92, P=0,106), caindo 6,4pp até 2023 (77,3%, VPA: –0,61, P=0,014). O não consumo de refrigerantes cresceu 12,4pp (2012–2017) seguido de queda de 3,1pp até 2023 (85,0% para 81,9%, VPA: -0,52, P=0,02). A atividade física no lazer aumentou 8,2pp entre 2009–2015 (20,1% para 31,3%, VPA: 5,39%, P<0,001) estabilizando em 31,3% até 2023 (VPA: -0,17, P=0,718). O consumo de FLV subiu 5,4pp até 2015 (18,4% para 23,8%, VPA: 4,92, P<0,001) e caiu 6pp até 2023 (17,8%, VPA: –3,04, P<0,001).
Conclusões/Considerações
Houve tendências positivas na proporção de adultos com obesidade que não fumam, não consomem refrigerantes e são fisicamente ativos no lazer. Por outro lado, observou-se redução nas proporções de não abuso de álcool e de consumo adequado de FLV, especialmente nos últimos cinco anos. Ressalta-se a importância de políticas públicas que incentivem a adesão contínua a comportamentos protetores nessa população.
MACHINE LEARNING PARA ANÁLISE DE SOBREVIDA EM CÂNCER: UMA ANÁLISE DO REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Departamento de Epidemiologia - Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo
2 Núcleo de Sistemas Eletrônicos Embarcados - Instituto Mauá de Tecnologia
3 Fundação Oncocentro de São Paulo
4 Grupo de Epidemiologia e Estatística em Câncer - A.C. Camargo Cancer Center
5 Fundação Oncocentro de São Paulo e Departamento de Epidemiologia - Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
Câncer é um desafio global com mais de 20 milhões de casos anuais. A análise de sobrevida estima o tempo e fatores associados a maior ou menor sobrevida. Métodos estatísticos dependem de premissas sobre a distribuição dos dados, que podem limitar o seu uso. Modelos de Machine Learning Survival (MLS) oferecem alternativas mais flexíveis, especialmente com variáveis de relação não-linear.
Objetivos
Testar os principais modelos de MLS aplicados na análise de sobrevida dos cinco tipos de câncer mais frequentes no estado de São Paulo, visando identificar os modelos que apresentam melhor desempenho na predição.
Metodologia
Este estudo utilizou dados do Registro Hospitalar de Câncer do Estado de São Paulo (RHC/SP) do período de 2000 a 2024. Foi avaliado o desempenho dos algoritmos Gradient Boosting Survival (GBS), Random Survival Forest (RSF), Support Vector Machine Survival (SVM Survival), XGBoost Cox, XGBoost Accelerated Failure Time (AFT) e LightGBM. Foi analisada a predição da sobrevida de pacientes com os cinco tipos de câncer mais incidentes em São Paulo (mama, próstata, pulmão, colorretal e colo do útero). O desempenho dos modelos foi avaliado pelas métricas C-Index, C-Index IPCW e Integrated Brier Score. A importância das variáveis na predição foi analisada pela técnica SHAP.
Resultados
Foram incluídos 141.726 pacientes com câncer de mama, 111.406 com câncer de próstata, 45.719 com câncer de pulmão, 44.856 com câncer colorretal e 27.850 com câncer do colo do útero. Quanto à validade da predição dos modelos, o XGBoost AFT apresentou os maiores valores de C-Index para o câncer de mama (0,7845), de pulmão (0,7368) e colorretal (0,7618), enquanto o GBS os obteve os maiores valores para o de próstata (0,7574) e o do colo do útero (0,7726). A análise de importância das variáveis pela técnica SHAP destacou o estadiamento clínico como a variável mais importante em todos os modelos.
Conclusões/Considerações
Este estudo demonstrou que algoritmos de MLS podem ser utilizados com os dados do RHC/SP para análises de sobrevida. Os algoritmos GBS e XGB-AFT foram os que apresentaram melhor desempenho na predição de sobrevida neste conjunto de dados. A partir dos dados obtidos, pretendemos avançar na utilização destes modelos buscando formas de apoiar a construção de políticas públicas de saúde orientadas por evidências.
PERFIL CARDIOMETABÓLICO DE IDOSOS ACOMPANHADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS
Pôster Eletrônico
1 UNISINOS - IC/FUC
2 UNISINOS
Apresentação/Introdução
O envelhecimento populacional acarreta à atenção primária à saúde (APS) alta demanda especialmente no manejo de doenças crônicas como hipertensão (HAS), diabetes (DM) e obesidade. O acompanhamento na APS é importante para medidas preventivas e educacionais nessa população.
Objetivos
Analisar o perfil cardiometabólico de idosos acompanhados na APS em um município do RS.
Metodologia
Estudo transversal aprovado no CEP/UNISINOS com idosos acompanhados na APS. Os dados sociodemográficos (idade, cor autorrelatada, nível de escolaridade, situação conjugal), clínicos (peso, altura, IMC, HAS, DM, polifarmácia [≥ 5 medicamentos]) e os dados bioquímicos (glicose, colesterol total, LDL e HDL) foram registrados do prontuário eletrônico e anamnese. O IMC foi classificado em <22 kg/m² (baixo peso), 22,1–27 kg/m² (eutrófico), >27 kg/m² (excesso de peso). Foi realizado o teste de normalidade. Os dados foram apresentados em média ± DP, frequência absoluta e relativa. Utilizou-se o teste qui-quadrado e t de Student com bootstrapping (1000 reamostragens; IC95% BCa) no SPSS 21.0; p≤0,05.
Resultados
participaram do estudo 136 idosos (75,7% mulheres, n=103), com 69,9 ± 6,2 anos, brancos (74,3%, n=101), casados (41,2%, n=56), com escolaridade < 9 anos (56,6%, n=77) e excesso de peso (59,6%, n=81). 71,3% (n=97) tinham HAS, 26,5% (n=36) tinham DM e 25,7% (n=35) eram polifarmácia. Houve associação entre a presença de HAS com o IMC (ӽ2(2)=9,545, p<0.008; f=0,268), polifarmácia (ӽ 2(1)=12,149, p<0,0001; f=0,299) e DM (ӽ 2(2)=7,386, p<0,007; f=0,233). A glicemia foi maior em idosos com HAS em relação aos não HAS (122,3±36,7 x 93,5±15,0 mg/dL; p<0,005). No entanto, os valores de hemoglobina glicada, colesterol total, LDL e HDL não apresentaram diferença entre HAS e não HAS.
Conclusões/Considerações
O perfil de comorbidades e fatores de risco na amostra aponta para um envelhecimento populacional com aumento no risco de eventos adversos.
UTILIZAÇÃO DE BASES DE DADOS JUDICIAIS COMO APOIO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- VE DE DOENÇAS RELACIONADAS AO AMIANTO - DRA
Pôster Eletrônico
1 Advogada Especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista
2 FIOCRUZ/RJ/CESTEH/ENSP
Apresentação/Introdução
As DRA são subestimadas no Brasil. Fatores que causam a baixa sensibilidade dos serviços a essas doenças: a) Limitações técnicas - qualificação insuficiente dos técnicos, falta de recursos técnicos e insumos; b) “práticas de invisibilidade social das doenças profissionais sustentadas pelas entidades médico administrativas.”1 Agregar dados de bases de dados do judiciário aumentará a sensibilidade.
Objetivos
Apresentar e justificar a utilização das fontes de informação do judiciário brasileiro como uma fonte de dados útil e complementar às demais, valorizando historicamente essa aplicação delas.
Metodologia
Langmuir (1963) descreveu a vigilância epidemiológica: “observação contínua da distribuição e tendência da incidência da doença...”. SCHWARTZ (1987) estimou 200.000 ações por DRA nos EUA em 2010. O judiciário também deve compor a base das informações sobre DRA. A consulta aos processos é pública, conforme o princípio da publicidade dos atos processuais previsto no artigo 93, inciso IX, da CF. Salvo nos casos de segredo de justiça, qualquer pessoa pode acessar as informações processuais. Os dados estão em https://portal.trt3.jus.br/internet e https://www.tjmg.jus.br/ Andrade (2015), integrando várias BD aumentou o número de canceres relacionados ao trabalho em MG de 73 para 1.148.
Resultados
Os dados estão em PROCESSOS que são localizados em BUSCAS nas páginas da WEB indicadas, segundo várias opções. No site do TRT-MG no menu JURISPRUDENCIA, seguido da opção pela PESQUISA TEXTUAL, usamos o termo “mesotelioma” encontramos como resultados 73 acórdãos. Estão disponíveis filtros e recursos de impressão, etc. O SINAN registra num intervalo de 19 anos 115 casos de cânceres relacionados ao trabalho, e a SES-MG comunicou um total de 45 mesoteliomas entre 2013 e 2023. Ressalvamos que nem sempre há correspondência entre o termo de busca e o diagnóstico descrito no acórdão. Essas bases aumentam a sensibilidade para encontrar DRAs. Landrigan).
Conclusões/Considerações
Outras ferramentas como o Jusbrasil®, e outras, podem ajudar nessa construção. Exigem
revisão cuidadosa para evitar falhas e repetições. Em 2010, STELLA reuniu em 3 tribunais de
SP e 3 tribunais nacionais um número inicial de 1220 processos sobre DRA. A VE deve
incorporar todas as possíveis fontes para construir um painel completo sobre as doenças de
interesse. Interessa aos trabalhadores que lutem também na trincheira jurídica por seus
direitos.
IMPACTO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL NA SAÚDE CARDIOVASCULAR EM PAÍSES DE BAIXA E MÉDIA RENDA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Pôster Eletrônico
1 Cidacs-Fiocruz/Bahia
2 London School of Hygiene and Tropical Medicine. England
3 Federal University of Minas Gerais. Brazil
4 Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia
5 University of Glasgow
6 Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia
Apresentação/Introdução
As políticas e programas de proteção social objetivam o alívio da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Evidências sugerem seu potencial impacto na redução de desfechos em saúde, incluindo seu papel na redução de doenças cardiovasculares e seus fatores associados, em particular, em países de baixa e média renda, onde intervenções de prevenção primária podem alcançar maior efetividade.
Objetivos
Sintetizar as evidências disponíveis sobre os efeitos das políticas e programas de proteção social nos comportamentos em saúde, fatores de risco e desfechos clínicos relacionados às DCV em países de baixa e média renda.
Metodologia
Seguindo um protocolo registrado (PROSPERO: CRD42019145982), realizamos buscas nas bases MEDLINE, Embase, Scopus, LILACS, Web of Science e Google Scholar por estudos que investigassem a associação entre proteção social e comportamentos em saúde relacionados a doenças cardiovasculares, fatores de risco cardiometabólicos, morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares até 2025. Foram incluídos estudos realizados em quaisquer países de baixa e média renda que avaliassem quantitativamente o efeito da proteção social em desfechos de saúde selecionados em adultos. Posteriormente, conduzimos uma síntese narrativa sem metanálise, após a exclusão de estudos de baixa qualidade.
Resultados
39 estudos de 20 programas de proteção social (transferências de alimentos/dinheiro) em 17 países foram analisados. Entre 25 estudos de alta/moderada qualidade, a proteção social associou-se a: melhor dieta (7/8), maior consumo alimentar (9/10), mais atividade física (2/2), menor prevalência de hipertensão (2/3) e diabetes tipo 2 (1/1). Contudo, programas condicionais de dinheiro e incondicionais de alimentos levaram a ganho de peso (3/3) e maior IMC (6/8). Redução no uso de álcool/tabaco foi observada (4/5). Três estudos de baixa qualidade não mostraram associação clara com mortalidade por DCV, dislipidemia ou síndrome metabólica.
Conclusões/Considerações
As políticas e programas de proteção social demonstraram impactos tanto benéficos quanto adversos sobre fatores de risco cardiovascular, porém são necessárias mais evidências sobre seus efeitos na morbidade e mortalidade para otimizar o direcionamento dessas intervenções em países de baixa e média renda.
A INTERFERÊNCIA DA DOR NAS ATIVIDADES DIÁRIAS COMO MEDIADORA DA RELAÇÃO ENTRE DOR INTENSA E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM DOR CRÔNICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Pôster Eletrônico
1 UERJ
2 Fiocruz
Apresentação/Introdução
Introdução:
A dor crônica e a depressão estão entre as principais causas de anos vividos com incapacidade no mundo. Sua coexistência frequente na atenção primária sugere uma relação complexa e bidirecional. Este estudo investiga se a interferência funcional da dor medeia a associação entre dor intensa e sintomas depressivos.
Objetivos
Objetivo:
Avaliar a prevalência de depressão e sua associação com variáveis clínicas e sociodemográficas em pacientes com dor crônica na atenção primária. Investigar se a interferência da dor medeia a relação entre dor intensa e depressão.
Metodologia
Método:
Estudo observacional transversal com 2.081 adultos encaminhados da atenção primária ao centro terciário de dor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entre 2022 e 2024. A depressão foi avaliada pela subescala HADS-D (ponto de corte ≥11). A intensidade e a interferência da dor foram mensuradas pelo Inventário Breve de Dor (BPI). Utilizou-se regressão de Poisson com variância robusta para estimar razões de prevalência (RP). Uma análise de mediação foi realizada para investigar se a interferência severa da dor nas atividades diárias medeia a associação entre dor intensa e sintomas depressivos.
Resultados
Resultados:
Sintomas depressivos foram identificados em 42,7% dos participantes. Depressão foi mais prevalente entre aqueles com dor intensa (61% vs. 43%) e interferência funcional severa (81% vs. 42%). Homens (RP = 0,73) e idosos (RP = 0,73) apresentaram menor prevalência. Dor generalizada (RP = 1,29) e dor intensa (RP = 1,39) associaram-se à depressão. Após ajuste, a dor perdeu significância e a interferência funcional tornou-se o preditor mais forte (RP = 2,60). A mediação confirmou efeito indireto significativo (OR = 1,56), sem efeito direto (OR = 1,12), e efeito total significativo (OR = 1,75)..
Conclusões/Considerações
Conclusão:
A interferência funcional da dor mostrou-se um mediador significativo entre dor intensa e sintomas depressivos, sugerindo que o impacto da dor nas atividades diárias é um fator central na saúde mental de pacientes com dor crônica. Os achados destacam a importância de intervenções que considerem a funcionalidade no cuidado à dor na atenção primária.
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR PNEUMONIA E GRIPE NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA DE 2014 A 2024.
Pôster Eletrônico
1 UNISANTOS
Apresentação/Introdução
Segundo o Ministério da Saúde, em 2022, a pneumonia e a gripe influenza têm sido responsáveis por muitas hospitalizações e mortes no Brasil, principalmente em grupos mais vulneráveis. No período da pandemia de COVID-19, a situação se deteriorou gravemente, com um aumento drástico da mortalidade por complicações respiratórias e sobrecarga do sistema de saúde.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por pneumonia e gripe na região metropolitana da baixada santista (RMBS) de 2014 a 2024.
Metodologia
Estudo transversal, de dados secundários de domínio público. As informações sobre mortalidade por pneumonia e gripe, ocorridos entre 2014 e 2024, por local de moradia, sexo e faixa etária na RMBS foram obtidos junto ao Sistema de Informações de Mortalidade do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram calculadas as taxas de mortalidade por município e para a região. Foram realizadas análises descritivas e de tendência temporal por município de residência e para a RMBS.
Resultados
Observou-se que o município com maior prevalência de óbitos foi Santos, seguido por São Vicente e Praia Grande, que juntos concentram 69,2% do total de óbitos da RMBS (p<0,05). Enquanto, os municípios de menor prevalência foram Bertioga, Itanhaém e Mongaguá (p<0,05). Observou-se uma prevalência de óbitos de pessoas do sexo feminino (52,3%), e com 60 anos ou mais (p<0,05). A análise de tendencia demonstra um aumento importantes em 2020, ano da Pandemia do COVID19 (p<0,05) e em 2022 (p<0,05).
Conclusões/Considerações
Este estudo evidencia a preocupação da gravidade da ocorrência de doenças respiratórias, como a gripe e pneumonia na RMBS, e a necessidade de políticas públicas mais assertivas de incentivo à vacinação adequada destas doenças e cuidados voltados aos municípios e públicos mais afetados.
ESTUDO DESCRITIVO TRANSVERSAL DA AVALIAÇÃO COGNITIVA DE CRIANÇAS DO AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, 2022-2023.
Pôster Eletrônico
1 INCA
2 PUC
3 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O câncer na infância pode impactar o desenvolvimento cognitivo e emocional. O desenvolvimento saudável é importante para que o indivíduo atinja seu potencial máximo em todas as áreas da vida. No Brasil, estima-se cerca de 7.930 casos novos de câncer pediátricos para 2023-2025. A avaliação cognitiva possibilita identificar o comprometimento cognitivo e orientar a reabilitação.
Objetivos
Investigar o desempenho cognitivo de crianças atendidas em um ambulatório de oncologia pediátrica do Sistema Único de Saúde, durante a investigação diagnóstica ou início do tratamento oncológico.
Metodologia
Foi realizado estudo descritivo transversal com 43 crianças de 6 a 11 anos que estavam em investigação diagnóstica num hospital público de referência, com forte suspeita clínica, ou início de tratamento para câncer. Utilizou-se uma bateria de testes neuropsicológicos para avaliar funções executivas, memória e atenção, além de questionários referente a dados sociodemográficos, de desenvolvimento e clínicos. As variáveis estudadas foram: idade, sexo, raça/cor, tipo de parto, peso ao nascer, idade que andou e disse as primeiras palavras, mudança de comportamento, frequentar a escola e tipo de escola. A coleta de dados ocorreu entre setembro de 2022 e outubro de 2023.
Resultados
A idade média foi 9,2 anos, 90,8% estavam em investigação diagnóstica, 58,1% sexo feminino, 76,7% negras, 55,8% parto cesárea, 71,8% peso adequado ao nascer, 58,1% andaram após 12 meses e 48,8% pronunciaram as primeiras palavras antes dos 12 meses; 74% frequentavam a escola e 72% estudavam em escola pública. A mudança comportamental foi reportada em 64% do grupo, sendo a ansiedade mais prevalente. O teste de inteligência ficou na média inferior no grupo normativo (média = 83,0, DP=14,7) e nos demais testes o desempenho, em geral, abaixo da média normativa, com dificuldades significativas em memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva.
Conclusões/Considerações
A avaliação cognitiva indicou, no geral, escores médios inferiores às normas de referências. Segundo a literatura, o tipo de escola e idade em que começou andar pode influenciar o desempenho cognitivo. Fatores relacionados ao adoecimento também influenciam negativamente a cognição. Ressalta-se a importância de avaliações adaptadas às condições do ambiente hospitalar com desenvolvimento de instrumentos específicos para esta população.
INTERNAÇÕES POR AGRESSÕES NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DO BRASIL, 2000–2023
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
As internações por agressões representam uma das principais causas externas atendidas no sistema público de saúde do Brasil. Com grande impacto sobre a morbidade, essas ocorrências refletem a magnitude da violência interpessoal no padrão epidemiológico nacional.
Objetivos
Caracterizar as internações por agressões ocorridas entre 2000 a 2023 no sistema público de saúde do Brasil.
Metodologia
Estudo transversal, descritivo, com dados de internações por agressões ocorridas no SUS e registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2000 e 2023. Para a captação dos dados foi utilizado o pacote microdatasus do software R.
Resultados
Entre 2000 a 2023 foram registradas no SIH 1.153.999 internações por agressões. Os homens obtiveram as maiores estimativas (82,74%), com diferenças relevantes para todas as variáveis. Quanto à faixa etária, observou-se maior frequência em homens (55,5%) e mulheres (41,6%) entre 20-39 anos. As internações foram mais frequentes na Bahia (11,7% de homens e 16,2% de mulheres) e em São Paulo (20,4% de homens e 22,7% de mulheres), em cidades fora das capitais brasileiras (68,5% de homens e 71,5% de mulheres). A alta foi o desfecho mais prevalente (94,8% de homens e 96,4% de mulheres).
Conclusões/Considerações
A elevada incidência de internações por agressões chama a atenção para a magnitude da violência interpessoal e de gênero no Brasil, principalmente entre adultos jovens. Nesse sentido, é necessário investir em estratégias integradas de prevenção, nas quais educação, suporte social, fortalecimento das redes de proteção e combate aos fatores de risco associados à violência interpessoal são requisitos fundamentais para a modificação deste cenário.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 2 DE ABRIL: UTILIZANDO A ESTIMATIVA RÁPIDA PARTICIPATIVA PARA COLETA DE DADOS
Pôster Eletrônico
1 UNIR
Apresentação/Introdução
Segundo o IBGE (2022), Ji-Paraná-RO tem 124.333 habitantes e população majoritariamente parda. A pesquisa ocorreu na UBS 2 de Abril, que atende 16.422 pessoas. Na ESF estudada foram encontrados 4.239 cadastrados, dos quais 2.651 são pardos. Em 2023, das 8 mortes por DCNT acompanhadas pela equipe, 7 foram de pessoas pretas ou pardas.
Objetivos
• Identificar os principais problemas dos serviços de saúde;
• traçar o perfil sociodemográfico e epidemiológico da população cadastrada na área da ESF da UBS 2 de Abril.
Metodologia
Para a construção do DLS, utilizou-se o método de Estimativa Rápida, que permite identificar as condições de vida e a distribuição da população no município, evidenciando problemas e seus determinantes sociais, econômicos e ambientais. Em parceria com a equipe ESF, foram realizadas oficinas participativas utilizando a metodologia da Árvore do Problema e a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para priorizar os principais desafios enfrentados.
Resultados
De acordo com o sistema eSUS, a UBS 2 de Abril atende 16.422 pessoas. A ESF estudada tem 4.239 cadastros vinculados, dos quais 2.651 são pardos, 1.161 brancos, 235 amarelos, 189 pretos e 3 indígenas. Dados epidemiológicos de 2023 apontam que as maiores causas de morte entre os cadastrados estão ligadas às doenças circulatórias, com oito óbitos, sendo sete pardos ou pretos e um branco. O problema central é a crescente demanda por cuidados em DCNT e a dificuldade no engajamento dos pacientes no autocuidado.
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou a prevalência das DCNT como principal desafio na UBS 2 de Abril, destacando a alta demanda por cuidados e a dificuldade no engajamento dos pacientes no autocuidado. Estratégias focadas na promoção da saúde e na educação contínua são essenciais para melhorar a adesão e reduzir impactos negativos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população atendida.
IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR CÂNCER NO SUS: ANÁLISE DOS OITO TIPOS MAIS INCIDENTES NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP)
2 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP)
Apresentação/Introdução
A pandemia de Covid-19, responsável por mais de 6 milhões de óbitos no mundo entre 2020 e 2022, afetou amplamente os serviços de saúde, resultando em atrasos em diagnósticos e tratamentos para câncer (Bray et al., 2024).
Por se tratar de um país altamente heterogêneo e com particularidades, é de extrema importância entender esses impactos em todo o Brasil, bem como a recuperação dos serviços.
Objetivos
Analisar a variação das internações hospitalares por câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de pandemia de Covid-19, considerando os oito tipos de câncer mais incidentes no Brasil e todos os estados brasileiros.
Metodologia
Foram analisadas internações hospitalares por câncer a partir do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referentes aos oito tipos de câncer mais incidentes no Brasil: mama feminina (CID-10 C50); próstata (C61); cólon e reto (C18-C21); traqueia, brônquio e pulmão (C33-C34); estômago (C16); colo do útero (C53); tireoide (C73) e cavidade oral (C00-C10) (INCA, 2022).
As taxas de internação por 100 mil habitantes foram calculadas para cada tipo de câncer e estado. Os impactos da pandemia foram estimados a partir da variação percentual das taxas em 2020, 2021, 2022 e 2023 em relação a 2019, com cálculo da variação média, intervalos de confiança de 95% e desvio padrão.
Resultados
Em 2020, todos os tipos de câncer analisados apresentaram redução nas taxas de internação, com destaque para câncer de tireoide, com variação média de -19,1% (IC95% -28,5 a -9,6), e próstata, com -14,5% (IC95% -18,4 a -10,6). Em 2021, as variações ainda são negativas, mas com menor magnitude, com destaque para câncer de próstata (-10,5%; IC95% -15,2 a 5,7). Em 2022 e 2023, todos os tipos apresentam variação positiva.
As comparações estaduais em relação à 2019 evidenciam disparidades nas internações por câncer de cólon e reto, com Roraima apresentando a maior redução (-36,4% em 2020 e -28,4% em 2021) e Goiás o maior aumento (27,3% em 2020 e 43,4% em 2021) de internações.
Conclusões/Considerações
Os achados apontam os impactos da pandemia na atenção hospitalar ao câncer no SUS, com as variações por tipo de câncer e estado evidenciando disparidades no acesso e resiliência dos serviços, sobretudo em 2020 e 2021, e reforçando a vulnerabilidade da atenção às doenças crônicas em contextos de crise.
Compreender esses impactos pode subsidiar políticas públicas para fortalecimento da atenção oncológica e resposta a futuras crises sanitárias.
CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO SHIP-BRAZIL COM DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA
Pôster Eletrônico
1 FURB
Apresentação/Introdução
A doença hepática alcoólica (DHA), causada pelo consumo excessivo de álcool, é um desafio crescente à saúde pública. Este estudo visa caracterizar o perfil de participantes com DHA no SHIP-Brazil, contribuindo para a compreensão dessa condição e para ações em saúde pública.
Objetivos
caracterizar o perfil sociodemográfico e estilo de vida dos participantes com doença hepática alcoólica do estudo SHIP-Brazil.
Metodologia
Estudo epidemiológico transversal, de base populacional, realizado com dados do SHIP-Brazil (2014–2018), com participantes de 20 a 59 anos. A DHA foi definida por sinais ultrassonográficos e autorrelato de hepatopatias associados ao consumo excessivo de álcool. Foram analisadas variáveis sociodemográficas e de estilo de vida. A coleta incluiu questionários e exames realizados por equipe treinada. As associações foram testadas pelo teste de Qui-quadrado de Pearson (p ≤ 0,05), com análise no Stata 11.2. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FURB (CAAE nº 82786424.1.0000.5370).
Resultados
Dos 1.258 participantes de 20 a 59 anos, a prevalência de DHA foi de 2,3% (n=25), predominando em homens (4,2%), fumantes atuais (7,3%) e indivíduos que residem sozinhos (13,2%). A maioria dos casos estava na classe econômica B e possuía escolaridade de nível médio. Houve associação estatisticamente significativa entre DHA e sexo, residência e tabagismo (p ≤ 0,05). A média de consumo de álcool foi maior entre os homens e entre os mais jovens. A presença de esteatose hepática foi detectada em 24,6% dos participantes ao exame de ultrassom.
Conclusões/Considerações
A DHA foi mais prevalente em homens, fumantes e indivíduos que vivem sozinhos. Os achados reforçam a necessidade de estratégias de prevenção e rastreamento precoce, bem como políticas públicas voltadas à redução do consumo de álcool e promoção da saúde hepática.
ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: ESTUDO QUALITATIVO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Minas Gerais
Apresentação/Introdução
O adequado manejo às doenças crônicas não transmissíveis exige mudanças de estilo de vida, acompanhamento em saúde e uso de medicamentos, contudo, a vulnerabilidade da População em Situação de Rua (PSR) é condicionada e interfere no acesso a esses cuidados. Neste contexto, é essencial analisar o acesso aos dispositivos públicos de saúde e alimentação para entender barreiras e garantir equidade.
Objetivos
Compreender o acesso aos serviços de saúde, medicações necessárias e à alimentação pela população em situação de rua com doenças crônicas não transmissíveis.
Metodologia
Estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado em dois Centros de Referência da População de Rua (Centro Pop) e em dois Restaurantes Populares de Belo Horizonte, entre setembro e outubro de 2024. Foram entrevistados 16 usuários, maiores de 18 anos, em situação de rua há pelo menos um mês, com diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial sistêmica autorrelatadas e/ou excesso de peso aferido. Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado acerca das condições crônicas de saúde e a trajetória de vida na rua. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa ocorreu com anuência do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais.
Resultados
Os entrevistados foram em maioria homens (93,8%), pretos (50%), com idade média de 54 anos. Em relação aos Centro Pop e albergues, houve queixas quanto ao acolhimento e à estrutura. Para os Restaurantes Populares, as avaliações negativas foram mínimas. O não funcionamento aos finais de semana foi apresentado como obstáculo. Acerca dos serviços de saúde, foi destacada uma boa utilização da Atenção Primária, porém há dificuldade no acesso a médicos especialistas, a serviços de emergência e a realização de exames. A obtenção dos medicamentos padronizados é facilitada, mas há dificuldades para obter remédios não padronizados e para o armazenamento de itens como a insulina.
Conclusões/Considerações
Apesar do acesso à Atenção Primária e alimentação básica nos Restaurantes Populares, a continuidade do cuidado às doenças crônicas na PSR enfrenta dificuldades. Barreiras na atenção especializada e na obtenção de recursos, como exames e medicamentos, evidenciam um sistema que ignora as especificidades dessa população. É urgente que políticas públicas garantam cuidado digno, elaborando estratégias para alcance efetivo da PSR com doenças crônicas.
INDICADORES DE ACESSO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER NO ESTADO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP
Apresentação/Introdução
Os dados do Registro Hospitalar de Câncer do Estado de São Paulo (RHC/SP) podem ser utilizados para avaliar os tempos até o diagnóstico e início do tratamento oncológico, indicadores cruciais da qualidade assistencial. Esses dados também permitem analisar a organização dos hospitais diante da alta demanda causada pelo aumento da incidência de câncer e/ou pelo fluxo migratório dos pacientes.
Objetivos
Analisar os indicadores de acesso ao diagnóstico e tratamento dos pacientes oncológicos oriundos de hospitais que integram o RHC/SP, com base nas metas de 30 e 60 dias, respectivamente, estabelecidas por legislação federal.
Metodologia
Os dados analíticos de câncer diagnosticados entre 2000 e 2021 foram extraídos do banco de dados do RHC/SP da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), consolidado em março de 2025. Foram analisados os indicadores de acesso, que inclui o tempo entre a 1ª consulta e o diagnóstico (em dias) e entre o diagnóstico e início do tratamento. As análises distinguiram duas situações do paciente na chegada ao hospital: sem diagnóstico prévio (situação 1) e com diagnóstico prévio (situação 2). Foram considerados fatores como sexo e os tipos de tumores mais prevalentes, sendo descritas as frequências absolutas e relativas, bem como medidas de tendência central, incluindo a mediana.
Resultados
A mediana entre a 1ª consulta e o diagnóstico atingiu a meta legal em todos os períodos. Já entre diagnóstico e tratamento, para os cinco tumores mais comuns em homens, a situação 2 teve intervalos medianos maiores que a situação 1. Em 2018-2019, para câncer de próstata, a mediana foi de 157 dias na situação 2. No câncer colorretal, a situação 1 teve a menor mediana (<10 dias), e a situação 2 variou de 40 a 86 dias. Entre mulheres, a situação 2 excedeu a meta de 60 dias para todos os tumores a partir de 2014, tendo um padrão semelhante aos homens para o câncer colorretal, com maiores oscilações na situação 1 para câncer do colo do útero.
Conclusões/Considerações
A meta para o tempo entre a primeira consulta e o diagnóstico foi atingida em todos os períodos analisados. Contudo, os intervalos entre diagnóstico e início do tratamento variaram significativamente entre pacientes com e sem diagnóstico prévio no hospital onde o caso foi registrado, conforme o tipo de câncer e período analisado. Longos intervalos dos indicadores de acesso podem estar associados a um pior prognóstico da doença.
RELAÇÃO ENTRE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA E INDICADORES ECONÔMICOS
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Apresentação/Introdução
Para avaliar a efetividade e a qualidade do desempenho da Atenção Primária à Saúde, um dos principais indicadores utilizados são as Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), consideradas internações evitáveis decorrentes de problemas de saúde que poderiam ser resolvidos no nível de atenção primário, evitando complicações e necessidade de atendimento em níveis mais complexos.
Objetivos
Analisar a relação entre os coeficientes de ICSAP associadas às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e o Produto Interno Bruto (PIB) municipal e per capita no estado de São Paulo.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, realizado no estado de São Paulo, considerando as ICSAP relacionadas às DCNT, no período de 2016 a 2022. Foram utilizados dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponíveis na página oficial do DATASUS. Os dados socioeconômicos de PIB per capita e municipal foram coletados nas páginas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Foram realizados cálculos do Índice de Moran bivariado para identificar as autocorrelações espaciais das variáveis de interesse. Adotou-se a divisão do Estado de São Paulo em 16 Regiões Administrativas.
Resultados
No período analisado, foram registradas 16.705.572 internações no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo, dessas 1.273.838 foram ocasionas pelas ICSAP, representando uma média de 7,6% das internações registradas. Verificou-se uma correlação espacial positiva em relação ao coeficiente ICSAP relacionada à DCNT e o PIB per capita nos anos de 2016, 2021 e 2022, ou seja, municípios com maiores coeficientes de ICSAP relacionada à DCNT possuíam maiores PIB per capita. Também se verificou correlação espacial positiva entre ICSAP relacionada à DCNT e PIB municipal em 2022.
Conclusões/Considerações
O estudo revelou a persistência das DCNT nas ICSAP no período de 2016 a 2022 e correlação espacial positiva entre ICSAP e PIB municipal e PIB per capita. Destaca-se a importância de políticas públicas direcionadas à prevenção e manejo das DCNT, reforçando o papel da APS na redução das ICSAP e na promoção da saúde frente às desigualdades socioeconômicas.
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DO TABAGISMO NO BRASIL E NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS
Pôster Eletrônico
1 SMS-RIO
2 EEAAC/UFF
3 INI/FIOCRUZ
4 HESFA/UFRJ
Apresentação/Introdução
O tabagismo, enquanto doença crônica e fator de risco evitável para agravos não transmissíveis, contribui para mortes prematuras e iniquidades sociais. Seu enfrentamento exige políticas públicas articuladas e permanentes. Este estudo analisa estratégias de controle do tabaco no Brasil e no município do Rio de Janeiro, com ênfase na Atenção Primária à Saúde e na promoção da saúde.
Objetivos
Descrever as estratégias nacionais de controle do tabagismo; apresentar as ações implementadas no município do Rio de Janeiro; e analisar seus impactos na prevalência e na promoção da saúde no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).
Metodologia
Estudo qualitativo, de natureza descritiva, baseado na análise documental das políticas públicas de controle do tabagismo, dados secundários, de domínio público, do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (2006 a 2023) e do Sistema de Informações em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Foram analisados documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Instituto Nacional de Câncer (INCA) e legislações nacionais e municipais. O recorte geográfico compreendeu o Brasil e o município do Rio de Janeiro. A pesquisa seguiu os princípios éticos aplicáveis à análise de fontes públicas.
Resultados
O estudo evidenciou avanços nas políticas públicas de controle do tabagismo, com redução da prevalência de fumantes no Brasil (de 15,7% em 2006 para 9,3% em 2023) e no município do Rio de Janeiro (de 15% para 10,1% no mesmo período). Destacam-se medidas legislativas municipais, como a criação de ambientes livres de fumo, campanhas voltadas à prevenção da iniciação ao consumo, regulamentações e o fortalecimento do cuidado, por meio da oferta de tratamento em 97% das unidades de saúde em 2023. Essas ações articulam-se a estratégias federais, como a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e as diretrizes da OMS, que orientam e reforçam a política nacional de enfrentamento ao tabagismo.
Conclusões/Considerações
As políticas implementadas contribuíram para a redução do tabagismo e o fortalecimento da promoção da saúde no Brasil e município do Rio de Janeiro, sobretudo na APS. Contudo, as estratégias da indústria do tabaco para perpetuar o consumo e as lacunas na tributação exigem regulação permanente, articulação intersetorial e vigilância constante. A experiência do Rio oferece subsídios relevantes para a qualificação de ações em outros territórios.
CARACTERÍTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DA MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM REGIÕES DO BRASIL NO PERÍODO DE 2019 A 2023
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Apresentação/Introdução
Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) configuram-se como os principais responsáveis pela carga global de morbimortalidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as DCNT são responsáveis por aproximadamente 70% de todos os óbitos no mundo, dos quais 41,8% ocorrem de forma prematura, entre 30 e 69 anos de idade.
Objetivos
Objetivo: Descrever as características sociodemográficas da mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) por regiões do Brasil no período de 2019 a 2024.
Metodologia
Metodologia: Estudo descritivo longitudinal, retrospectivo, com dados do Painel de Monitoramento da Mortalidade Prematura (30 a 69 anos) por DCNT, disponível na base de dados do Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS), referente ao período de 2019 a 2023. As variáveis sociodemográficas analisadas incluíram idade, sexo, raça/cor e região de ocorrência dos óbitos.
Resultados
Resultados: No período analisado, o ano de 2022 registrou o maior número de óbitos prematuros por DCNT, com 323.003 mortes (305,7 /100 mil habitantes). A região Sudeste concentrou a maior parte desses óbitos (149.773), representando 46,4%. Em seguida, destacaram-se as regiões Nordeste (24,1%), Sul (16,4%), Centro-Oeste (7,2%) e Norte (5,9%). Quanto à mortalidade por sexo, observou-se uma maior ocorrência de óbitos entre os homens (n = 181.494) correspondendo a 56,2% dos óbitos. A raça mais prevalente foi a branca (n= 151.402), com maior proporção nas regiões Sudeste (53,03%) e Sul (28,05%) e a raça parda (n=130.099), predominantes nas regiões Nordeste (38,8%) e Sudeste (36,5%).
Conclusões/Considerações
Conclusão: A mortalidade prematura por DCNT segue como um grave problema de saúde pública no Brasil, com maior concentração de óbitos no Sudeste e predominância entre homens, brancos e pardos, variando por região. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas regionais e intersetoriais que enfrentem as desigualdades e priorizem a prevenção e o controle das DCNT.
TENDÊNCIAS DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA RELACIONADAS ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Apresentação/Introdução
As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) são consideradas internações evitáveis decorrentes de problemas de saúde que poderiam ser resolvidos na Atenção Primária à Saúde (APS). Entre as ICSAP, destacam-se as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que representam um desafio significativo para o sistema de saúde.
Objetivos
Analisar a tendência das ICSAP relacionadas às DCNT no Estado de São Paulo.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico realizado no estado de São Paulo-SP, considerando as ICSAP relacionadas às DCNT no período de 2016 a 2022. Adotou-se a divisão do Estado de São Paulo em 16 Regiões Administrativas (RA). As variáveis referentes ao sexo, idade, causa da internação e munícipio de residência dos pacientes foram extraídas das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) e obtidas por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponibilizados pelo DATASUS em formato de microdados, sendo exportadas para o software Excel. Foram realizadas análises descritivas e espaciais, incluindo o cálculo do Índice de Moran para identificar clusters de alta e baixa incidência de ICSAP.
Resultados
Identificou-se autocorrelação espacial leve entre as taxas de ICSAP relacionadas às DCNT, ou seja, uma correlação direta por serem valores positivos e leve e mais próximos a zero, indicando que a distribuição espacial das internações não é aleatória. Verificou-se predominância de clusters alto-alto nas RAs Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Itapeva, ou seja, municípios e seus circunvizinhos que apresentam coeficientes elevados de ICSAP relacionadas a DCNT. Houve predominância de clusters baixo-baixo nas RAs de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos e Franca, indicando uma tendência de coeficientes reduzidos de ICSAP relacionadas às DCNT nos municípios e seus municípios vizinhos.
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou autocorrelação espacial leve nas taxas de ICSAP por DCNT entre 2016 e 2022, indicando distribuição não aleatória. As formações de clusters revelaram desigualdades regionais e reforçam a necessidade de ações específicas de fortalecimento da Atenção Primária.
TENDÊNCIA DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS COM DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE BELO HORIZONTE: 2017-2023
Pôster Eletrônico
1 UFMG
2 UFES
Apresentação/Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crescente, com estimativas de aumento de 46% dos diagnósticos no mundo até 2045. Por ser uma doença complexa, de avanço silencioso e repercussão sistêmica, pode levar a resultados negativos para a saúde. Por isso, um adequado acompanhamento no serviço de saúde é necessário para evitar os agravos de saúde nesta população.
Objetivos
Investigar a tendência dos atendimentos de usuários com Diabetes Mellitus na APS, em Belo Horizonte.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico de série temporal. Foram analisados os dados de registros de atendimentos realizados por enfermeiros e médicos, em adultos diagnosticados com DM, na APS em Belo Horizonte, no período de 2017 a 2023. Extraiu-se os dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. As taxas dos atendimentos foram calculadas para cada 1.000 pessoas com DM, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e estimativas anuais, prevalências anuais do VIGITEL e dados da Agência Nacional de Saúde, via DataSUS. A regressão foi realizada por meio do programa JointPoint - desenvolvido pelo Nacional Cancer Institute.
Resultados
As consultas de enfermagem apresentaram como tendências: aumento para os atendimentos gerais e demanda espontânea (p<0,001) durante todo o período; queda nas consultas para cuidado continuado de 2017 a jul/21 e aumento até set/22 (p=0,01); aumento nos exames de pé diabético entre jun/17 a set/17 (p=0,007), queda entre set/17 a jun/21 (p-0,02) e aumento entre jun/21 a dez/23 (p=0,04). As consultas médicas apresentaram como tendências: aumento para as demandas espontâneas (p<0,001) durante todo o período; queda nas consultas para cuidado continuado entre jan/19 a jan/22 (p=0,03) e aumento entre jan/22 a abr/22 (p=0,03); queda para os exames de pé diabético entre set/17 a dez/23 (p<0,001).
Conclusões/Considerações
Os atendimentos de demanda espontânea, realizados por enfermeiros e médicos, apresentaram aumento durante todo o período analisado. Destaca-se que houve queda nos atendimentos para cuidado continuado nos primeiros quatro anos, para enfermeiros, e nos primeiros cinco anos, para médicos. Os exames para pé diabético, feitos por médicos, também apresentaram queda entre set/17 a dez/23. Este contexto nos mostra um foco no cuidado de caráter curativo.
ÓBITOS POR DESASTRES AMBIENTAIS E ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS, BRASIL, 2014-2022
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
Os eventos climáticos, aliados às formas como a população ocupa e utiliza o espaço, têm sido historicamente fatores determinantes para a ocorrência de desastres naturais. Esses eventos resultam em danos materiais, destruição de ecossistemas, impactos negativos no bem-estar das pessoas afetadas e, em muitos casos, culminam no desfecho mais grave para a saúde humana: o óbito.
Objetivos
Descrever o perfil sociodemográfico dos óbitos por desastres ambientais e estimar os Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP), Brasil, 2014-2022.
Metodologia
Estudo descritivo baseado na análise de microdados disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade. Foram considerados os óbitos cuja causa básica foi classificada nos códigos X30 a X39 da Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão (CID-10). O perfil das vítimas foi caracterizado segundo as variáveis sociodemográficas e macrorregião brasileira. Para estima APVP, foi considerada a Expectativa de Vida (EV) no Brasil em 2023 (76,4 anos). Os dados populacionais e de EV utilizados foram obtidos por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática. Variáveis com informações ausentes foram excluídas da análise. Análise dos dados foram realizados no software R, versão 4.5.
Resultados
Durante o período analisado, foram registrados 1.990 óbitos relacionados a desastres ambientais. A faixa etária com maior proporção de ocorrências foi a de 30 a 39 anos (20,4%), seguida pela faixa etária de até 19 anos (18,4%). A maioria das vítimas era do sexo masculino (73,3%) e de raça/cor negra (pretos e pardos), correspondendo a 60,1% dos casos. Quanto à escolaridade, 43,3% apresentavam oito anos ou mais de estudos. Em relação à distribuição geográfica, a macrorregião Sudeste concentrou a maior parte dos óbitos (51,6%), seguida pela macrorregião Nordeste (17,9%). Considerando 1.990 óbitos por desastre ambientais, foram registrados 41.460 APVP.
Conclusões/Considerações
Foram registrados 1.990 óbitos, com maior concentração entre indivíduos do sexo masculino, com idade entre 30 e 39 anos, escolaridade igual ou superior a 8 anos de estudo, de raça/cor negra (pretos e pardos) e residentes na macrorregião Sudeste do Brasil. APVP foi de 41.460.
FATORES ASSOCIADOS AO USO DA TERAPIA SISTÊMICA NEOADJUVANTE NO CÂNCER DE MAMA NÃO-METASTÁTICO NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A terapia sistêmica neoadjuvante (TSN), antes indicada para casos localmente avançados, tem sido expandida para estádios iniciais, sem prejuízo nos desfechos clínicos. No Brasil, porém, observou-se menor sobrevida com o uso da TSN. Compreender os fatores que influenciam sua indicação pode evidenciar desigualdades no acesso ao cuidado oncológico e levantar hipóteses das causas dessa pior sobrevida.
Objetivos
Avaliar os fatores associados ao uso da TSN no Brasil, para identificar possíveis influências de características sociodemográficas na sua indicação e utilização. Critérios clínicos devem ser os principais determinantes para a escolha da TSN.
Metodologia
Estudo transversal, nacional, usando dados dos sistemas de informações ambulatorial e hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram incluídas mulheres ≥18 anos de idade, que receberam TSN ou cirurgia como primeiro tratamento para câncer de mama não-metastático (estádios I, II e III), de 2008 a 2014. Os fatores associados ao uso da TSN foram analisados por regressão logística múltipla, considerando variáveis explicativas relacionadas à escolha da TSN ou cirurgia como tratamento inicial. Permaneceram no modelo final variáveis com p<0,05 e a força de associação foi expressa pelo odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%). Análises estatísticas foram realizadas no software R.
Resultados
De 73.053 mulheres incluídas, 33.430 (45,76%) realizaram TSN e 39.623 (54,24%) cirurgia como primeiro tratamento. Observou-se maior chance de uso da TSN entre mulheres mais jovens (OR 4,02; IC95% 3,73–4,33), residentes na região Nordeste (OR 1,76; 1,66–1,87), que realizaram o primeiro tratamento fora do município de residência (OR 1,18; 1,13–1,23) e que não receberam HT após a cirurgia (proxy para tumor triplo negativo; OR 1,65; 1,59–1,72). Raça/cor da pele, Índice de Desenvolvimento Humano do município de residência, presença de comorbidades, estádio clínico ao diagnóstico, grau histológico, invasão linfonodal também foram variáveis associadas ao uso da TSN.
Conclusões/Considerações
Características clínicas influenciam fortemente o uso da TSN no Brasil. No entanto, também foram identificadas associações com fatores sociodemográficos. Considerando as desigualdades na oferta de cuidados oncológicos no país, especialmente pela maior concentração de serviços em determinadas regiões, essas associações podem indicar barreiras no acesso a um tratamento eficaz e oportuno, o que pode contribuir para a menor sobrevida observada.
ANÁLISE DE PROCESSOS DE TRABALHO NO RASTREIO DE CÂNCER DE MAMA EM UM CENTRO DE SAÚDE DE CAMPINAS (SP)
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
O câncer de mama é a patologia oncológica de maior incidência em mulheres, excluindo os cânceres de pele não melanoma, em todo o mundo. Em 2023, a Política Nacional de Prevenção e Tratamento de Câncer, modifica o modelo de rastreamento de oportunístico para organizado. A Atenção Primária está sendo demandada a modificar a estrutura dos processos de trabalhos para atingir a cobertura esperada.
Objetivos
Compreender como ocorre a organização para o rastreio do câncer de mama em um Centro de Saúde de Campinas e realizar um planejamento estratégico participativo a fim de se aproximar do rastreamento organizativo do câncer de mama.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa-participante. O pesquisador responsável acompanhou a dinâmica do Centro de Saúde foco desta pesquisa por 6 meses, registrando em seu caderno de campo os conteúdos relativos ao rastreio do câncer de mama. Em seguida, foi realizada uma análise a nível de conteúdo deste material. Por fim, foi realizado um levantamento quantitativo da população em faixa etária de rastreio, número de mamografias de rastreio solicitadas mensalmente no último ano e porcentagem de cobertura do rastreio mamográfico. Com este embasamento, realizou-se a oficina de planejamento estratégico com método participativo com a equipe do Centro de Saúde.
Resultados
Notou-se que o processo de trabalho do rastreio do câncer de mama ocorria apenas durante consultas médicas e de enfermagem. Inexistia pessoal ou setor responsável pelo monitoramento de rastreio de doenças e seus indicadores. A população de interesse era de 1786 mulheres, com cobertura de 17% e média de solicitações de mamografia mensal de 27. O planejamento estratégico resultou em um plano operativo com três objetivos principais a serem atingidos em 1 ano: atingir 37% de cobertura; criar uma matriz de trabalho para organizar pessoas e processos de trabalho para o rastreamento; realizar 4 eventos de educação em saúde frente a estratégias de rastreio.
Conclusões/Considerações
Percebeu-se que o local deste estudo realizava o rastreio do câncer de mama de modo oportunístico, conforme recomendação prévia e que sua efetividade era baixa. A partir da oficina de planejamento estratégico, consolidou-se no local um modo operativo para se organizar em busca da nova proposta de execução do rastreio mamográfico indicada pelo Ministério da Saúde.
DISPARIDADES SOCIODEMOGRÁFICAS NO ACESSO AO TRATAMENTO DE CÂNCERES GASTROINTESTINAIS NO BRASIL: UM DESAFIO À DEMOCRACIA E EQUIDADE EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Goiânia – GO, Brasil
Apresentação/Introdução
Os cânceres gastrointestinais (CGIs) estão entre os mais prevalentes no Brasil, com altas taxas de mortalidade. Ainda que o SUS proponha equidade como princípio, o acesso ao tratamento é atravessado por desigualdades regionais, econômicas e raciais que impactam o tempo de espera, a localização dos serviços e os desfechos clínicos da população.
Objetivos
Identificar como as desigualdades regionais, socioeconômicas e raciais impactam o acesso ao tratamento de cânceres gastrointestinais no Brasil, a partir da revisão crítica da literatura científica recente.
Metodologia
Esta revisão integrativa da literatura foi conduzida com buscas realizadas de julho a dezembro de 2024 nas plataformas PubMed e SciELO, e dados do INCA. Os critérios de inclusão consideraram estudos sobre o panorama dos cânceres no Brasil, com dados de 2013 a 2023 sobre tempo para início do tratamento, acesso a unidades especializadas e/ou taxas de sobrevida. Excluíram-se editoriais e estudos que não tenham dados sobre o Brasil. A análise temática foi realizada de forma temática e narrativa, a partir da leitura crítica dos artigos selecionados e priorizou barreiras estruturais, determinantes sociais e impactos clínicos do acesso desigual, visando uma compreensão aprofundada das iniquidades.
Resultados
As informações analisadas demonstram que o acesso ao tratamento de CGIs é fortemente condicionado por disparidades regionais. O início do tratamento é postergado em áreas com menor concentração de CACONs e UNACONs (Norte/Nordeste) e atores como renda, escolaridade e raça/cor determinam a trajetória do paciente dentro do sistema. A invisibilidade estatística, subnotificação e lacunas em políticas regionais exacerbam o problema. Essa iniquidade no acesso resulta em menor sobrevida e maior mortalidade, revelando fragilidades na efetivação do direito à saúde e na construção de uma sociedade equitativa e democrática.
Conclusões/Considerações
A equidade no SUS não se concretiza plenamente, e as barreiras estruturais e sociais perpetuam desigualdades entre regiões e grupos, que impactam diretamente no tratamento e nos resultados clínicos, comprometendo a democracia em saúde. Urgem políticas públicas que descentralizem a oncologia e integrem a justiça social ao cuidado, capacitando o SUS para os complexos desafios do século XXI e fomentando uma sociedade mais justa e resiliente.
ÍNDICE NUTRICIONAL PROGNÓSTICO (PNI) COMO PREDITOR DE SOBREVIDA EM CIRURGIA DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
Pôster Eletrônico
1 UEFS
2 UNEB
3 Santa Casa de Misericórdia / HDPA
Apresentação/Introdução
O índice prognóstico nutricional (PNI), considera valores de albumina e linfócitos, se destaca como ferramenta acessível e de baixo custo para apoiar condutas terapêuticas e melhorar o prognóstico. O câncer de cabeça e pescoço (CCP) geralmente é diagnosticado tardiamente e o comprometimento do estado nutricional é bem prevalente entre os doentes, o que compromete o prognóstico e o tratamento de escolha.
Objetivos
Avaliar o papel do PNI como ferramenta prognóstica de sobrevida em 5 anos em sujeitos submetidos à cirurgia para tratamento de CCP.
Metodologia
Estudo de coorte prospectivo com sujeitos maiores de 18 anos, diagnosticados com CCP submetidos a cirurgia como tratamento inicial, em hospital de referência oncológica no interior da Bahia entre 2017 e 2022. O PNI foi calculado conforme a fórmula: 10 × albumina (g/dL) + 0,005 × linfócitos totais (mm³) e estratificado em PNI ≥50 (normal) ou <50 (déficit nutricional). A probabilidade de sobrevida global foi estimada pela curva de Kaplan-Meier, a comparação entre variáveis pelo teste de Longrank e a magnitude do efeito pelo Hazard Ratio (HR) IC95%. A acurácia do ponto de corte foi avaliada por sensibilidade, especificidade. O estudo aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer nº 1.399.962.
Resultados
Foram incluídos no estudo 71 sujeitos, 82,6% homens com mediana da idade de 65 anos, baixa escolaridade (84%), baixa renda familiar (81,2%), etilistas (90%), tabagistas (87%).
A mediana da sobrevida foi de 35 meses [IQ: 9-66,2]. Aqueles com PNI <50 apresentaram sobrevida mediana de 21 meses, enquanto os com PNI ≥50 alcançaram 72 meses (p=0,0273). Este grupo (PNI ≥50) apresentou um risco 48,4% menor de óbito (HR: 0,516; IC95%: 0,273–0,977).
O ponto de corte 50 para o PNI demonstrou sensibilidade de 50%, especificidade de 75% e acurácia global de 60,5% em predizer sobrevida na amostra. Os achados apontam que o PNI é capaz de discriminar grupos de sujeito com CCP com menor sobrevida em 5 anos.
Conclusões/Considerações
O PNI demonstrou ser bom preditor de sobrevida global em 5 anos em sujeitos com CCP submetidos a cirurgia como tratamento inicial.
A utilização do PNI como apoio no planejamento de decisões clínicas para alcançar melhor sobrevida nessa população pode ser promissora, sobretudo em cenários de diagnóstico tardio e marcados por desigualdades no acesso ao cuidado oncológico, visto que é indicador de baixo custo, fácil aplicação.
CONDIÇÕES DE SAÚDE DE USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
2 Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são problemas de saúde pública. Obesidade, hipertensão e diabetes são doenças de longa duração, associadas a multimorbidades, desfechos desfavoráveis, limitações e incapacidades. Assim, pesquisas sobre a saúde dos usuários da Atenção Primária à Saúde (APS) são importantes para direcionar ações às especificidades locais.
Objetivos
Descrever o diagnóstico situacional de saúde dos usuários da rede de APS, portadores de DCNT, em Ponta Grossa, Paraná.
Metodologia
Estudo transversal, realizado entre agosto a novembro de 2023, com 280 usuários > 18 anos, em 8 Unidades Básicas de Saúde, de diferentes regiões de Ponta Grossa-PR, e zona rural. Como critério principal, o participante devia apresentar uma ou mais doenças crônicas (diabetes, hipertensão ou obesidade). Foi aplicado formulário com questões socioeconômicas, demográficas, presença de comorbidades e consumo de medicamentos autorreferidos, e foram coletados peso e altura autorreferidos. Os achados foram comparados de acordo com variáveis socioeconômicas e demográficas pelas razões de prevalência com intervalos de confiança de 95% (IC 95%).
Resultados
42,50% dos usuários tinha DM, 86,80% tinha hipertensão, com menor prevalência nos adultos-RP=0,80 (IC95% 0,72-0,89) e 56,80% tinha obesidade, com maior prevalência na zona urbana-RP=1,60 (IC95% 1,03-2,50). A população também apresentava outras doenças (75,71%), destaque para a dislipidemia (57,55%) e ansiedade (25,47%). A multimorbidade foi de 63,21% (maior entre os idosos). Bebida alcoólica era consumida por 13,21% e tabaco por 9,30%. O consumo de medicamentos foi autorreferido por 97,50%, com média de 3,4. Polifarmácia foi de 27,47% (maior entre os idosos). Os medicamentos mais consumidos foram aqueles para o sistema cardiovascular (87,90%), seguidos do trato alimentar (41,80%).
Conclusões/Considerações
O diagnóstico situacional de saúde dos usuários da rede de APS, com DCNT, aponta para uma população em multimorbidade, polifarmácia e índice de massa corporal inadequado.
VALIDAÇÃO DA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR DE DIFERENTES APARELHOS GLICOSÍMETROS
Pôster Eletrônico
1 UNIVAG
2 BiomedStat
Apresentação/Introdução
O diabetes mellitus é caracterizado pela hiperglicemia decorrente de deficiência de insulina. O monitoramento glicêmico, essencial no controle da doença, pode ser realizado com glicosímetros, que oferecem praticidade e acessibilidade aos pacientes.
Objetivos
Validar a dosagem de glicemia capilar dos glicosímetros One Touch, Bioland, G-Tech, On Call Plus e Accu-Chek, comparando com método padrão ouro por espectrofotometria.
Metodologia
Estudo descritivo, transversal e prospectivo, realizado com 107 pacientes atendidos na Clínica Integrada do UNIVAG. Foram coletadas amostras de sangue capilar e venoso para análise da glicemia. A glicemia capilar foi medida em cinco glicosímetros (com duas medições por aparelho). A glicemia venosa foi analisada em espectrofotômetro. Avaliou-se a reprodutibilidade entre as medições dos aparelhos e a concordância com o padrão ouro por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC).
Resultados
Dos 107 pacientes, 71% eram mulheres, com predominância de diabetes tipo 2 (72%). Entre os que utilizavam glicosímetros (46,2%), destacaram-se os modelos One Call Plus (36,1%) e Accu-Chek (33,3%). A comparação com o padrão ouro mostrou que One Touch, Bioland e G-Tech apresentaram maior precisão (ICC entre 0,91 e 0,912), enquanto Accu-Chek e On Call Plus foram menos precisos (ICC entre 0,855 e 0,889). As diferenças foram estatisticamente significativas (p = 0,011).
Conclusões/Considerações
Os glicosímetros One Touch, Bioland e G-Tech apresentaram maior concordância com o método padrão ouro, enquanto Accu-Chek e On Call Plus demonstraram menor precisão. Os achados reforçam a importância da escolha adequada do equipamento e da conscientização sobre o monitoramento regular da glicemia no controle do diabetes
FATORES ASSOCIADOS À METÁSTASE EM PACIENTES COM CÂNCER EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA: ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVO
Pôster Eletrônico
1 PPgMDS/UFPB
2 PPgSF/Renasf/UFPB
3 PPgSC/UFPB
4 PPgFisioterapia/UFPE
5 PPgNeC/UFPB
Apresentação/Introdução
O câncer é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, afetando milhões de pessoas no Brasil anualmente. A metástase se refere à disseminação de células malignas para órgãos distantes, o que piora o prognóstico e aumenta a mortalidade. Nesse contexto, fatores clínicos e sociodemográficos influenciam seu desenvolvimento, porém, no cenário nacional, as pesquisas ainda são heterogêneas.
Objetivos
Este estudo objetiva investigar os determinantes associados à metástase em pacientes com câncer em João Pessoa-PB (1999-2017), buscando fornecer subsídios para aprimorar práticas clínicas e orientar políticas públicas de saúde no município e região.
Metodologia
Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo que utilizou dados do Registro de Câncer de Base Populacional do INCA, abrangendo 19.228 casos de câncer em João Pessoa-PB, entre 1999 e 2017. Foram analisadas variáveis clínicas e sociodemográficas (sexo, idade, raça/cor, escolaridade, estado civil, localização e tipo de câncer) como fatores independentes, e a presença de metástase como variável dependente. Após exclusão dos dados incompletos, realizou-se análise descritiva, teste qui-quadrado e regressão logística no software R, com nível de significância de 5%. Os resultados foram apresentados em Odds Ratio com intervalos de confiança de 95%, respeitando normas éticas e privacidade dos dados.
Resultados
A maior prevalência ocorreu em mulheres (61%), pessoas pardas (51%) e com idade média de 59 anos; nos casos com metástase, a média foi de 60 anos. A escolaridade e a localização do tumor influenciaram significativamente o risco: câncer de pulmão (OR=2,11) e trato gastrointestinal (OR=2,15) aumentaram a probabilidade de metástase, enquanto na pele o risco foi menor (OR=0,22). Indivíduos com ensino médio e superior apresentaram maior risco, e pessoas brancas tiveram menor risco (OR=0,61). O modelo de regressão mostrou desempenho moderado (AUC=0,663), com boa especificidade (83%) mas baixa sensibilidade (29%), ressaltando a necessidade de aprimoramento para identificação dos casos de metástase.
Conclusões/Considerações
Os achados reforçam a importância de análises regionais para compreender disparidades no cuidado oncológico e subsidiar ações mais equitativas. A qualificação dos registros e o uso de modelos preditivos mais robustos podem aprimorar o planejamento em saúde, contribuindo para estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e alocação eficiente de recursos no enfrentamento do câncer.
TENDÊNCIAS DAS INTERNAÇÕES POR ASMA NO BRASIL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 2014 A 2020: UM ESTUDO ECOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Ceará (UFC)
2 Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Apresentação/Introdução
A asma é uma doença respiratória inflamatória crônica e prevalente, especialmente entre crianças e adolescentes, resultando na redução na qualidade de vida e desenvolvimento de incapacidades, bem como risco de morte. No contexto brasileiro, ainda há escassez de dados atualizados sobre sua evolução, o que dificulta ações de saúde eficazes para as populações mais suscetíveis a esse desfecho.
Objetivos
Avaliar a tendência das taxas de internação por asma em crianças e adolescentes no Brasil no período de 2014 a 2020.
Metodologia
Estudo ecológico sobre taxas de internações por asma em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, no período de 2014 a 2020. A variável dependente foi a taxa de internação hospitalar pelo diagnóstico médico de asma e as variáveis independentes foram: idade, sexo e região. A coleta de dados foi realizada em fevereiro de 2024, mediante consulta no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2019. Para análise da tendência das taxas, utilizou-se o método de Prais-Winsten, no software R, considerando significativos valores de p≤0,05. Os dados secundários eximem necessidade de aprovação do Comitê de ética em Pesquisa.
Resultados
A partir dos valores obtidos pelo método de Prais-Winsten, verificou-se que todas as variáveis apresentaram tendência de redução das taxas de internação por asma: sexo feminino (p=0,002), sexo masculino (p=0,001), faixa etária de 0 a 9 anos (p=0,004), de 10 a 19 anos (p=0,005), Região Norte (p=0,001), Região Nordeste (p=0,001), Região Centro-Oeste (p=0,001), Região Sudeste (p=0,001), Região Sul (p=0,001).
Conclusões/Considerações
O presente estudo observou tendência temporal decrescente para as taxas de internação por asma no período estudado em todas as variáveis (sexo, faixa de idade e região). Para a Saúde Coletiva, se mostra importante por instigar a reflexão da comunidade científica acerca da influência de aspectos sociais e biológicos na hospitalização por asma, bem como contribui para o direcionamento da atuação dos profissionais de saúde frente a esse desfecho.
NEUROLIGINAS E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Pôster Eletrônico
1 UNIVAG
2 BiomedStat
Apresentação/Introdução
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica complexa com múltiplos fatores genéticos e ambientais envolvidos. Entre os genes estudados, destacam-se as neuroliginas, proteínas pós-sinápticas que influenciam a comunicação entre neurônios e têm sido associadas a alterações sinápticas observadas no TEA.
Objetivos
Investigar e analisar, por meio de revisão sistemática, a relação entre as neuroliginas e o desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista, com foco em suas implicações genéticas e funcionais.
Metodologia
Trata-se de uma revisão sistemática realizada com base na estratégia PICOS e nas diretrizes PRISMA. Foram utilizadas as bases PubMed, SCIELO e Nature Medicine com os descritores “Autism”, “Neuroligin” e “Mutation”. Após triagem de 94.222 resultados, foram selecionados 13 artigos relevantes conforme critérios de inclusão, que abordavam a relação entre mutações nas neuroliginas e o TEA. Os estudos incluíram experimentais, casos-controle e observacionais. A qualidade metodológica e a disponibilidade de acesso gratuito aos textos completos foram critérios decisivos para inclusão.
Resultados
Dos 13 artigos incluídos, 69% foram estudos experimentais, 23% casos-controle e 7% observacionais. Evidências apontam que mutações em neuroliginas, principalmente NLGN3, estão associadas a alterações na comunicação sináptica e a comportamentos compatíveis com o TEA em modelos animais. Contudo, há divergência na literatura quanto à relevância dessas mutações em humanos, sendo considerada uma possível via contributiva, mas não exclusiva. Estudos também indicam que fatores como SHANK3 e neurexinas compõem uma rede genética mais ampla envolvida no transtorno.
Conclusões/Considerações
As mutações em neuroliginas representam um dos mecanismos genéticos ligados ao TEA, mas não explicam isoladamente o transtorno. A literatura destaca a necessidade de abordagens integrativas que considerem a interação entre múltiplos genes e fatores ambientais. O aprofundamento nesse campo pode favorecer estratégias terapêuticas mais específicas e eficazes.
PREVALÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SEGUNDO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO NO ESTUDO NUTRINET BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP)
2 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (FM/USP)
Apresentação/Introdução
A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença progressiva, irreversível e considerada um problema global de saúde pública, com prevalência de 1,4% no Brasil. Os principais fatores de risco incluem doenças crônicas, idade avançada e desigualdades sociais. O difícil acesso ao diagnóstico agrava o quadro, mas mudanças no estilo de vida podem preveni-lo.
Objetivos
Analisar e descrever a prevalência de IRC segundo perfil sociodemográfico da população do Estudo NutriNet Brasil.
Metodologia
Foram utilizados dados da coorte NutriNet Brasil, que coleta informações de brasileiros com 18 anos ou mais, por questionários trimestrais via plataforma digital. Até o 14º mês, foram coletados dados sociodemográficos e variáveis de saúde. A análise transversal dos dados incluiu participantes que responderam à pergunta de IRC (14º mês), e excluiu participantes com valores implausíveis de peso e altura e com dados ausentes nas variáveis de interesse. As prevalências foram calculadas com intervalos de confiança de 95%, e o teste do qui-quadrado foi aplicado para comparação entre grupos, considerados distintos quando p-valor < 0,05. As análises foram realizadas no Stata 17.0.
Resultados
A prevalência autorreferida de IRC foi de 0,30% entre os 35.846 participantes, com idade média de 44,93 anos (DP = 12,8 anos). Apesar de inferior às médias nacionais e globais, os dados revelam desigualdades em saúde, com populações vulneráveis apresentando prevalências mais altas. As maiores prevalências foram observadas entre os homens (0,57%), idosos (0,50%), e entre aqueles que já possuem doenças crônicas, como obesidade (0,52%), doença cardiovascular (0,77%), hipertensão (1,06%), diabetes (1,17%) e AVC (5,86%). Também foi observado um gradiente educacional: 2,22% em pessoas com ensino fundamental, contra 0,12% em pós-graduados.
Conclusões/Considerações
A prevalência de IRC foi maior entre homens, idosos, pessoas com baixa escolaridade, obesidade e doenças crônicas (DM, HAS e AVC). Os achados mostram a interseção entre vulnerabilidades sociais e o comprometimento renal. Estudos como este reforçam a necessidade de políticas públicas para prevenção e cuidado equitativo, com estratégias que enfrentam a doença sob uma perspectiva social e que considerem os estratos sociais mais vulneráveis.
EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CÂNCERES GASTROINTESTINAIS EM JOVENS BRASILEIROS: ANÁLISE TEMPORAL DE 2013 A 2025
Pôster Eletrônico
1 UFG
Apresentação/Introdução
Em 2022, os cânceres gastrointestinais (CGI) contribuíram com 26,3% da carga de incidência e 35,4% da mortalidade por câncer no mundo. Embora a incidência de cânceres gastrointestinais seja menor em adolescentes e jovens-adultos (AYA), quando comparada a outros tipos de neoplasias nessa faixa etária, a apresentação clínica e o prognóstico podem ser mais agressivos.
Objetivos
Descrever e analisar as taxas e tendências da incidência por cânceres gastrointestinais na população adolescente e jovem-adulta brasileira.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico de série temporal. Os dados foram extraídos do Painel-Oncologia (DATASUS). As variaveis utilizadas foram sexo, faixa etária (15-39 anos), ano e diagnóstico detalhado das neoplasias (CID-10: C15, C16, C18-21, C22 e C25). A taxa específica de incidência foi calculada por 100 mil habitantes. A análise descritiva foi realizada por meio das frequências absolutas e relativas. Para a análise temporal utilizou-se a regressão joinpoint.
Resultados
Dos 44.924 casos de CGI registrados na população AYA, 57,64% ocorreram em mulheres, que também apresentaram taxas de incidência mais elevadas. O câncer colorretal foi o tipo mais frequente em ambos os sexos, com incidência de 2,49/100 mil mulheres e 2,28/100 mil homens. Os cânceres de esôfago, fígado, vias biliares e pâncreas apresentaram as menores taxas para ambos os sexos. Entre AYA do sexo masculino, os CGI analisados apresentaram tendências significativas e ascendentes desde o início da série até 2023, quando foi registrado o maior pico. No sexo feminino, o comportamento foi semelhante, exceto para os cânceres de esôfago e estômago, cujos maiores picos ocorreram nos anos de 2020 e 2021.
Conclusões/Considerações
O aumento da incidência de CGI entre jovens brasileiros, com destaque para o colorretal, aponta um desafio emergente à saúde pública. Esses dados reforçam a necessidade de políticas intersetoriais voltadas à prevenção, detecção precoce e redução de desigualdades, que visem preservar a qualidade e a expectativa de vida na juventude.
ADESÃO AO TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO NO DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO INTEGRATIVA EM ANDAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFAM
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A adesão às medidas não medicamentosas é essencial no controle do DM2, mas ainda enfrenta altos índices de abandono, mesmo na APS. Fatores como baixa compreensão da doença, dificuldades socioeconômicas e falta de apoio educativo contribuem para o problema. Compreender essas barreiras é crucial para embasar intervenções eficazes no SUS.
Objetivos
Analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, os fatores que interferem na adesão ao tratamento não medicamentoso entre pessoas com DM2 no contexto da Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
Estudo de revisão integrativa em andamento, realizado nas bases SciELO, PubMed e Lilacs. Os critérios de inclusão abrangem artigos publicados nos últimos 20 anos, em português, inglês ou espanhol, com foco em medidas não farmacológicas (alimentação, atividade física, educação em saúde) em adultos com DM2 atendidos na APS. A seleção segue os critérios PRISMA.
Resultados
A análise preliminar dos estudos selecionados indica que os principais fatores que impactam a adesão estão relacionados a determinantes sociais da saúde, lacunas educativas, ausência de suporte familiar e desafios estruturais da APS. Estratégias como grupos educativos, uso de materiais culturais acessíveis e escuta qualificada da equipe multiprofissional são recorrentes nos achados como facilitadores da adesão. A consolidação da síntese dos dados e aprofundamento das categorias analíticas estão em andamento.
Conclusões/Considerações
A revisão integrativa visa contribuir para identificação de fatores interferentes na promoção de saúde, e no aprimoramento das práticas educativas e das políticas públicas voltadas ao cuidado do DM2 na APS. Seus resultados preliminares reforçam a importância do acolhimento e da personalização do cuidado para ampliar a adesão ao tratamento não medicamentoso.
PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DA APS SOBRE O CUIDADO À OBESIDADE: ESTIGMA DO PESO E OS DESAFIOS DO CUIDADO
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
O cuidado à obesidade na Atenção Primária à Saúde ainda é marcado por abordagens centradas no peso e por discursos moralizantes. O estigma do peso, muitas vezes naturalizado, compromete a escuta, o vínculo e a efetividade do cuidado. Compreender seus efeitos é essencial para construir práticas éticas, acolhedoras e não discriminatórias.
Objetivos
Analisar percepções e práticas de profissionais da APS sobre o estigma do peso no cuidado à pessoa com obesidade, destacando dimensões estruturais e simbólicas.
Metodologia
Estudo quali-quantitativo, com base em dados de um curso de formação em DCNT ofertado a profissionais da APS de 54 municípios da Bahia. Foram analisados questionários com variáveis sociodemográficas, percepções sobre o cuidado e o estigma do peso, além de 101 narrativas abertas. Os dados quantitativos foram analisados com o software Stata 16.0 e os dados qualitativos via análise de conteúdo temática.
Resultados
Participaram 178 profissionais, maioria mulheres, com formação em enfermagem. 63,1% se declarassem muito competentes para o cuidado à obesidade, 62,5% reconheceram que sua abordagem pode reforçar o estigma, e 76% apontaram que a própria unidade reproduz práticas estigmatizantes. A análise qualitativa revelou categorias como culpabilização do indivíduo, ausência de estrutura física adequada, e escassa discussão institucional sobre o tema. Apesar disso, emergiram discursos críticos, com reconhecimento da multicausalidade da obesidade, do papel da mídia e da necessidade de formação e empatia. Narrativas revelaram que o estigma interfere negativamente na adesão ao cuidado e afasta usuários dos serviços.
Conclusões/Considerações
Apesar da autodeclarada competência, discursos estigmatizantes ainda predominam nas práticas da APS. A qualificação dos profissionais deve incluir a compreensão da obesidade como fenômeno complexo, com ênfase na educação permanente, abordagem centrada na pessoa e estratégias de cuidado livre de estigmas.
COBERTURA DOS EXAMES CITOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO ENTRE AS MULHERES DE 25 A 64 ANOS: UMA ANÁLISE DO SISCAN DO PAÍS E SUAS REGIÕES DE 2015 A 2024
Pôster Eletrônico
1 Rede APS
2 CIDACS
3 UFPEL
Apresentação/Introdução
O câncer do colo do útero é uma das principais causas de morte entre as mulheres e um grave problema de saúde pública para o país. O exame citológico (Papanicolau) é fundamental para a detecção precoce de lesões precursoras, permitindo tratamento oportuno. Sua realização, segundo recomendações do Ministério da Saúde, é essencial para reduzir a mortalidade e as desigualdades regionais.
Objetivos
Descrever a cobertura dos exames citológicos do colo do útero entre as mulheres de 25 a 64 anos no período de 2015 a 2024 no país e conforme as regiões geopolíticas.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, com base em dados secundários do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) referentes aos exames citológicos do colo do útero realizados no SUS entre 2015 e 2024, em mulheres de 25 a 64 anos. As estimativas populacionais foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cobertura foi calculada pela razão entre exames realizados e população estimada, multiplicada por 100, com estratificação por regiões do Brasil. A criação da planilha e análise descritiva foi feita no Excel® e Stata® versão 15.0. O estudo não exigiu aprovação ética, conforme Resolução CNS nº 510/2016.
Resultados
Entre 2015 e 2024, a cobertura dos exames citológicos do colo do útero no Brasil variou de 7,02% a 11,55%, com redução expressiva em 2020 (5,58%). Em 2023, no país, observou-se o pico de cobertura (11,55%), seguido de leve queda em 2024 (10,80%). As Regiões Sul e Nordeste apresentaram coberturas mais elevadas ao longo do período, alcançando 16,69% e 13,09% em 2023, respectivamente. A Região Norte teve crescimento, partindo de 3,5% (2015) e chegando a 13,19% (2023). A menor cobertura média em 2024 ocorreu no Sudeste, com 8,57%.
Conclusões/Considerações
Apesar dos avanços na cobertura de exames citológicos na população-alvo, os percentuais permanecem aquém do ideal. Portanto, é preciso fortalecer as ações de rastreamento para ampliar o acesso, reduzir desigualdades e prevenir o câncer do colo do útero.
ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTEATOSE HEPÁTICA E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM PARTICIPANTES DO ESTUDO NUTRINET-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
2 Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
3 Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
Apresentação/Introdução
A esteatose hepática, acúmulo excessivo de gordura no fígado, apresenta prevalência crescente no Brasil. Estudos revelam que ela está fortemente associada ao índice de massa corporal (IMC), com mais da metade dos casos em obesos. Mecanismos como resistência à insulina e inflamação estão relacionados à sua patogênese. Contudo, estudos nacionais que investigaram essa associação são escassos.
Objetivos
Verificar se o IMC está associado à esteatose hepática entre os participantes do estudo NutriNet-Brasil, após ajuste por fatores de confusão.
Metodologia
Estudo transversal com 33.922 adultos (≥18 anos) do NutriNet-Brasil e que responderam ao questionário do mês 20. O IMC (kg/m2) foi calculado com dados de peso e altura autorreferidos e classificado em: eutrofia (IMC<25,0), sobrepeso (IMC=25-29,9) e obesidade (IMC≥30,0). Dados de esteatose hepática foram obtidos por autorrelato de diagnóstico médico. As covariáveis incluíram idade, sexo, escolaridade, atividade física, tabagismo, álcool, diabetes, hipertensão, DCV e hipercolesterolemia. Foram realizadas análises descritivas e regressão logística para investigar a associação entre IMC e esteatose. Foi realizada análise de sensibilidade com participantes que relataram não consumir álcool.
Resultados
Foram identificados 2,089 (6,2%) casos prevalentes de esteatose hepática. A prevalência de esteatose variou segundo categorias de IMC: entre os eutróficos, 1,4% apresentavam esteatose; entre os com sobrepeso, 7,2%; e entre os com obesidade, 17,7%. Após ajustes, análises de associação mostraram que entre os indivíduos com obesidade a chance de ter esteatose hepática foi de 9,46 vezes (OR: 9,46; IC 95%: 8,08–11,07) a chance dos eutróficos. Já entre indivíduos com sobrepeso, a chance foi de 4,02 vezes (OR: 4,02; IC 95% 3,43-4,71) a chance dos eutróficos. Resultados parecidos foram observados em análise de sensibilidade, com leve atenuação das estimativas.
Conclusões/Considerações
A prevalência de esteatose hepática foi fortemente associada ao IMC elevado, mesmo após ajuste por fatores de confusão, sendo observada associação mais forte entre os indivíduos com obesidade. Esses achados reforçam a importância de políticas públicas de monitoramento do IMC nos serviços de saúde como estratégia de prevenção e controle da esteatose hepática.
PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR ACIDENTES DE TRÂNSITO EM INDIVÍDUOS EM IDADE PRODUTIVA NO BRASIL ENTRE 2015 E 2024
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUEDOESTE DA BAHIA
2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Apresentação/Introdução
Os acidentes de trânsito representam um grave problema de saúde pública global, impactando desproporcionalmente a população em idade produtiva. No Brasil, essa morbimortalidade acarreta custos humanos e econômicos, além de impor carga ao sistema de saúde e à força de trabalho. Compreender o perfil é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico das internações por acidentes de trânsito em indivíduos em idade produtiva no Brasil, no período de 2015 a 2024.
Metodologia
Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa, baseado em dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), disponíveis no Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS Tabnet). Foram selecionadas internações por causas externas, classificadas como "Acidentes de transporte" (CID-10: V01-V99), referentes a residentes no Brasil, entre 2015 e 2024. A população de interesse incluiu indivíduos de 15 a 64 anos, conforme definição do IBGE. As variáveis analisadas foram número de internações por faixa etária e ano. A análise foi descritiva, com tabulação dos dados extraídos do Tabnet.
Resultados
Entre 2015 e 2024, foram registradas aproximadamente 1.995.269 internações por acidentes de trânsito na população brasileira de 15 a 64 anos. Observou-se uma tendência crescente no número total de internações, passando de 175.761 em 2015 para 249.251 em 2024, com queda em 2020, possivelmente relacionada à pandemia. A faixa de 20 a 29 anos liderou em todos os anos, com 627.728 casos (31,5%), seguida por 30 a 39 anos, com 475.709 (23,8%). Juntas, concentram mais da metade das internações. As demais faixas etárias também apresentaram crescimento contínuo.
Conclusões/Considerações
Os acidentes de trânsito têm impactado cada vez mais a população em idade produtiva no Brasil, especialmente jovens de 20 a 39 anos. O aumento das internações ao longo dos anos reforça os prejuízos à saúde, ao trabalho e à economia, com afastamentos e sobrecarga dos serviços públicos. Políticas de prevenção, educação no trânsito e reabilitação são fundamentais.
DESIGUALDADES POR RAÇA E GÊNERO EM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIA TEMPORAL NO BRASIL (2009–2023)
Pôster Eletrônico
1 UNIFESP
Apresentação/Introdução
Fatores como o consumo de álcool, inatividade física e má alimentação são causadores das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e estão associados à obesidade, hipertensão e ao colesterol elevado. Diante do impacto causado pelas DCNT, é fundamental realizar análises da prevalência desses fatores de risco estratificadas por subgrupos populacionais específicos no Brasil, como raça e gênero.
Objetivos
Realizar uma análise das tendências temporais de fatores comportamentais modificáveis e condições metabólicas relacionadas às DCNTs entre 2009 e 2023, estratificadas por raça e gênero, em uma amostra representativa de adultos.
Metodologia
Os dados foram extraídos do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Neste estudo, foram analisados fatores como consumo abusivo de álcool, tabagismo, consumo de vegetais, prática de atividade física no tempo livre, hipertensão, diabetes e obesidade. A raça foi autoidentificada pelos participantes, com as opções “branca”, “preta” e “parda”. O sexo foi registrado como “masculino” ou “feminino”. Para as análises, as categorias “preta” e “parda” foram agrupadas. As tendências temporais entre 2009 e 2023 foram avaliadas por meio do modelo de regressão linear de Prais–Winsten.
Resultados
A tendência temporal do consumo excessivo de álcool revelou que mulheres brancas apresentaram um incremento médio de 0,45 p.p./ano (p < 0,001), enquanto mulheres pretas/pardas tiveram de 0,43 p.p./ano (p < 0,001). No que diz respeito à prática de atividade física, mulheres pretas/pardas tem o maior aumento, com 1,06 p.p./ano (p < 0,001). Esse grupo também apresentou o maior incremento de obesidade, com 0,78 p.p./ano (p < 0,001), seguido por mulheres brancas, com 0,51 p.p./ano (p < 0,001). Quanto a diabetes, mulheres brancas tiveram o maior aumento médio de 0,20 p.p./ano (p = 0,003), enquanto mulheres negras também mostraram uma tendência de crescimento, aumento de 0,17 p.p./ano (p = 0,025).
Conclusões/Considerações
Nosso estudo revela importantes tendências temporais em fatores relacionados às DCNTs, evidenciando a necessidade urgente de intervenções que considerem especificidades de raça e gênero. As mulheres negras, em particular, apresentam historicamente maiores taxas de obesidade e enfrentam barreiras adicionais à prática de atividade física. Novas políticas devem considerar essas disparidades para promover equidade em saúde.
CLUSTERS DE DOENÇAS NO MAPEAMENTO DA COMPLEXIDADE DA COVID LONGA
Pôster Eletrônico
1 UEPG
2 FSP/USP
3 Unicesumar
Apresentação/Introdução
A COVID LONGA configura importante desafio de saúde pública, associada a sintomas persistentes, surgimento de novas doenças e uso contínuo de medicamentos. A identificação de agrupamentos de doenças pode direcionar o manejo clínico e políticas de vigilância em saúde, especialmente em países com elevada carga de morbidade por COVID-19, como o Brasil.
Objetivos
Analisar o agrupamento de doenças relatadas após a COVID-19 em população adulta infectada previamente, identificando padrões de clusters.
Metodologia
Estudo epidemiológico transversal, conduzido via inquérito telefônico com ≥18 anos, residentes em Ponta Grossa-PR, que tiveram COVID-19 confirmada por RT-PCR entre 2020-2021. Dos 2.082 entrevistados, 1.721 completaram o questionário e compuseram a amostra final. Utilizou-se um questionário estruturado para investigar doenças surgidas após a COVID-19. Aplicaram-se análise de correspondência múltipla e análise hierárquica de clusters (average linkage, distância de emparelhamento simples) com os dados obtidos. O Coeficiente Silhouette foi usado para avaliar a qualidade dos agrupamentos.
Resultados
As doenças relatadas pelos participantes foram agrupadas em três clusters. O Cluster 1 incluiu doenças do coração ou vasos sanguíneos (8,18%; n=109), condições neurológicas (6,68%; n=89), doenças pulmonares (6,01%; n=80), doenças de pele/cabelo (3,98%; n=53), piora no controle de doenças crônicas (2,78%; n=37), doenças gastrointestinais (1,8%; n=24) e doenças musculares (1,35%; n=18). O Cluster 2 foi composto por transtornos psiquiátricos (10,74%; n=143) e o Cluster 3 por outras condições (11,86%; n=158).
Conclusões/Considerações
As doenças que emergiram na COVID Longa agruparam-se e vários grupos de doenças, indicando subgrupos clínicos distintos. O reconhecimento dos clusters auxilia no planejamento de cuidados individualizados e organização de redes assistenciais integradas, incluindo especialidades clínicas e atenção primária.
PREDIÇÃO DE MORTALIDADE EM PACIENTES COM CÂNCER CERVICAL UTILIZANDO ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL EM MATO GROSSO, BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Universidade de São Paulo
2 Universidade Federal de Mato Grosso
3 Universidade Federal de Goiás
Apresentação/Introdução
A inteligência artificial, por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, tem se destacado na previsão de desfechos oncológicos e no suporte clínico. O câncer do colo do útero segue como desafio em países de baixa e média renda, onde faltam ferramentas prognósticas eficazes.
Objetivos
Desenvolver e avaliar modelos de machine learning para prever mortalidade a longo prazo em pacientes com câncer cervical em Mato Grosso.
Metodologia
O estudo incluiu 1.682 pacientes diagnosticadas com CCU durante o período analisado. Diversos algoritmos foram treinados utilizando uma divisão treino-teste de 75/25 e validação cruzada em cinco partes. O desempenho dos modelos foi comparado por meio da área sob a curva ROC (AUROC), e a interpretabilidade foi avaliada com a técnica de Explicações Aditivas de Shapley (SHAP).
Resultados
O modelo AdaBoost apresentou o melhor desempenho, com AUROC de 86,24%. A análise SHAP identificou a idade ao diagnóstico como o principal preditor de mortalidade, seguida pelo estágio do câncer, ressaltando a aplicabilidade clínica do modelo.
Conclusões/Considerações
Este estudo destaca a importância de modelos de ML interpretáveis na predição de mortalidade no cuidado ao CCU. Utilizando dados populacionais e técnicas de IA explicável, nossa abordagem contribui para o aprimoramento da tomada de decisão clínica, especialmente em áreas com recursos limitados. A integração desses modelos aos sistemas de saúde digitais pode melhorar os desfechos dos pacientes com intervenções personalizadas e oportunas.
PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DAS REGIÕES DO CERRADO E SEMIÁRIDO, COM ÊNFASE EM HIPERTENSÃO, DOENÇA RENAL E DIABETES.
Pôster Eletrônico
1 UFPI
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
Em 2023, no Brasil, a expectativa de vida era de 74,4 anos. Lamentavelmente, junto com esse crescimento, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, especificamente hipertensão, diabetes e doença renal, tem aumentado nas comunidades quilombolas situadas nas áreas de cerrado e semiárido. Isso gera preocupação com a saúde e a expectativa de vida dessas comunidades.
Objetivos
Avaliar a prevalência das doenças crônicas em quatro quilombos de: Lagoas, Sumidouro,tapuio e Pitombeiras, com foco em hipertensão, diabetes e doença renal, avaliando a prevalência e doenças e descrever o perfil das pessoas afetadas pela doença.
Metodologia
Foi realizado um estudo de caráter transversal, conduzido em quatro comunidades quilombolas do Piauí: Lagoas, Sumidouro,tapuio e Pitombeiras no ano de 2025. Foram realizadas entrevistas a moradores das comunidades com mais de 18 anos com a aplicação de um questionário sociodemográfico e que aceitaram participar da pesquisa após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos estabelecidos pela Resolução CNS 466/2012 e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, com o número CAAE 78510124.5.0000.5214. Foram analisadas as variáveis independentes sobre a presença de hipertensão ,diabetes e doença renal.
Resultados
Foram entrevistadas 125 pessoas e a amostra final foi de 118 participantes. A hipertensão foi a condição mais prevalente no total, com 38,98% (IC 95%: 30,66% – 47,99%). A maior prevalência dentre as comunidades foi em Tapuio(42,86%) e Lagoas (42,35%), A diabetes teve uma prevalência total de 11,86% (IC 95%: 7,20% – 18,93%) e Lagoas apresentou a maior proporção (14,12%), seguida por Pitombeiras (11,11%) ,Já a doença renal afetou 14,41% do total (IC 95%: 9,19% – 21,86%). A maioria dos participantes foi do sexo feminino (68,6%),com faixa etária de 40 a 59 anos (51,69%).
Conclusões/Considerações
Os resultados mostram que a hipertensão arterial é uma condição prevalente entre os membros das comunidades quilombolas, particularmente em Lagoas e Tapuio, sinalizando a necessidade de uma atenção especial. Portanto, ressalta-se a importância de medidas de saúde pública que levem em conta as especificidades das comunidades quilombolas, com o objetivo de expandir o acesso à atenção primária e de identificar precocemente essas enfermidades.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM INJÚRIA RENAL AGUDA DIALÍTICA ATENDIDOS EM HOSPITAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Pôster Eletrônico
1 UFOPA
Apresentação/Introdução
A Injúria Renal Aguda (IRA) é uma síndrome clínica e laboratorial relativamente comum e grave que envolve alterações na homeostase, com perda das funções nefrológicas. No mundo, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas são acometidas anualmente pelas IRA, com mais de 1,7 milhões de óbito. As IRA são muitas vezes determinadas por fatores ambientais, culturais e geográficos.
Objetivos
Considerando isso, o objetivo geral desse estudo consiste em avaliar o perfil epidemiológico da IRA dialítica em Hospital de Urgência e Emergência com abrangência regional na Amazônia nos últimos cinco anos.
Metodologia
Trata-se de um estudo do tipo observacional, com abordagem quantitativa de coorte retrospectivo, realizado com prontuários de pacientes admitidos com centro de referência em Nefrologia que funciona anexo ao Hospital Municipal de Santarém (HMS) que se encontravam internados e necessitaram ser submetidos a tratamento dialítico no período de 01/01/2020 a 31/12/2025 (05 anos).
Resultados
Os resultados preliminares referem-se a coleta de dados do período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2024 (06 meses), em que foram avaliados n=124 prontuários de pacientes. Dos n=124 prontuários analisados apenas n=54 foram objeto deste estudo, a maioria dos acometidos (n=33; 61,1%) foram indivíduos do sexo masculino. Quanto a faixa etária, a maioria dos pacientes que apresentaram IRA dialítica tinham mais de 61 anos (n=22; 40,7%). Em relação ao local de início de desenvolvimento da IRA e a maioria (n=31;57,4%) apresentaram a IRA dentro do ambiente hospitalar. A maioria dos pacientes teve como desfecho final o óbito.
Conclusões/Considerações
Os resultados preliminares sugerem que a IRA dialítica é frequente na região de estudo, apresenta uma tendência de acometer mais em homens, com idade superior a 60 anos, moradores da zona urbana sendo a maioria moradores de Santarém, com comorbidades, sendo a sepse e a síndrome cardio-renal os principais fatores etiológicos, pacientes submetidos a HD eram graves, com IRA adquirida em ambiente hospitalar e destacar que o principal desfecho foi o óbito.
REPRODUTIBILIDADE DE UMA LINHA DE PESCA DE NYLON COMO TESTE DE TRIAGEM PARA RISCO DE ULCERAÇÃO NO PÉ DIABÉTICO
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
Apresentação/Introdução
A úlcera do pé diabético é uma complicação do diabetes mellitus e está associada a altos níveis de morbidade e mortalidade, além de custos financeiros significativos. No Brasil, 85% das amputações não traumáticas é precedida por uma úlcera do pé diabético. Portanto, a prevenção da úlcera do pé diabético é fundamental para reduzir o risco para o paciente e o consequente ônus econômico e social.
Objetivos
Neste estudo foi testada a reprodutibilidade do uso do monofilamento ‘‘caseiro’’ (linha de pesca de náilon) proposto por Parisi et al. no manuscrito intitulado ‘‘Triagem do pé diabético: Estudo de um instrumento 3000 vezes mais barato’’.
Metodologia
A validação independente foi realizada em um ambiente de atenção primária, em uma unidade básica de saúde localizada na periferia da cidade de São Paulo, responsável pelo cuidado de aproximadamente 2.000 indivíduos com diabetes mellitus. O desempenho do monofilamento de 10 g de Semmes Weinstein, considerado o padrão-ouro para detecção de risco de úlcera, foi comparado ao da linha de pesca de náilon (Nylon 6 [homopolímero]; diâmetro, 0,50 mm; comprimento, 4 cm; Trevo, Equipesca, São Paulo, Brasil) nos três locais recomendados (hálux e cabeças do primeiro e quinto metatarsianos).
Resultados
Foram incluídos 548 indivíduos com diabetes tipo 2 (59,3% mulheres; mediana [intervalo interquartil] de idade, 65 [59–72] anos; mediana de duração do diabetes, 10 [5–15] anos; mediana de HbA1c, 7,2% [6,3%–9,1%]). O coeficiente kappa foi usado para medir a concordância entre os três locais testados (hálux e cabeças do primeiro e quinto metatarsianos) em ambos os pés e apresentaram respectivamente os seguintes valores kappa (pé direito: 1,00 – 0,92 – 0,91 e pé esquerdo: 1,00 – 0,92 – 0,96). Os instrumentos, monofilamento de Semmes Weinstein e a linha de pesca de náilon, apresentaram total concordância, ou seja, os coeficientes de correlação corroboraram sua equivalência.
Conclusões/Considerações
Essa descoberta reforça que a linha de pesca é uma alternativa eficaz ao monofilamento de 10 g disponível comercialmente como uma ferramenta para triagem de indivíduos com diabetes em risco de ulceração nos pés. Seu baixo custo pode permitir seu amplo uso, especialmente em ambientes de atenção primária, onde os recursos podem ser limitados, contribuindo assim para a redução da ocorrência de úlceras nos pés e amputações de membros inferiores.
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INFOGRÁFICO SOBRE PÉ DIABÉTICO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 FEPECS
2 SES/DF
Apresentação/Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) é responsável por diversas complicações, como neuropatia periférica e doença arterial periférica, culminando em úlceras, infecções e amputações. Em 2022, o Sistema Único de Saúde registrou 48 amputações diárias; nos primeiros quatro meses de 2023, esse número subiu para 52. Estima-se que 85% dessas amputações seriam evitadas com a aplicação de medidas preventivas efetivas.
Objetivos
Construir e validar um infográfico educativo sobre Pé Diabético com profissionais especialistas em Atenção Primária à Saúde (APS) ou com experiência na assistência a pessoas com DM, visando à qualificação das ações de prevenção.
Metodologia
Trata-se de um estudo metodológico de abordagem quantitativa voltado à construção e validação de conteúdo educativo, direcionado a profissionais da APS. As etapas incluíram: (1) revisão bibliográfica; (2) elaboração gráfica do conteúdo em formato de infográfico; e (3) validação do instrumento. A coleta de dados ocorreu em duas etapas, sendo a segunda realizada após ajustes realizados conforme sugestões dos avaliadores. Os dados foram analisados através do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e do coeficiente Kappa com Índice de Confiança (IC) de 95%, para efetuar a análise da concordância entre os avaliadores, considerando-se cada seção do instrumento avaliado.
Resultados
O formulário contendo o infográfico produzido e o instrumento avaliativo de Menezes et al (2023) foi respondido por 10 juízes do Distrito Federal, assim como planejado pelo projeto. No primeiro ciclo de coleta de dados, o IVC geral foi de 0,84, valor superior ao mínimo preconizado, indicando boa concordância quanto à validade, qualidade e aplicabilidade do material. O coeficiente Kappa médio foi de 0,55. Após reformulações no infográfico, uma nova rodada de validação foi conduzida com os mesmos juízes. Os resultados da segunda coleta de dados confirmaram melhora na concordância, consolidando o material como adequado para uso na prática profissional na APS.
Conclusões/Considerações
O infográfico foi considerado validado após duas etapas de avaliação, com IVC final de 0,91 e Kappa de 0,52, satisfatórios e suficientes para qualificar o material como apto para utilização. Espera-se auxiliar os profissionais da APS em ações de rastreamento, além de subsidiar gestores na formulação de estratégias de capacitação, reconhecendo a relevância da prevenção das complicações e agravos decorrentes da doença do pé relacionada ao Diabetes.
SOBREVIDA, EM 10 ANOS, DE IDOSOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, SEGUNDO SEXO
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
Em 2021, mais de 1 em cada 10 adultos, viviam com diabetes mellitus (DM) no mundo e a prevalência de hipertensão arterial (HAS) dobrou entre 1990 e 2019. A população idosa é particularmente vulnerável a essas doenças. No Brasil poucos estudos avaliaram a sobrevida de idosos segundo HAS e DM, sobretudo avaliando as desigualdades de sexo. Este trabalho contribui para preenchimento dessa lacuna.
Objetivos
Estimar a sobrevida e o risco de morte segundo hipertensão e diabetes, em análises estratificadas por sexo.
Metodologia
Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo que teve como base o Inquérito de Saúde do município de Campinas (ISACamp - 2008/09), com 1.519 idosos. Foi realizado um linkage probabilístico dos dados do ISACamp com o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), além de rastreamento ativo por telefone e visitas para identificação de óbitos no período de 2008 a 2018. O desfecho do estudo foi o tempo até o óbito e as variáveis de exposição foram ter ou não diabetes e hipertensão. Foram realizadas análises de sobrevida, estratificada por sexo, por meio do Kaplan Maier (testadas as diferenças com Log-Rank) e estimados os Hazard Ratios (HR) por modelos de Cox (brutos e ajustados por idade).
Resultados
Dos 1.519 idosos houve 208 perdas e ao final foram estudados 1.311 com idade média de 70,4 anos. A sobrevida foi menor nos hipertensos (p=0.0360) e nos diabéticos (p=0.0013). No entanto as diferenças entre as curvas foram significativas apenas no sexo masculino. Na análise ajustada, o risco de morte nos diabéticos foi 39% (HR=1,39; IC95%: 1,14 – 1,69) maior em relação aos não diabéticos. No sexo masculino, o DM aumentou o risco de óbito em 67% (HR=1,67; IC95%: 1,26 – 2,23). Nos homens hipertensos o risco de morte foi 36% (HR=1,36; IC95%: 1,04 – 1,79) maior em relação aos não hipertensos. Não houve associação entre diabetes e hipertensão com a sobrevida no sexo feminino.
Conclusões/Considerações
Os achados mostram que o DM e a HAS impactam a sobrevida da população idosa masculina, mas não houve associação na população feminina. Este estudo alerta para a atenção às práticas de controle do DM e da HAS nos homens idosos e reforça a importância de atualização e manutenção da política de saúde do homem, sobretudo considerando a vulnerabilidade masculina à procura e aderência a serviços e cuidados em saúde.
PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS SOBRE O CUIDADO À PESSOA COM ASMA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE PERNAMBUCO
Pôster Eletrônico
1 UPE
2 UEPB
Apresentação/Introdução
Uma Rede Integrada de Serviços de Saúde (RISS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, coordenado e articulado de diferentes níveis, responsáveis pela saúde de uma população definida, especialmente em doenças crônicas, como a asma. Apesar dos esforços de organização das RISS, muitos profissionais desconhecem conceitos e fluxos, gerando fragmentação, descontinuidade do cuidado.
Objetivos
Analisar as percepções dos profissionais de saúde sobre a Rede de Atenção à Saúde de Pernambuco (RAS-PE), no contexto do cuidado à pessoa com asma.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo de abordagem interpretativa, fundamentado no marco teórico das RISS proposto por Shortell. A coleta de dados foi realizada nos Distritos Sanitários 3 e 7, por meio de entrevistas presenciais com 16 profissionais de saúde (PS) da RAS-PE (níveis primário, secundário e terciário) possuindo experiência mínima de seis meses no cargo. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado e foram analisadas utilizando a técnica de análise de conteúdo, além da análise narrativa fundamentada na fenomenologia social de Alfred Schutz. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº 61302722.8.0000.5192).
Resultados
Os PS tiveram dificuldade em conceituar as RAS-PE, porém expressaram suas concepções através de exemplos do cotidiano. As respostas variaram entre a articulação entre níveis e contrarreferência. Ainda sobre a definição de RAS-PE, surgiram falas afirmando que não existe uma RAS integrada, que existe apenas uma idealização. Muitos relataram falhas na comunicação no cuidado de pacientes com asma, à exceção na comunicação com os CAPS. A ausência de comunicação efetiva e a burocracia são apontadas como entraves que comprometem a coordenação e a continuidade do cuidado ao paciente com asma.
Conclusões/Considerações
Os profissionais apresentaram compreensão limitada sobre a RAS-PE, revelando sua percepção da rede limitada a articulação entre os níveis de atenção e a contrarreferência. A falta de comunicação e integração entre os níveis de atenção, associada à burocracia, compromete a coordenação do cuidado à pessoa com asma em Pernambuco, evidenciando a necessidade de estratégias para qualificar e fortalecer a rede.
LAÇOS DE CUIDADO: O APOIO FAMILIAR NA MOTIVAÇÃO AO TRATAMENTO DO DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é o mais prevalente, tendo uma significativa carga de mortalidade por complicações. Contudo, a adesão terapêutica permanece como um problema com causas multifatoriais. Nesse contexto, a motivação emerge como ponto chave na busca por um manejo eficaz e o apoio familiar tem um impacto significativo no bem-estar físico e emocional do indivíduo.
Objetivos
Analisar a influência do apoio familiar na motivação ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
Estudo analítico, qualitativo, realizado por meio de entrevistas cognitivas em Unidades Básicas de Saúde de Teresina (PI), Brasil. Participaram 30 pessoas com diabetes tipo 2, selecionadas aleatoriamente, em seis unidades de saúde. A coleta ocorreu entre janeiro e março de 2023, com a pergunta norteadora: “O que o motiva a seguir o tratamento do diabetes?”. As entrevistas foram analisadas com o auxílio do software IRAMUTEQ. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética sob o parecer 5.767.337, conforme as resoluções do CNS 466/2012 e 580/2018.
Resultados
Dos 30 participantes, 53,3% eram mulheres, com média de idade de 62,7 anos. A maioria se declarou parda (53,3%) com tempo de diagnóstico entre 1 a 15 anos (70%), com uso predominante de medicamento oral (80%), sendo que 23,3% usavam insulina. Ademais, 76,7% utilizavam medicações para outras condições e 73,3% relataram complicações, sobretudo hipertensão. O apoio familiar e social emergiu como elemento central da motivação com as palavras “família”, “motivar” e “tratamento”. Os relatos trazem que o suporte emocional dos familiares contribui para a adesão terapêutica e o alcance de metas. Tendo os determinantes sociais na atuação direta sobre a doença.
Conclusões/Considerações
Portanto, este estudo reforça como o apoio familiar e social é de suma importância na motivação ao tratamento do diabetes tipo 2, auxiliando na adesão à terapêutica, no autocuidado e na busca por hábitos saudáveis.
DO DIAGNÓSTICO À AÇÃO: FATORES MOTIVACIONAIS E BARREIRAS NO ESTILO DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM DIABETES
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
O diabetes mellitus, é uma síndrome complexa e multifatorial, é uma das maiores causas de morbimortalidade por doenças crônicas no Brasil e é um dos eixos prioritários na atenção básica em saúde. Seu manejo requer terapia medicamentosa associada à adoção de hábitos saudáveis, sendo a motivação do indivíduo crucial para o sucesso terapêutico e melhoria da qualidade de vida.
Objetivos
Descrever os fatores motivacionais e barreiras no estilo de vida de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
Estudo analítico, qualitativo, realizado por meio de entrevistas cognitivas em Unidades Básicas de Saúde de Teresina (PI), Brasil. Participaram 30 pessoas com diabetes tipo 2, selecionadas aleatoriamente, em seis unidades de saúde. A coleta ocorreu entre janeiro e março de 2023, com a pergunta norteadora: “O que o motiva a seguir o tratamento do diabetes?”. As entrevistas foram analisadas com o auxílio do software IRAMUTEQ. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética sob o parecer 5.767.337, conforme as resoluções do CNS 466/2012 e 580/2018.
Resultados
Dos 30 participantes, 53,3% eram mulheres, com média de idade de 62,7 anos. A maioria se declarou parda (53,3%) com tempo de diagnóstico entre 1 a 15 anos (70%), com uso predominante de medicamento oral (80%), sendo que 23,3% usavam insulina. A mudança no estilo de vida, ganha destaque nos discursos, voltando-se para questões alimentares com os vocábulos “comer”, “doce", “gordura”, “sal”, “dieta” e exercício físico, com a palavra “atividade”. As falas revelam a visão dos entrevistados sobre a abordagem terapêutica não-farmacológica e os fatores motivacionais envolvidos. Assim como, as barreiras de se manter uma alimentação saudável, relatado por meio das palavras “caro”, “condição”.
Conclusões/Considerações
O estudo destacou a mudança de hábitos como a reeducação alimentar e a incorporação de atividade física como importantes no controle do diabetes. No entanto, apontou desafios relacionados ao custo elevado dos alimentos e as limitações socioeconômicas de muitos pacientes. Abordagens integradas que combinem aspectos nutricionais, físicos e psicológicos, mostram-se promissoras para melhor adesão e consequente controle da doença.
TENDÊNCIA DAS TAXAS DE INTERNAÇÕES POR NEOPLASIAS MALIGNAS DE CÓLON, RETO E ÂNUS NA POPULAÇÃO ACIMA DE 30 ANOS, BRASIL, 2010-2024.
Pôster Eletrônico
1 SLMA
Apresentação/Introdução
O câncer colorretal (CCR) é a quarta neoplasia mais incidente no Brasil. Apesar da ocorrência esporádica, fatores como idade avançada, hábitos de vida inadequados e inflamações intestinais associam-se ao seu desenvolvimento. Diante do aumento dos casos em adultos jovens, que podem demandar por assistência à saúde, há necessidade de investigação do perfil das internações por esta condição.
Objetivos
Descrever a distribuição das internações por câncer de cólon, reto e ânus na população com idade ≥ 30 anos no Brasil, de acordo com as características sociodemográficas.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, com dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares e projeções populacionais do IBGE, através do sítio do TabNet/DATASUS. Foram incluídas internações por neoplasia maligna do cólon (C18), junção retossigmóide, reto, ânus e canal anal (C19–C21), registradas entre 2010 e 2024. As variáveis foram: região de residência, sexo, faixa etária, raça/cor. Utilizou-se estatística descritiva na análise dos dados, foram calculadas taxas por 100.000 habitantes, com uso do Microsoft Excel. O trabalho dispensou apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa por utilizar dados secundários de domínio público.
Resultados
Foram registradas 1.134.073 internações por CCR entre 2010 e 2024. As maiores proporções foram registradas nos homens (50,4%), pessoas de 60-69 anos (30,2%), brancas (54,1%) e no Sudeste (47,4%). No Brasil, a tendência foi crescente e a taxa passou de 20,1/100 mil em 2010 para 48,8 em 2024. As internações aumentaram em todas as regiões, com maiores taxas no Sul (36,8 para 106,1/100 mil) e Sudeste (24,6 para 52,9/100 mil), na faixa de 70-79 anos (114,2 a 210,3/100 mil) e 60-69 anos (90,9 a 181,7/100 mil). Apesar do aumento em ambos os sexos, as taxas foram mais altas nos homens (92,1/100 mil versus 78,4/100 mil nas mulheres em 2024).
Conclusões/Considerações
Observou-se crescimento nas taxas de internações por CCR no Brasil entre 2011 e 2024, foi maior nos homens e nos idosos, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. A tendência ascendente em todas as faixas etárias e regiões indicam a necessidade de estratégias específicas de prevenção, diagnóstico precoce e ampliação do acesso aos serviços de saúde.
SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA ENTRE MULHERES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
A sonolência diurna é caracterizada pela redução do estado de alerta e consciência necessária durante o dia, ocasionando prejuízo das funções de vigília, redução da produtividade e interferência na qualidade de vida. Mulheres geralmente são mais afetadas por essa condição, em razão da dupla jornada, condições sociodemográficas e em alguns casos devido a desigualdades econômicas.
Objetivos
estimar a prevalência de sonolência diurna excessiva entre mulheres adultas e sua relação com características socioeconômicas.
Metodologia
Estudo transversal, com dados de uma base populacional, realizado no município de Vitória no Espírito Santo em 2022, com 1086 mulheres com idade entre 18 anos ou mais. A sonolência diurna excessiva foi verificada através da escala de Epworth, neste, seis questões foram avaliadas, correspondendo a um intervalo total de zero a dezoito pontos. Mediana e intervalo interquartil foram verificados diante da assimetria do score, confirmada por Shapiro-Wilk. Posteriormente, testes Kruskal-Wallis e Wilcoxon para comparar as distribuições das pontuações entre os grupos sociodemográficos, com nível de significância de 5%, utilizando o software Stata versão 17.0.
Resultados
A pontuação mediana do Epworth na amostra foi de 6 (intervalo 25% em 2%), sendo consideradas com maior tendência a sonolência diurna aquelas com pontuação acima de 9 (intervalo em 75%). Foi encontrada uma diferença significativa nas pontuações de mediana da sonolência diurna com a faixa-etária, raça-cor e renda familiar percapita (p<0,001). Mulher jovens (18 a 29 anos de idade) apresentam maior mediana de sonolência diurna, não brancas e aquelas que pertencem ao primeiro tercil da renda familiar. Não há relação da sonolência com a religião, escolaridade e raça-cor.
Conclusões/Considerações
O estudo identificou maior prevalência de sonolência diurna excessiva em mulheres jovens, não brancas e de menor renda, sugerindo que fatores sociodemográficos e econômicos influenciam esse quadro. Compreender esse quadro é importante pois reforça políticas de saúde voltadas para a mulher, especialmente aquelas que estão em grupos vulneráveis, visando reduzir impactos na produtividade e qualidade de vida.
TEMPO DE ESPERA PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFRN
2 UPE
3 INCA
Apresentação/Introdução
No Brasil, indivíduos com diagnóstico confirmado de câncer têm o direito legal de iniciar o tratamento em até 60 dias. O cumprimento desse prazo é particularmente crítico para o câncer de mama, devido à sua alta incidência e mortalidade entre mulheres brasileiras.
Objetivos
Este estudo tem como objetivo avaliar o cumprimento da Lei dos 60 dias nos casos de câncer de mama em mulheres no Brasil, analisando as tendências antes e após a promulgação da legislação, no período de 2006 e 2019.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, com dados extraídos do Integrador de Registros Hospitalares de Câncer (IRHC) do Brasil. Calculou-se o tempo, em dias, entre a data do primeiro diagnóstico e o início do tratamento, categorizando-o em “até 60 dias” e “mais de 60 dias”. Os casos foram divididos em dois grupos, com base na presença ou ausência de diagnóstico prévio à chegada na unidade de tratamento oncológico. As tendências dos percentuais de conformidade com lei foram analisadas por meio de regressão Joinpoint.
Resultados
Entre 2006-2019, forma registrados 324.806 casos de câncer de mama. Desses, 51,9% (IC 95%: 51,7-52,0) iniciaram o tratamento em até 60 dias. Em todas as unidades federais e em ambos os períodos (antes e depois da lei), os casos sem diagnóstico prévio apresentaram maiores percentuais de início oportuno do tratamento (até 60 dias), em comparação com aqueles com diagnóstico prévio. A tendência nacional para o grupo sem diagnóstico prévio indicou um aumento anual de 1,1% (IC 95%: 0,3-3,4) até 2016, seguido por declínio de 2,3% ao ano (IC 95%: -5,1/-0,9). O grupo com diagnóstico prévio apresentou tendência de diminuição de 2,0% ao ano (IC 95%: -2,6/-1,5) ao longo do período analisado.
Conclusões/Considerações
Os resultados mostram que os tempos de espera para o tratamento do câncer de mama no país frequentemente ultrapassam o limite legal, ressaltando a necessidade de acelerar os fluxos de encaminhamentos e início do tratamento, afim de garantir o acesso ao tratamento em tempo oportuno.
SITUAÇÃO NUTRICIONAL DE GESTANTES COM DIABETES MELLITUS
Pôster Eletrônico
1 UNIFOR
Apresentação/Introdução
Durante a gestação, o corpo da mulher passa por uma série de adaptações fisiológicas e hormonais que podem levar ao desenvolvimento de complicações de saúde ou agravamento de condições preexistentes. Essas complicações, quando não controladas, podem colocar em risco a vida da mãe e do feto e compreender essas experiências é fundamental para um processo de intervenção de prevenção.
Objetivos
Compreender como ocorre o cuidado nutricional das gestantes com diabetes mellitus e suas implicações na saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, realizado na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), no município de Fortaleza, Ceará. A instituição é referência no atendimento ginecológico e obstétrico para gestantes de alto risco. Participaram dessa pesquisa 32 gestantes, diagnóstico comprovado de diabetes gestacional, idade igual ou superior a 18 anos. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas, com duração média de 20 a 40minutos, atendendo a disponibilidade da participante. Questões sobre os cuidados das gestantes com a sua alimentação e a opinião acerca da alimentação oferecida pela instituição direcionaram a análise. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UNIFOR, com o n°5.266.585.
Resultados
Com idade entre 18 a 32 anos, as ideias centrais dos discursos das 32 participantes mostraram-se recorrentes e originaram três temáticas: ‘’Percepção positiva da alimentação ‘’ , ‘’Desafios no processo de adaptação da alimentação’’ e ‘’Anseios acerca da comunicação ineficaz e impactos no cuidado médico”. É fundamental destacar a importância de ações articuladas dos profissionais de saúde na mediação entre as necessidades clínicas e o seguimento de protocolos, ajustando às preferências alimentares das pacientes. A atenção humanizada contribui para reduzir a ansiedade e o sofrimento psíquico relacionados à internação e as incertezas do ciclo gravídico e o cuidado nutricional.
Conclusões/Considerações
Implementar acompanhamento clínico e multiprofissional desde os estágios iniciais da gestação possibilita uma abordagem mais assertiva, promove o autocuidado, o controle adequado e a adesão às recomendações de estilo de vida saudável. Assim, essa estratégia contribui para um desenvolvimento fetal mais seguro e a manutenção da saúde materna. Essa ações, reforça a importância de práticas preventivas e educativas no cuidado gestacional.
TEMPO DE ESPERA ENTRE O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO EM MULHERES COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFRN
2 INCA
3 UPE
4 Universidad Científica del Sur
Apresentação/Introdução
O câncer do colo do útero é a 4ª causa de morte por câncer em mulheres globalmente. No Brasil, é o 3º tipo mais comum, excluindo tumores de pele não melanoma. Para reduzir o tempo de espera pós-diagnóstico, foi publicada a Lei 12.732/12 que garante tratamento no SUS em até 60 dias após a confirmação da doença.
Objetivos
Analisar a conformidade da Lei para os casos de câncer de colo uterino que chegaram às unidades hospitalares com e sem diagnóstico prévio, no período de 2006 a 2019.
Metodologia
Se trata de um estudo ecológico de série temporal, baseado em dados do Integrador de Registros Hospitalares de Câncer (IRHC). Os casos foram divididos em dois grupos (sem e com diagnóstico prévio) e analisados nos períodos antes (2006 a 2012) e após a promulgação da lei (2013 a 2019). A tendência do percentual de cumprimento foi analisada utilizando o Joinpoint Regression Program.
Resultados
Observou-se que no Brasil, as pacientes que chegam sem diagnóstico têm maior percentual de adequação à lei dos 60 dias em comparação às pacientes com diagnóstico prévio, exibindo percentuais de 66,7% e 28,7%, respectivamente. Além das variações inter regionais e interestaduais, houve uma diferença no percentual de adequação em ambos os grupos. O grupo sem diagnóstico apresentou um aumento do percentual após a instituição da lei e o grupo com diagnóstico apresentou uma redução do percentual.
Conclusões/Considerações
Tais achados parecem estar associados à complexidades no ordenamento da linha de cuidado ao paciente oncológico e Planos Estaduais de Atenção Oncológica, bem como nas possíveis disparidades assistenciais em relação ao tempo de início do tratamento entre mulheres que chegam com ou sem diagnóstico prévio. Estratégias para otimizar as redes de atenção são necessárias, visando garantir o tratamento em tempo oportuno para os pacientes oncológicos.
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES RENAIS TRANSPLANTADOS: ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA E BIOQUÍMICA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Goiás
2 Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi
Apresentação/Introdução
O estado nutricional de pacientes transplantados renais é crucial para a recuperação e manutenção da saúde. Alterações nutricionais impactam diretamente a qualidade de vida e os desfechos clínicos, o que exige uma avaliação contínua. Este estudo descreve o estado nutricional de pacientes renais transplantados com base em parâmetros antropométricos e bioquímicos.
Objetivos
Avaliar o estado nutricional, antropométrico e bioquímico de pacientes renais transplantados
Metodologia
Estudo transversal com 43 pacientes renais transplantados. Foram coletados dados antropométricos (peso prévio e atual, IMC e circunferência da cintura) e bioquímicos (TG, CT, HDL, LDL e glicemia). Para três pacientes (6,7%) sem peso prévio, utilizou-se o peso atual. A análise estatística foi realizada no software STATA® 14.0. A normalidade foi testada pelo Shapiro-Wilk, com aplicação dos testes t de Student ou U de Mann-Whitney, conforme a distribuição, resultados com um p<0,05 foram considerados significativos.
Resultados
O peso médio atual foi 64,07 ± 11,98 kg e o IMC 24,15 ± 4,48 kg/m²: 11,63% estavam em baixo peso, 55,81% eutróficos e 32,56% com excesso de peso. A circunferência da cintura foi 89,17 ± 11,95 cm, com 58,14% apresentando risco cardiovascular aumentado. Os triglicerídeos foram 154,36 ± 75,86 mg/dL; CT 156,48 ± 39,43 mg/dL; HDL 37,74 ± 14,73 mg/dL; e LDL 90,88 ± 32,03 mg/dL. HDL baixo ocorreu em 69,77% e glicemia elevada em 18,60%. Observou-se alta prevalência de pacientes eutróficos pelo IMC com CC elevada e dislipidemia, o que pode indicar obesidade eutrófica.
Conclusões/Considerações
Os resultados apontam alterações nutricionais relevantes em pacientes transplantados renais, como excesso de peso, aumento da circunferência da cintura e dislipidemias, principalmente baixas concentrações de HDL. A observância de possível obesidade eutrófica destaca a importância da avaliação nutricional contínua, com vistas à detecção precoce de riscos metabólicos e à adoção de intervenções eficazes no pós-transplante.
ASSOCIAÇÃO DO SONO E DA CRONONUTRIÇÃO COM A FUNÇÃO COGNITIVA EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS
Pôster Eletrônico
1 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)
Apresentação/Introdução
O Diabetes mellitus (DM) é uma condição crônica prevalente, com intensas repercussões na saúde, incluindo prejuízos na função cognitiva. Todavia, os fatores de risco envolvidos no declínio cognitivo associado ao DM ainda não estão bem esclarecidos. Assim, considera-se a contribuição do sono e da crononutrição, reguladores do ritmo circadiano do organismo, no desenvolvimento deste desfecho.
Objetivos
Avaliar a associação do sono e da crononutrição com a função cognitiva em indivíduos com DM.
Metodologia
Estudo transversal, entre março e agosto de 2023, com indivíduos com ≥18 anos, diagnóstico de DM, atendidos em uma clínica universitária do sul do país. Crononutrição (janela de alimentação, omissão do café da manhã, latência noturna, hora da última refeição, comer noturno, maior refeição) e duração do sono foram avaliadas pelo Questionário de Perfil Crononutricional, e a qualidade do sono de forma autorreferida. A Avaliação Cognitiva de Montreal classificou o declínio cognitivo. Regressão de Poisson ajustada com variância robusta e modelo hierárquico de três níveis (1 – variáveis demográficas; 2 – fatores socioeconômicos; 2 – comportamentos e saúde) foi usada para análise dos resultados.
Resultados
Foram estudados 365 indivíduos (91,3% de taxa de resposta). Maior prevalência de declínio cognitivo (pontuação inferior à 21 na Avaliação Cognitiva de Montreal) foi encontrada em indivíduos com qualidade do sono ruim/muito ruim comparados àqueles qualidade muito boa/boa (RP=1,28 [IC95%1,09;1,51]), e em indivíduos com longa duração do sono (≥9 horas/dia) comparados àqueles com duração adequada (7-8 horas/dia) (RP=1,25 [IC95% 1,06;1,48]). Menor prevalência de declínio cognitivo foi encontrada nos indivíduos que omitiam o café da manhã em 4 ou mais dias por semana, comparados aos que omitiam em 1 dia ou menos por semana (RP=0,76 [IC95% 0,58;0,98]). As demais variáveis não foram associadas.
Conclusões/Considerações
Aspectos relacionados ao sono e à crononutrição foram associados ao declínio cognitivo em indivíduos com DM. Estes achados ressaltam a importância de atuar em múltiplas frentes terapêuticas no manejo do DM e de suas consequências. Além disso, reforçam a necessidade de ações de saúde que incluam o sono e a crononutrição em sua agenda, uma vez que são fatores de risco modificáveis com repercussões na função cognitiva de indivíduos com DM.
PÉ DIABÉTICO E AMPUTAÇÕES NO BRASIL: REVISÃO EPIDEMIOLÓGICA (2012–2021) E PERSPECTIVAS PARA A PREVENÇÃO NO CUIDADO EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 FSL
Apresentação/Introdução
A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que ocorre no pâncreas definida como uma síndrome metabólica da falta de insulina ou da incapacidade de exercer seus efeitos, que aumentam a glicemia. O pé diabético é uma condição da diabetes não controlada, que causa uma série de complicações, como infecções e problemas na circulação dos membros inferiores, e através das feridas levam a amputações.
Objetivos
Analisar dados de amputações por pé diabético no Brasil (2012–2021), promovendo decisões baseadas em evidências para ações de prevenção, controle e promoção da saúde no SUS.
Metodologia
Trata-se de estudo observacional, analítico e descritivo, com análise secundária de dados públicos nacionais. Foram utilizados registros hospitalares, ambulatoriais e de mortalidade, no período de 2012 a 2021. A seleção temporal se justifica pela disponibilidade e relevância epidemiológica dos dados. Os registros passaram por curadoria e tratamento estatístico. Também foram realizadas buscas em bases científicas, com termos relacionados a diabetes, pé diabético e amputações.
Resultados
Entre 2012 e 2021, o número de amputações aumentou significativamente em estados como Alagoas (173%), Roraima (160%), Ceará (146%) e Rondônia (116%). Amapá e Amazonas foram os únicos com queda, de 29% e 25%. Em números absolutos, São Paulo liderou (51.101), seguido por Minas Gerais (26.328) e Rio de Janeiro (21.265). Amapá (315), Roraima (352) e Acre (598) registraram os menores totais. O panorama aponta disparidades regionais importantes.
Conclusões/Considerações
Os dados revelam crescimento preocupante nas amputações por complicações do diabetes, indicando falhas na prevenção e cuidado precoce. O avanço da doença demanda políticas públicas de saúde eficazes, com foco em estratégias preventivas, integradas e baseadas em evidências, visando preservar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir os custos ao SUS.
ASSOCIAÇÃO ENTRE AUTOAVALIAÇÃO DE SAÚDE E INDICADORES DE SAÚDE MENTAL EM UNIVERSITÁRIOS: RESULTADOS DE ESTUDO TRANSVERSAL MULTICÊNTRICO
Pôster Eletrônico
1 UFJF-GV
2 UFOP
Apresentação/Introdução
A autoavaliação de saúde (AAS) é um indicador validado, amplamente utilizado em estudos epidemiológicos que visam acessar a percepção do indivíduo sobre sua saúde. Sua relevância reside na capacidade de predizer eventos de morbimortalidade futuros. Universitários estão expostos a fatores que influenciam negativamente a AAS, o que torna importante elucidar os fatores associados à AAS nesse grupo.
Objetivos
Determinar o perfil da autoavaliação de saúde, por sexo, e verificar sua associação com variáveis sociodemográficas, atividade física e indicadores de saúde mental em estudantes universitários de Minas Gerais (MG).
Metodologia
Estudo multicêntrico, transversal, que incluiu 8650 universitários de 18 anos ou mais, matriculados em cursos de graduação de 8 Universidades Federais em MG. A coleta foi realizada via questionário online, autoaplicado, composto por questões sociodemográficas e acadêmicas, hábitos de vida, atividade física (AF), condições de saúde, etc. A AAS foi recategorizada em positiva (AAS+: muito boa/boa) e negativa (AAS-: regular/ruim/muito ruim). Os dados foram descritos por meio de frequências absolutas e relativas e regressão logística univariada foi conduzida para testar associação entre AAS e as variáveis explicativas. Foram apresentados os Odds Ratios (OR), com nível de significância de 95%.
Resultados
AAS+ foi mais elevada em homens (57,66% x 51,29% p <0,05), nos autodeclarados brancos (55,65% x 50,98% p <0,05) e de 18-22 anos (54,87% x 51,64% p <0,05). Indivíduos satisfeitos com a imagem corporal e praticantes de AF tiveram, respectivamente, 4,53 (IC95% 4,13-4,97) e 2,67 vezes a chance de AAS+ que os que responderam negativamente à essas questões. Jovens com ideação suicida (OR 0,43; IC95% 0,39-0,47), autolesão no último ano (OR 0,47; IC95% 0,42-0,52), sintomas de ansiedade grave/muito grave (OR 0,32; IC95% 0,29-0,35) ou moderada (OR 0,31; IC95% 0,27-0,36) e de depressão grave/muito grave (OR 0,24; IC95% 0,24-0,30) ou moderada (OR 0,45; IC95% 0,40-0,51) tiveram menores chances de AAS+.
Conclusões/Considerações
A ASS está associada, a indicadores de saúde mental, à imagem corporal e à AF nos estudantes universitários. Esses achados evidenciam vulnerabilidades que afetam a saúde integral dos jovens no ensino superior, muitas vezes agravadas por desigualdades sociais e institucionais. Há urgência na formulação de políticas institucionais, com foco em ações coletivas e no cuidado integral; que promovam a saúde mental e o bem-estar desse grupo.
ATENÇÃO A HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 FEFF, UFAM
2 PPGVIDA, Fiocruz
3 ILMD, Fiocruz
Apresentação/Introdução
A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do serviço de saúde no Brasil, fundamental na oferta de cuidados à população, especialmente para pessoas com hipertensão e diabetes. O Programa Mais Médicos (PMM) tem buscado ampliar o acesso da atenção básica e diminuir o déficit de profissionais em equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).
Objetivos
Descrever como os indicadores de cuidado na linha de atenção a hipertensos e diabéticos se comportaram nas equipes de saúde da família convencionais e naquelas que aderiram ao Programa Mais Médicos no Brasil nos primeiros anos do programa.
Metodologia
Estudo ecológico, descritivo e exploratório. A unidade de análise foram as equipes da ESF (40 horas), com dados de produção mensal de 2013-2014 no Brasil, a partir do Sistemas de Informações da Atenção Básica e e-SUS Mais Médicos. Utilizou-se os indicadores: proporção de hipertensos e/ou diabéticos cadastrados, proporção de acompanhados e média de atendimentos anuais a esses pacientes, razão para cada morbidade pela proporção de idosos no território. Foram aplicados filtros de limite (2,5% e 97,5%) para população cadastrada. A análise estatística foi baseada em cálculo de proporções, médias e intervalos de 95% de confiança, segundo regiões brasileiras, perfil de municípios e tipo de equipe.
Resultados
A proporção de hipertensos (HAS) e diabéticos (DM) cadastrados no Brasil foi de 12,7% e 3,1%, respectivamente, com variações regionais: Norte com 7,3% e 1,8%; Sudeste com 15,5% e 4,1% para HAS e DM, e com maiores proporções em municípios de Regiões Metropolitanas e Demais localidades, para ambas. A proporção de acompanhados no Brasil foi de 88% e 90% do total de HAS e DM cadastrados, respectivamente. Maiores proporções de acompanhados foram encontradas na região Norte e em municípios com perfil de pobreza. A média mensal de atendimento pelas equipes no Brasil foi de 3,3 para HAS e 4,7 para DM. A análise por tipo de equipe (convencionais e Mais Médicos) mostrou semelhanças destes indicadores.
Conclusões/Considerações
O estudo encontrou baixa prevalência de hipertensos e diabéticos cadastrados nas ESF no Brasil em 2013 e 2014, o que pode estar associado a sub-registro de casos pelas equipes no território. Os indicadores diferiram por região e tipo de município, mas não foram observadas diferenças significativas entre as equipes com e sem o profissional Mais Médicos no Brasil na linha de atenção a hipertensos e diabéticos no início do programa.
TENDÊNCIA ESPAÇO-TEMPORAL DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE PULMÃO EM IDOSOS NO ESTADO DO PARANÁ
Pôster Eletrônico
1 UEM
Apresentação/Introdução
O câncer de pulmão (CP) é uma das neoplasias mais incidentes e letais globalmente, representando um dos maiores desafios epidemiológicos na atualidade.
Objetivos
Avaliar a tendência espaço-temporal de mortalidade por câncer de pulmão em idosos no estado do Paraná, Brasil, entre 2014 a 2023.
Metodologia
Foram utilizados os dados secundários dos óbitos por CP (CID C34) do Sistema de Informação sobre mortalidade em indivíduos de 60 anos ou mais residentes no estado do Paraná, Brasil, entre os anos de 2014 e 2023 e população idade-ajustada para a análise da tendência por meio do cubo espaço-temporal seguido de áreas quentes emergentes, conforme aprovado pelo parecer nº 6.464.116/2023 do comitê de ética da Universidade Estadual de Maringá.
Resultados
Observou-se que não houve uma tendência no período estudado (valor da tendência = -0,1789 e valor de p = 0,8570) com a formação de regiões frias oscilantes próximo a região metropolitana de Londrina e Curitiba e uma grande parte da região sudoeste, regiões frias oscilantes em algumas porções da região sudoeste, regiões quentes esporádicas indo do nordeste para leste e uma parte do sul-central e regiões quentes oscilantes em uma pequena porção nordeste do estado.
Conclusões/Considerações
Não houve uma tendência espaço-temporal na mortalidade por CP em idosos no estado do Paraná, embora algumas regiões mais com baixas taxas (frias) e altas (quentes) tenham sido observados no estado.
PREVALÊNCIA DE OBESIDADE METABOLICAMENTE SAUDÁVEL E FATORES ASSOCIADOS NA POPULAÇÃO ADULTA INDIGENA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESPÍRITO SANTO
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
A obesidade é uma doença em crescimento global que está associada a várias complicações, principalmente cardiometabólicas. Por outro lado, existe uma proporção de indivíduos com obesidade com menor número de anormalidades cardiometabólicas, condição denominada de obesidade metabolicamente saudável (OMS).
Objetivos
Determinar a prevalência de OMS e os fatores associados na população adulta indígena do município de Aracruz, Espírito Santo (ES).
Metodologia
Estudo transversal (2020-2022) feito em 1052 aldeados no litoral norte do ES. Sangue, antropometria, pressão arterial (PA) e questionários, foram coletados no Hospital da UFES. OMS definida: ser obeso (IMC ≥30 kg/m2) e ter ≤2 componentes da síndrome metabólica (glicemia de jejum >100 mg/dL ou uso de hipoglicemiante; HDL <40 mg/dL para H e <50 mg/dL para M, ou medicação para HDL baixo; triglicerídeos (TG) ≥150 mg/dL ou medicação para TG elevados; circunferência da cintura (CC) ≥94 cm em H e ≥80 cm em M; PA >130/85 mmHg ou uso de anti-hipertensivos). Apresentamos prevalências e Intervalos de Confiança (IC95%). Analisou-se possíveis associações da OMS aos fatores sociodemográficos via Poisson.
Resultados
Dos 1052 participantes, a prevalência de obesidade foi de 38,7% (IC95%: 35,8-41,7). A prevalência da OMS foi de 10,7% (IC95%: 8,7-9,1), sendo maior em mulheres (14,3%; IC95%: 11,7-17,2), do que em homens (5,6%; IC95%: 3,8-8,2). A prevalência de OMS diminui com aumento da idade: 20-39 anos – 14,4% (IC95%: 11,7-17,7); 40-50 anos - 7,8% (IC95%: 5,8 - 11,0); 60 ≥ - 4,0% (IC95%: 1,8 – 8,8). Ser mulher apresentou associação positiva com OMS (RP: 2,4; IC95%: 1,6 - 3,0), enquanto a idade mostrou associação inversa a OMS, principalmente na faixa etária de 40-59 anos (RP: 0,59; IC95%: 0,38 – 0,91), mesmo após ajuste para escolaridade e ocupação.
Conclusões/Considerações
Os resultados indicam que o sexo feminino está associado a uma maior frequência de OMS, independentemente da escolaridade e da ocupação, e que indivíduos de 40 a 59 anos apresentam menor ocorrência de OMS, evidenciando o risco da idade nessa faixa etária. Esses achados podem contribuir para o aprimoramento das estratégias de prevenção e intervenção, permitindo um direcionamento mais eficaz das ações voltadas à redução da obesidade.
TERRITORIALIDADES E MOBILIDADES: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO HIV NO CARNAVAL E A PRODUÇÃO DE SOCIABILIDADES URBANAS.
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
3 Universidade do Estado do Amazonas
4 Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
O Carnaval é um espaço de festa e diversidade. Em 2025, a campanha “Bora combinar?” articulou prevenção, prazer e diversidade, promovendo a PrEP como tecnologia de cuidado e liberdade. Em Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã (MS), ações locais ampliaram o acesso à testagem, insumos e informação, fortalecendo o SUS e práticas emancipatórias.
Objetivos
Analisar os desdobramentos da campanha “Bora combinar?” em três municípios de MS, observando como suas estratégias de comunicação em saúde dialogam com ações locais de prevenção ao HIV e práticas de cuidado voltadas às populações vulnerabilizadas.
Metodologia
Com abordagem qualitativa e netnográfica, este trabalho analisa os efeitos da campanha “Bora combinar?” durante o Carnaval de 2025, com base em observações de campo nas mídias digitais dos municípios de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã (MS). O trabalho integra o projeto “Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para prevenção ao HIV na América do Sul: etnografia das experiências de acesso, uso e gestão”, e foca nas estratégias de prevenção às ISTs, articulações de cuidado, comunicação e justiça social. As atividades envolveram distribuição de preservativos e autotestes, abordagens e materiais educativos e estratégias de comunicação em saúde.
Resultados
A campanha nacional forneceu diretrizes e visibilidade à prevenção combinada, mas sua implementação revelou desigualdades. Em Campo Grande, as ações priorizaram a responsabilização individual. Corumbá articulou a prevenção e enfrentamento à violência de gênero com políticas LGBTQIAPN+. Em Ponta Porã, as ações transfronteiriças ampliaram o alcance, mas enfrentam barreiras estruturais e culturais. Em todos os contextos, persistem desafios como o estigma, o medo do diagnóstico e a exclusão de populações-chave, demandando abordagens mais integradas, educativas e territorializadas.
Conclusões/Considerações
A análise da campanha “Bora combinar?” nas três cidades revela potências e limites da prevenção durante o Carnaval. No contexto da pesquisa nacional sobre PrEP, destaca-se a importância de ações que integrem prevenção combinada, justiça social e pedagogias do cuidado e da prevenção. Práticas micropolíticas e intersetoriais são essenciais para garantir o direito à saúde de populações historicamente marginalizadas.
VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA E SUA ASSOCIAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM ADULTOS BRASILEIROS
Pôster Eletrônico
1 UFC
2 UFMG
Apresentação/Introdução
A violência na infância é uma experiência adversa que pode comprometer o desenvolvimento e aumentar a vulnerabilidade a transtornos mentais comuns (TMC) na vida adulta. No Brasil, há poucos estudos que investigam essa associação em usuários da Atenção Primária à Saúde.
Objetivos
Analisar a associação entre a vivência de violência na infância e a prevalência de TMC em adultos usuários da Atenção Primária à Saúde em duas capitais brasileiras.
Metodologia
Estudo transversal com 634 participantes, com 18 anos ou mais, usuários de seis unidades de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG). A presença de TMC foi avaliada por meio do Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). A variável explicativa de interesse (não/sim) foi mensurada com a pergunta: “Quando você tinha 12 anos, algum adulto em sua casa batia forte em crianças?”. As magnitudes das associações (RP=Razões de Prevalências) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), ajustadas por idade, sexo, raça/cor, escolaridade e renda, foram estimadas por meio de regressão de Poisson com variância robusta. Adotou nível de significância de 5%.
Resultados
A maioria dos participantes foi composta por mulheres (83,46%), declarados pardos (55,51%) e com ensino médio completo (44,29%). A mediana de idade foi de 48 anos (47-48) e a renda predominante variou entre R$ 2.453,45 a R$ 3.680,15. A prevalência de violência da infância foi de 46.8% e de TMC na vida adulta foi de 47.2%. Após completo ajustamento, observou-se que indivíduos que relataram ter sofrido violência física na infância apresentaram uma prevalência 42% (IC95%: 1,19–1,69) maior de TMC, em comparação com aqueles que não vivenciaram esse tipo de adversidade.
Conclusões/Considerações
Os resultados reforçam a importância de políticas públicas e intervenções em saúde mental que priorizem a prevenção e o enfrentamento da violência infantil. Destaca-se, ainda, o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde (APS) na identificação precoce e no acompanhamento contínuo de crianças vítimas de violência, valorizando a longitudinalidade do cuidado como eixo fundamental para a redução de riscos futuros à saúde mental.
A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO COMBATE AO SEDENTARISMO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Juiz de Fora
Apresentação/Introdução
O aumento da comodidade proporcionado pela tecnologia está associado ao crescimento do sedentarismo, o que eleva o risco de doenças. Os servidores das universidades federais cuja rotina envolve atividades administrativas substituíram a movimentação física por comportamentos sedentários. Este estudo se refere a uma dissertação de mestrado profissional em administração pública.
Objetivos
Identificar a compreensão do servidor público federal sobre a promoção da saúde e o combate ao sedentarismo, quais ações de promoção da saúde são ofertadas pela instituição e quais são voltadas a prática de atividade físico e propor novas ações.
Metodologia
Estudo qualitativo desenvolvido por meio de pesquisa documental e entrevistas individuais gravadas. A investigação documental buscou identificar programas e projetos que visam a promoção da saúde para os servidores públicos na instituição correspondente ao estudo através de documentos oficiais como Plano de Desenvolvimento Institucional em setores como a Coordenação de Saúde Segurança e Bem-Estar do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal e na faculdade de Educação Física. A segunda etapa da coleta de dados será através das entrevistas presenciais gravadas com 22 assistentes administrativos. O tratamento destes dados será através da análise de conteúdo de Bardin.
Resultados
Os resultados primários apontaram um registro no plano de desenvolvimento institucional, o programa de qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos federais PRÓ-VIDA com sete projetos na Coordenação de Saúde Segurança e Bem-Estar, interrompidos por cortes de recursos do governo federal (2019 a 2022). Apenas o programa “yoga e saúde” está ativo relacionado a promoção da saúde com atividade física. Na faculdade de Educação Física não foram encontrados projetos de promoção da saúde com atividade física exclusivos para servidores, nas redes sociais da instituição Facebook, Instagram e Youtube encontrou-se 39 postagens de projetos sobre promoção da saúde sendo 19 com atividade física.
Conclusões/Considerações
Observa-se que embora a universidade federal tenha utilizado suas redes sociais para divulgar ações de promoção da saúde a frequência se mostra limitada. Os resultados preliminares apontam para a importância de estratégias mais consistentes, planejadas e inclusivas, que consolidem o papel da universidade como promotora ativa da saúde em seus múltiplos aspectos.
CUIDADO DE FIM DE VIDA EM PACIENTES COM CÂNCER DE ALTA LETALIDADE ASSISTIDOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 PPGSC, UFJF
2 Instituto Oncológico 9 de Julho
Apresentação/Introdução
O câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil, com tendência a ocupar o primeiro lugar. A maioria dos óbitos por câncer ocorre em hospitais, refletindo um modelo assistencial hospitalocêntrico no fim da vida. Há uma lacuna significativa sobre os cuidados oferecidos nesses serviços, dificultando o planejamento, a racionalização de recursos e a avaliação da assistência terminal no país.
Objetivos
Caracterizar o perfil demográfico, clínico e assistencial de pacientes com cânceres de alta letalidade que morreram em hospitais públicos ou conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na utilização de recursos hospitalares no fim da vida
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, estômago, fígado ou pâncreas, que morreram por neoplasia entre 2018 e 2022, em hospitais públicos ou conveniados ao SUS, no Brasil e regiões. Das Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), extraídas do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), obtiveram-se características demográficas, tempo de internação, uso de UTI e cirurgias. Excluíram-se AIHs repetidas, de longa permanência, causas externas, menores de 20 anos, indígenas e leitos não clínico-cirúrgico-crônico. A análise foi realizada com linguagem R, com estatística descritiva das variáveis demográficas, clínicas e assistenciais.
Resultados
Foram incluídos 95.691 pacientes com cânceres de pulmão (41%), estômago (26%), pâncreas (18%) e fígado (15%). A maioria era do sexo masculino (57%), tinha entre 50 e 69 anos (56%) e era de cor branca (45%) ou parda (32%). As regiões Sudeste e Sul concentraram 71% das internações, sendo 50% apenas do Sudeste. A maioria não residia em capitais (75%), foi admitida por urgência (84%) e internada em hospitais de média complexidade (94%). A internação ocorreu predominantemente em hospitais com habilitação em oncologia (63%), em leitos clínicos (83%) e teve duração média de 7,8 dias. Foram realizadas 10.651 cirurgias e a admissão em UTI foi observada em 17% dos casos.
Conclusões/Considerações
Pacientes com cânceres de alta letalidade morrem, em sua maioria, em hospitais de média complexidade, após internações breves e urgenciais, com baixa utilização de UTI e cirurgias. Ainda que pouco frequentes, essas intervenções são de alto custo e podem representar sobretratamento. Os achados reforçam a necessidade de reorientação da assistência hospitalar no fim da vida, com foco em cuidado paliativo, decisões proporcionais e uso racional de recursos.
PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM LA INDEPENDENCIA, EQUADOR: INQUÉRITO STEPS
Pôster Eletrônico
1 PUCE
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) lideram a mortalidade no Equador, mas faltam estimativas locais de seus fatores de risco. Este estudo quantifica essa carga em La Independencia, comunidade rural, para informar ações de saúde coletiva.
Objetivos
Estimar a prevalência de fatores de risco modificáveis para DCNT e analisar sua associação com variáveis sociodemográficas em adultos (≥ 18 anos) de La Independencia.
Metodologia
Inquérito transversal comunitário (out/2018–mai/2019). Amostragem em dois estágios incluiu 1 568 residentes permanentes ≥ 18 anos. Aplicou-se o protocolo WHO STEPS (versão Pan-Americana): Step 1—questionário de comportamentos; Step 2—peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial; Step 3—glicemia e colesterol totais em jejum. Entrevistadores treinados coletaram dados padronizados; as análises no Stata 14 estimaram prevalências com IC 95 % e razões de prevalência por modelos lineares generalizados.
Resultados
Idade média 42,6 ± 17 anos; 60,3 % mulheres. Prevalências: baixo consumo de frutas/verduras 76,6 %; inatividade física 41,1 %; sobrepeso 37,8 %; obesidade 34,3 %; obesidade abdominal 50,5 %; hipertensão 20,3 %; glicemia elevada 41,3 %; colesterol elevado 73,5 %. Tabagismo diário 40,7 % e consumo atual de álcool 45,1 %. Homens apresentaram maior probabilidade de consumo de álcool e glicemia elevada; mulheres, maior obesidade geral e abdominal. Idade avançada, baixa escolaridade e estado civil casado/coabitação associaram-se a múltiplos fatores de risco.
Conclusões/Considerações
La Independencia exibe elevada carga de fatores de risco para DCNT e marcadas desigualdades sociais. A combinação de má alimentação, sedentarismo, excesso de peso e dislipidemia demanda intervenções urgentes de promoção, prevenção e manejo na Atenção Primária, com foco em homens jovens e mulheres em idade ativa. Os achados subsidiam políticas locais e a alocação de recursos no Equador rural.
AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES DA ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS EM UMA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO SERTÃO PERNAMBUCANO
Pôster Eletrônico
1 SES PE
Apresentação/Introdução
A atenção às condições crônicas é um componente fundamental da organização do sistema de saúde e envolve a capacidade institucional para estruturar o cuidado. O instrumento ‘Avaliação da Capacidade Institucional para a Atenção às Condições Crônicas (ACIC)’, foi desenvolvido para essa avaliação, evidenciando diferentes dimensões que impactam a organização da atenção às condições crônicas.
Objetivos
Avaliar as dimensões da atenção às condições crônicas em uma macrorregião de saúde do estado de Pernambuco
Metodologia
Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Foi aplicado o instrumento ACIC com profissionais de saúde de três regiões de saúde da III macrorregião de Pernambuco em 2023, com o objetivo de avaliar as dimensões de capacidade institucional para atenção às condições crônicas. As dimensões avaliadas foram: 1. organização da atenção à saúde; 2. articulação com a comunidade; 3. autocuidado apoiado; 4. suporte à decisão; 5. desenho do sistema de prestação de serviços; 6. sistema de informação clínica e 7. integração dos componentes do modelo de atenção às condições crônicas. Os dados foram analisados a partir da estatística descritiva com os softwares Microsoft Excel e SPSS.
Resultados
Participaram 1641 profissionais das regiões VI, X e XI. Das dimensões avaliadas, a articulação com a comunidade, o suporte à decisão e a integração dos componentes do modelo de atenção às condições crônicas obtiveram as menores médias do escore, classificados como capacidade institucional básica a razoável. Já as dimensões de desenho do sistema de prestação de serviços e sistema de informação clínica apresentaram as pontuações mais altas, mas mantendo a classificação de capacidade institucional razoável para atenção às condições crônicas. Foram visualizadas disparidades regionais nas respostas, demarcando maior limitação de capacidade institucional para os municípios/regiões de menor porte.
Conclusões/Considerações
A avaliação das dimensões do ACIC nas três regiões suscita discussões relevantes a partir do engajamento dos atores e da organização e articulação das redes de atenção à saúde para estruturação da atenção às condições crônicas. Se faz necessário o olhar aprofundado acerca dos elementos investigados, considerando as dinâmicas territoriais, os desenhos da rede regional e as disparidades entre dimensões, a fim de reorientar os processos de trabalho.
QUALIDADE DE VIDA EM ADULTOS E IDOSOS COM DIABETES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Apresentação/Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) se destaca entre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) mais prevalentes no Brasil e no mundo. Seu manejo vai além do controle glicêmico, afetando diversos aspectos da vida cotidiana e repercutindo na Qualidade de Vida (QV), que abrange dimensões sociais, psicológicas, ambientais e o estado de saúde. Compreender essa relação é crucial para o cuidado e o bem-estar.
Objetivos
Investigar a relação entre diabetes mellitus e a qualidade de vida em adultos e idosos com base em publicações nacionais e internacionais dos últimos dez anos.
Metodologia
Trata-se dos primeiros resultados de uma revisão sistemática da literatura, baseada nas diretrizes PRISMA. A busca dos estudos foi conduzida entre agosto e novembro de 2024 nas bases de dados MEDLINE, Web of Science, EMBASE e LILACS, utilizando os descritores “Qualidade de vida”, “Diabetes Mellitus Tipo 2”, “Humanos”, “Adultos” e “Idosos”. Incluíram-se estudos transversais, coorte e estudos de caso e controle, com população adulta e idosa, em qualquer idioma, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos estudos duplicados, resumos, revisões, teses, capítulos de livro e opinião de especialistas. Os dados das buscas foram exportados para o programa Rayyan para análise.
Resultados
A busca na literatura resultou em 2.869 artigos, sendo 197 na base LILACS, 867 na Web Of Science, 694 no MEDLINE e 1.111 na Embase. Após a exclusão de 123 duplicados, os títulos e resumos dos artigos foram analisados por dois revisores independentes, com base nos critérios pré-estabelecidos, com apoio de um terceiro para resolução de conflitos. Ao final, os 172 estudos que atenderam aos critérios foram incluídos para leitura integral. Foram localizados trabalhos de diversos países na Ásia, América Latina, América do Norte e Europa. As metodologias foram diversas, com predominância de estudos com delineamento transversal, assim como descritivos, observacionais, exploratórios e longitudinais.
Conclusões/Considerações
A revisão em andamento já consegue mostrar que a QV em indivíduos com DM vem sendo amplamente estudada em diversos países e continentes, reforçando a relevância do tema e a necessidade de estratégias de cuidado para esse público. Os achados finais da revisão fornecerão informações para futuras pesquisas e para planejamento de ações em saúde pública.
ASSOCIAÇÃO ENTRE EXPERIÊNCIAS ADVERSAS NA INFÂNCIA E DIABETES NA COORTE ELSA-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 FPCEUP
3 Fiocruz
Apresentação/Introdução
Experiências Adversas na Infância (EAI) são eventos traumáticos vivenciados durante a infância. Estas experiências podem contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas em outras fases da vida. Em países desenvolvidos a relação entre EAI e doenças crônicas encontra-se bem estabelecida, no entanto, poucos estudos verificaram a associação com diabetes em adultos nos países em desenvolvimento.
Objetivos
Este estudo examinou a associação entre experiências adversas na infância e o risco de diabetes na fase adulta de brasileiros.
Metodologia
Trata-se de um estudo de coorte, que utilizou dados de 9907 participantes de ambos os sexos do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). Esta coorte fixa envolve 6 instituições públicas de ensino superior e pesquisa do país. A exposição foi avaliada por seis perguntas oriundas do questionário internacional de EAI. A diabetes incidente foi examinado nas fases 1 e 2 (2013-2019) por meio de amostras de sangue. Os dados foram analisados através da estatística descritiva, análises de distribuições e frequências para a caracterização da amostra e o χ² de Pearson foi utilizado para verificar as associações entre EAI e diabetes.
Resultados
Das 9907 pessoas entrevistadas 50,7% relataram ter vivenciado pelo menos uma EAI, 44,9% autorelataram ser pretos ou pardos e 54% eram mulheres. Os homens apresentaram a maior prevalência para EAI (53,1%). A amostra obteve 16,7% de casos novos de diabetes e a maior incidência foi no grupo dos homens (18,0%). A adversidade na infância esteve associada a um risco maior para diabetes na idade adulta (RR = 1,11 IC95% 1,01 – 1,21).
Conclusões/Considerações
Neste estudo foi possível observar que ter vivenciado experiências adversas na infância, aumenta o risco para diabetes na idade adulta. Nesta perspectiva, intervenções voltadas para EAI são essenciais para prevenção precoce do diabetes em adultos.
DESIGUALDADES RACIAIS E REGIONAIS NO ACESSO AO RASTREAMENTO PARA O CÂNCER DE MAMA NO SUS ENTRE AS REGIÕES E CAPITAIS NO BRASIL EM 2023-2024
Pôster Eletrônico
1 IMS-UERJ
2 INCA
Apresentação/Introdução
O câncer de mama é o mais incidente e de maior mortalidade entre mulheres no Brasil, com impacto para o sistema de saúde em função do custo elevado dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. O diagnóstico precoce possibilita melhor prognóstico e qualidade de vida, porém o acesso é desigual no país. Estima-se para o triênio 2023-2025 a ocorrência de aproximadamente 73.610 novos casos no Brasil.
Objetivos
Estimar a cobertura de rastreamento mamográfico para câncer de mama no Sistema Único de Saúde (SUS) segundo cor da pele, no Brasil, regiões e capitais de residência entre 2023-2025.
Metodologia
Foi realizado um estudo descritivo a partir dos dados do Sistema de Informação de Câncer (SISCAN) nas mulheres de 50 a 69 anos atendidas no SUS que realizaram mamografias de rastreamento entre 2023 e 2024. A cobertura de rastreamento foi estimada por meio do número de mulheres da faixa etária alvo que realizaram mamografias no biênio dividido pela população de mulheres usuárias exclusivas do SUS na mesma faixa etária e multiplicado por 100 para o Brasil, regiões e capitais de residência. As diferenças entre os grupos foram avaliadas por meio de um teste de proporções com nível de significância de 5%.
Resultados
Identificou-se no SISCAN, 4.112.460 mamografias, das quais 4.079.240 tiveram como finalidade o rastreamento. A cobertura do rastreamento mamográfico no Brasil foi de 25,7%, com maiores coberturas no Sudeste (35,6%) e Sul (27,9%) e menores no Norte (13,6%) e Centro-oeste (17,5%). Maiores coberturas foram observadas em mulheres brancas (27,2%) ao comparar com não brancas (24,1%) e indígenas (5,5%). Entre as regiões, as melhores coberturas para mulheres brancas foram no Sudeste e Sul, não brancas no Nordeste e Sudeste e indígenas no Nordeste. Em síntese, as capitais seguiram o padrão observado nas suas respectivas regiões, com exceção das mulheres indígenas que tiveram maior cobertura em Manaus.
Conclusões/Considerações
A cobertura de rastreamento no SUS é inferior a 40%, oscilando entre 13,6 no Norte e 35,6% no Sudeste, percentual abaixo da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Enfrentamento das DCNT. Estes resultados indicam a necessidade de ampliação do acesso as ações de detecção precoce para câncer de mama para todos os grupos raciais, principalmente entre mulheres não brancas e indígenas para que seja garantido o direito universal à saúde.
FATORES ASSOCIADOS AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER CERVICAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL DE BASE HOSPITALAR EM SINOP - MT
Pôster Eletrônico
1 UFMT e SES MT
2 Fundação de Câncer do Rio de Janeiro
3 INCA
4 Escola de Saúde Pública, USP.
Apresentação/Introdução
O câncer cervical é um problema de saúde pública e uma das principais causas de morbimortalidade entre as mulheres. No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, é o terceiro local primário mais incidente e a quarta causa de mortalidade por câncer em mulheres. Apesar das estratégias de prevenção e rastreamento, muitos casos ainda são diagnosticados em estágios avançados.
Objetivos
Analisar os fatores associados ao diagnóstico avançado do câncer cervical no município de Sinop-Mato Grosso entre 2007 e 2020.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal que avaliou a associação entre características epidemiológicas e clínicas com o estágio avançado do câncer cervical em mulheres residentes em Sinop. Os dados foram obtidos no Integrador de Registros Hospitalares de Câncer, disponível no site do INCA. Foram consideradas somente as mulheres diagnosticadas com câncer cervical invasivo e os casos classificados como analíticos. O estágio do câncer no momento do diagnóstico foi utilizado como variável resposta. A regressão logística multinomial foi utilizada para avaliar as associações entre as variáveis e o estágio no diagnóstico. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R.
Resultados
O estudo analisou 38 mulheres. 71,05% delas foram diagnosticadas em estágios avançados (III e IV). A maioria das pacientes tinha entre 35 e 59 anos (63,16%), ensino fundamental incompleto e não brancas. A proporção sem informações sobre escolaridade, tabagismo, consumo de álcool e histórico familiar foi de 50,0%, 68,4%, 68,4% e 81,6%, respectivamente. 71,05% das mulheres tinham diagnóstico prévio, porém sem tratamento iniciado. O carcinoma epidermoide foi o tipo histológico predominante (57,9%). Mulheres com adenocarcinoma tiveram menor chance de serem diagnosticadas em estágio avançado, enquanto a probabilidade de um diagnóstico localizado diminuiu com a idade.
Conclusões/Considerações
O elevado número de diagnósticos tardios sugere barreiras ao acesso, ao rastreio e ao tratamento precoce no município. Os resultados confirmam que as disparidades socioeconômicas estão associadas ao estágio avançado. A ampliação da cobertura do rastreio, o reforço da vacinação contra o HPV e a melhoria dos serviços de oncologia são essenciais para reduzir a incidência e a mortalidade da doença no município.
HIPERTENSÃO PRIMÁRIA NO LEITO HOSPITALAR: QUEM INTERNA, ONDE E QUANTO CUSTA? UMA ANÁLISE DE CASOS NO BRASIL, ENTRE 2019-2024, SEGUNDO O SIH-SUS.
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário de Excelência (UNEX)
Apresentação/Introdução
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é uma condição crônica e multifatorial, caracterizada pela elevação persistente e sustentada da pressão arterial (PA). Essa doença afeta mais de 30% da população brasileira, de ambos os sexos, sendo mais comum em indivíduos acima de 50 anos. O diagnóstico é feito após suspeita clínica, medidas regulares da PA e atendimento longitudinal na Atenção Primária.
Objetivos
Avaliar a evolução dos casos e a tendência temporal de hipertensão essencial (primária) no Brasil, entre 2019 e 2024; e, descrever as características sociodemográficas, custos e distribuição espacial dos casos de hipertensão no Brasil, em 2024.
Metodologia
Estudo ecológico que avaliou as notificações de HAS Primária (HASP) no Sistema de Informação Hospitalares-SIH no DATASUS, entre 2019-24. Para a seleção dos casos, foram cumpridas as etapas: identificação através do índice de classificação internacional de doenças (CID:I10), no Tabnet e, estratificação pelas variáveis disponíveis. Foram avaliados faixa etária, sexo, etnia, custos, distribuição espacial por estados e regiões, e calculadas a Variação Percentual Proporcional (VPP) do período, no Brasil e por região. Foram calculadas 2 taxas de internamento utilizando o sistema de recuperação eletrônica do IBGE-SIDRA, para
identificação de população exposta a partir do censo demográfico de 2022.
Resultados
No Brasil, entre 2019-2024, houve 242.710 internações por HAS, com VPP de -31%. O NE representa 38% dos casos, com VPP -36%. Em 2024, a taxa de internamento p/100 mil hab., no país foi 17,87, sendo maior no MA: 64,47 e menor no AP: 4,63. Do total de casos: 36.303, a maioria são pardos (63,0%) e mulheres (58,2%). As taxas de internamento (/100 mil) por idade são: 25,4 (20-39a); 84,4 (40-59a); 88 (60-69a); 155,5 (70-79a) e 417,7 (≥80a). Em idosos (60-≥80a =661,25), a taxa é 26x maior que em adultos jovens (20-39a =25,4). Os custos totais (19-24) foram R$103.279.070,70, 17% em 2024. O custo médio por internação
no Brasil é R$488,57 com maior custo médio no PE: R$976,23 e menor no MA: R$222,12.
Conclusões/Considerações
Observa-se a redução de internações por hipertensão no país e um maior impacto na população idosa e população parda, com desigualdades notáveis entre as regiões. Ademais, nota-se estados do Nordeste apresentando os maiores custos por internação e uma maioria de casos novos em mulheres no ano de 2024. No entanto, faltam estudos que explorem essas diferenças e o uso de dados secundários limita a análise, dificultando inferências mais precisas.
UTILIZAÇÃO DE SANGUE CAPILAR NA DETECÇÃO DA DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: EVIDÊNCIAS MAPEADAS POR REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 Hospital Israelita Albert Einstein
2 DAENT, SVSA, Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
O avanço mundial da Diabetes mellitus (DM) exige estratégias de rastreamento acessíveis. Tecnologias portáteis para a dosagem de hemoglobina glicada surgem como ferramentas valiosas para a oferta de cuidados oportunos na atenção primária à saúde de pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença.
Objetivos
Avaliar o uso de dispositivos de teste no local de atendimento (point-of-care testing – PoCT) para o monitoramento do diabetes na atenção primária em adultos.
Metodologia
Revisão de escopo conduzida de acordo com as diretrizes do JBI e PRISMA-ScR. As buscas foram realizadas nas bases PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, Lilacs e CINAHL (até abril/2025). Foram incluídos estudos que empregaram coleta capilar para triagem ou diagnóstico de DM em adultos. Duas revisoras, de forma independente, selecionaram títulos-resumos, avaliaram textos completos e extraíram dados em formulário padronizado. Os estudos elegíveis avaliaram dispositivos PoCT para HbA1c utilizando sangue capilar, com finalidade de rastreamento ou diagnóstico do diabetes, realizados na atenção primária, sem restrições quanto ao idioma ou ano de publicação. Excluídos estudos de glicemia capilar.
Resultados
Dos 2238 artigos identificados, foram analisados 38 estudos que incluíram 7 tipos de dispositivos PoCT. A maioria dos estudos foi realizada em países de alta renda (81,6%) e teve como foco o monitoramento. A alta aceitação pelos pacientes, aliada à disponibilidade rápida dos resultados e à portabilidade dos dispositivos, favorece sua implementação em diferentes contextos, ampliando o acesso e promovendo a equidade. No entanto, foram identificadas algumas barreiras, como limitações metodológicas dos estudos, dados incompletos ou ausentes, tamanhos amostrais reduzidos que limitam a validade externa, e desafios relacionados à calibração e à precisão dos dispositivos.
Conclusões/Considerações
A implementação de dispositivos PoCT tem potencial para melhorar o manejo da HbA1c em indivíduos com diabetes ou risco para a doença na atenção primária. Contudo, faltam estudos robustos sobre validade, confiabilidade e custo-efetividade. Há também escassez de evidências em países de média e baixa renda, especialmente sobre os impactos clínicos e operacionais dessa tecnologia.
BARREIRAS E FACILITADORES DO ACESSO À ATENÇÃO ONCOLÓGICA: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Saúde; Faculdade de Saúde Pública da USP
2 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo
3 Faculdade de Saúde Pública da USP
Apresentação/Introdução
O câncer é um dos principais problemas enfrentados pela sociedade moderna, sendo a segunda maior causa de mortalidade atualmente. Além de ser uma fonte de sofrimento para as pessoas afetadas e suas famílias, é uma grande carga para os diferentes sistemas de saúde ao redor do mundo. A qualidade de vida e as taxas de sobrevida desses pacientes também dependem do acesso aos serviços de saúde.
Objetivos
Identificar as barreiras e os facilitadores do acesso aos serviços de saúde em oncologia, tanto no Brasil quanto internacionalmente.
Metodologia
A metodologia adotada para a revisão de escopo foi a do JBI Manual for Evidence Synthesis. Os resultados foram reportados conforme a metodologia PRISMA-ScR e a pergunta da pesquisa foi “Quais são as barreiras e os facilitadores do acesso à atenção oncológica no Brasil e no exterior?”. Um protocolo de estudo foi desenvolvido e publicado na plataforma OSF antes do início da revisão. Os processos de triagem e elegibilidade dos estudos foram feitos por dupla de pesquisadores de maneira independente. Os dados foram extraídos em planilha Excel e as informações agrupadas por similaridade de conteúdo.
Resultados
Foram incluídos 144 estudos. Os resultados mostraram que as principais barreiras incluem fatores socioeconômicos, demográficos, culturais, indisponibilidade de serviços, distância dos grandes centros, problemas de infraestrutura e falta de acessibilidade. Essas barreiras são mais pronunciadas em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. Por outro lado, os facilitadores do acesso incluem educação e conscientização da comunidade, apoio da família e da comunidade, engajamento do sistema de saúde com a comunidade, qualificação dos profissionais de saúde, melhoria da logística e acessibilidade das instituições de saúde, e uso de tecnologias como a telemedicina.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que é essencial uma abordagem abrangente para melhorar o acesso aos serviços de saúde em oncologia. Investir em educação, infraestrutura e políticas de saúde inclusivas, juntamente com a colaboração entre diferentes atores do sistema de saúde, pode melhorar significativamente a jornada dos pacientes com câncer.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 HC-UFU
Apresentação/Introdução
Os acidentes por animais peçonhentos configuram-se como agravos de notificação compulsória no Brasil, com expressiva relevância no cenário da saúde pública nacional. Sua alta incidência, potencial letalidade e impacto socioeconômico exigem ações sistemáticas de vigilância epidemiológica, manejo clínico oportuno e estratégias preventivas direcionadas às populações mais vulneráveis.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Brasil, no período de 2014 a 2024.
Metodologia
Estudo epidemiológico, de delineamento temporal, do tipo ecológico, com dados provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A população estudada foi composta por todos os casos notificados de acidentes por animais peçonhentos, dos residentes no Brasil, no período de 2014 a 2024. A distribuição dos casos ocorreu de acordo as variáveis: ano de notificação, região de notificação, faixa etária, sexo, tipo de acidente, local da picada, soroterapia, acidente de trabalho e evolução do caso. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando o software Jamovi versão 2.3.28.
Resultados
Foram registrados 2.783.830 casos de acidentes por animais peçonhentos no período analisado. Observou-se tendência crescente nas notificações, com pico em 2024 (12%). A Região Sudeste (38,6%) e Nordeste (34,3%) concentraram o maior número de casos. As vítimas foram majoritariamente do sexo masculino (55,1%) e com idade entre 20 e 39 anos (31,9%). Escorpionismos foram os mais frequentes (58,1%), seguidos por araneísmos (13,4%) e acidentes ofídicos (12,1%). O local mais acometido foi o pé (23,1%). A soroterapia foi indicada em 14,5% dos casos, especialmente nos acidentes ofídicos (62,6%). Dos registros de acidentes, 9,2% estão relacionados ao trabalho, e 91% dos casos evoluíram para a cura.
Conclusões/Considerações
O perfil dos acidentes por animais peçonhentos no Brasil revela maior concentração de casos na Região Sudeste, com predominância entre homens jovens. Escorpionismos são os mais frequentes, destacando a necessidade de estratégias de controle vetorial e educação ambiental. Ressalta-se a importância do acesso ágil à soroterapia e ao fortalecimento da vigilância epidemiológica para manejo eficaz e redução da morbimortalidade.
QUAL A PREVALÊNCIA DE DORES OSTEOMUSCULARES ENTRE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA, NO BRASIL?
Pôster Eletrônico
1 PUC Minas
Apresentação/Introdução
Estudar a saúde dos estudantes universitários tem papel importante na saúde pública, haja vista que o bem-estar do estudante da área de saúde pode refletir em sua forma de cuidar do outro, exercendo influência direta e positiva no processo de prevenção e promoção da saúde de forma mais humanizada.
Objetivos
Descrever a prevalência de dores osteomusculares entre estudantes dos cursos de Fisioterapia do país.
Metodologia
O público-alvo foi composto por estudantes dos cursos de graduação em fisioterapia, de todo país, de qualquer faixa etária e gênero. Foi utilizado um questionário online, elaborado pelas autoras, com perguntas sobre as características sociodemográficas da população, condições de estudo e prevalência de sintomas osteomusculares. Os dados foram analisados de forma descritiva, por medidas de frequência absoluta e relativa, e medidas de precisão e variabilidade, por meio do pacote estatístico SPSS. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP (CAAE 78314224.0.0000.5137).
Resultados
Responderam a pesquisa 1.051 estudantes de Fisioterapia de todas as regiões do país, com idade média de 23 anos (±5,6) e maioria mulheres (84,0%). No momento da entrevista, 56% relataram dor lombar, 48% dor cervical, 37% dor nos membros superiores, 24% dor torácica e 23% relataram dor nos membros inferiores. Em uma escala de 0 (nenhum) a 10 (pior), a média da intensidade dos sintomas foi 5,5 (±1,9), 5,0 (±1,8), 5,3 (±1,9), 5,2 (±1,9) e 5,3 (±2,1), respectivamente. Cerca de 88% dos estudantes relataram ter alguma dificuldade para realizar tarefas estudantis por causa da dor osteomuscular, mas menos de 50% acreditava que esses sintomas tinham relação com suas atividades.
Conclusões/Considerações
Apesar de estarem em uma faixa etária jovem, os estudantes dos cursos de fisioterapia do Brasil apresentam uma alta prevalência de dores osteomusculares e com uma intensidade moderada desses sintomas. Essa condição já traz grande impacto sobre a capacidade desses futuros profissionais e mostra a urgência de ações para promover a saúde dessa população.
SUPLEMENTAÇÃO ORAL DE PROBIÓTICO EM CRIANÇAS COM OBESIDADE SEVERA: UM ENSAIO CLÍNICO, DUPLO CEGO
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde da UFSJ
2 Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSJ
3 Curso de Graduação em Enfermagem da UFSJ
Apresentação/Introdução
Alterações na microbiota intestinal têm sido associadas ao desenvolvimento da obesidade. Apesar dos benefícios reconhecidos da suplementação probiótica para a saúde gastrointestinal e imunológica, ainda são escassas as evidências sobre seus efeitos em índices antropométricos e composição corporal. Investigar a suplementação oral em crianças com obesidade severa configura uma abordagem inovadora.
Objetivos
Avaliar os efeitos da suplementação oral de probiótico sobre índices antropométricos em crianças com obesidade severa.
Metodologia
Ensaio clínico, duplo cego, conduzido com 40 crianças diagnosticadas com obesidade severa, alocadas em dois grupos (tratamento e controle). Um grupo recebeu cápsulas contendo Lacticaseibacillus rhamnosus; o outro recebeu placebo. A intervenção teve duração de 12 semanas. Foram coletados dados sobre índices antropométricos. A variável dependente examinada refere-se às medidas antropométricas e consumo alimentar; a variável independente é a suplementação probiótica. Foi utilizado o método das Estimativas Generalizadas de Equações (GEE) para avaliar os efeitos de grupo, sexo e tempo sobre variáveis antropométricas com p < 0,05 para significância.
Resultados
Foram analisadas informações de um total de 40 crianças. Ao longo do acompanhamento, houve desistência de três crianças do grupo placebo e quatro do grupo que recebeu probiótico. Ao final das 12 semanas de intervenção, 33 participantes concluíram o estudo. Em ambos os grupos (probiótico e placebo), não houve nenhuma diferença em termos de sexo, isto é, 25% eram meninos e 25% eram meninas. Após intervenção probiótica não constatou mudanças relevantes no peso médio das crianças em comparação ao grupo controle (p = 0,383). A circunferência da cintura também não demonstrou redução ao longo da intervenção (p = 0,898).
Conclusões/Considerações
Os resultados deste revelaram que o grupo probiótico não obteve benefícios com a suplementação. Ainda assim, os achados contribuem com evidências importantes para a saúde da criança, ressaltando a necessidade de ensaios clínicos com maior tempo de duração e populações variadas para embasar melhor as diretrizes sobre o uso de probióticos no enfrentamento da obesidade infantil.
ANÁLISE DESCRITIVA DE ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRES OCORRIDOS NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BARBACENA, 2010 – 2023
Pôster Eletrônico
1 SES MG
Apresentação/Introdução
Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública impactando setores como economia, trabalho, família e sociedade. Diminui a qualidade e a expectativa de vida de jovens e adultos em plena idade produtiva sobrecarregando a previdência, o setor saúde como urgência/emergência, leitos hospitalares, reabilitação. Traz inclusive o aumento da iniquidade em saúde.
Objetivos
Analisar a situação dos acidentes de trânsito terrestre para conhecer a magnitude, o perfil das vítimas, os meios de transporte envolvidos, o comportamento de motoristas e pedestres e locais de ocorrência para intervenção interssetorial.
Metodologia
Utilizou-se dados públicos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) dos óbitos cuja causa básica tenha sido “acidente de transporte terrestre” de ocorrência, incluindo local de ocorrência, idade, sexo, raça/cor, escolaridade, assistência médica, tipo de acidente, emissão da Declaração de Óbito e se acidente de trabalho ou não. Do Sistema de Informação ambulatorial (S.I.A.) analisamos a média de dias de internação e custo da assistência e evolução. Do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), analisamos se houve registro na ficha de Acidente de Trabalho, após investigação epidemiológica que confirmasse a relação com o trabalho.
Resultados
Os acidentes de transporte terrestre ocorrem em todas as faixas etárias, destaque para o grupo etário de 20 a 49 anos de idade, sexo masculino e em via pública. Acidentes de motociclistas são os mais graves, com mais dias de internação e custos mais elevados. Crianças e adolescentes são vítimas dos acidentes com automóveis. Idosos, conforme aumenta a idade, aumenta o número de atropelamento, no centro das cidades onde há mais bancos e comércio, maior poluição visual que competem com a sinalização de trânsito e evoluem mais para o óbito. Acidentes com transporte pesado ou tem menor gravidade ou são fatais.
Conclusões/Considerações
Conhecer a magnitude dos acidentes de trânsito possibilita detectar onde, quando e quem foi envolvido, vítima ou causador de forma a colaborar com a políticas públicas. Possibilita a educação popular em saúde, conhecimento da dimensão necessária de recursos de socorro, assistência em saúde e reabilitação. Auxilia a engenharia de trânsito e mobilidade urbana. Enfim, auxilia na diminuição dos acidentes ou da gravidade dos mesmos e de óbitos.
TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR LESÕES NO TRÂNSITO EM RODOVIAS FEDERAIS
Pôster Eletrônico
1 UFCG
2 UFMG
3 UNCISAL
Apresentação/Introdução
As lesões de trânsito estão entre as principais causas de mortalidade no mundo. O Brasil está entre os países com maior número de mortes no trânsito e precisa reduzir em cinquenta por cento até 2030. Grande parte das mortes relacionadas ao trânsito no Brasil ocorrem em rodovias federais. São necessárias ações de vigilância para reduzir os danos causados pelas lesões de trânsito e os óbitos.
Objetivos
Verificar a tendência de mortalidade por lesões de trânsito em rodovias federais brasileiras entre os anos 2013 e 2024.
Metodologia
Estudo epidemiológico, com dados de mortalidade por lesões resultantes de acidentes de trânsito em rodovias federais brasileiras entre 2013 e 2024 registrados pelo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF). Foi calculado o Coeficiente Geral de Mortalidade (CGM) para 100 mil habitantes utilizando a população estimada para cada ano, a proporção de óbitos e o número de acidentes para cada ano do período. A análise de tendência foi verificada por regressão linear por pontos de inflexão, usando o software Joinpoint, classificada em crescente, decrescente ou estacionária. Calculou-se a Variação Percentual Anual (APC) com seus intervalos de confiança de 95% (IC95%).
Resultados
Entre os anos 2013 e 2024 ocorreram 1.134.601 acidentes de trânsito nas rodovias federais e um total de 74.704 óbitos. O maior CGM foi no ano 2013 (4,23/100 mil habitantes) e as maiores proporções de óbitos foram em 2022 e 2024, 8,42% em cada ano. Houve declínio no CGM com redução significativa entre 2013 e 2019 (APC= -8,90; IC95%: -15,0; -6,48). Apesar da redução no número de acidentes e da tendência no CGM, houve aumento na proporção de óbitos, ao longo do período.
Conclusões/Considerações
Apesar da redução no CGM por acidentes em rodovias federais entre 2013 e 2019, deve-se analisar a mortalidade por sexo e idade, para subsidiar ações de fiscalização no trânsito e vigilância em saúde em grupos específicos. A redução pode ser resultado da primeira Década de Ação para o Trânsito (2011-2020). Mas, o Brasil ainda precisa reduzir óbitos por lesões no trânsito, para cumprir uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER RELACIONADOS AO TRABALHO NO BRASIL: UM ESTUDO ECOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
O câncer apresenta crescimento em todo o Brasil, podendo surgir devido à diversos fatores, dentre eles a exposição contínua durante a realização de algumas atividades laborais. Devido à necessidade de uma maior investigação referente ao câncer e a sua relação com o trabalho, a patologia foi adicionada à lista de doenças e agravos de notificação compulsória.
Objetivos
Descrever o perfil das notificações de câncer relacionado ao trabalho no Brasil nos anos de 2020 a 2024.
Metodologia
Estudo ecológico, descritivo, executado com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os casos de investigação de câncer relacionados ao trabalho no Brasil entre os anos de 2020 e 2024, considerando as variáveis referentes ao ano, sexo, raça/cor, escolaridade, ocupação, faixa etária, unidade federativa, situação no mercado de trabalho, exposição a substância cancerigeneas e evolução clínica. Os dados foram coletados no mês de junho de 2025 e analisados no Excel, versão 2021. Empregou-se a análise descritiva apresentando os resultados em frequências absoluta (n) e relativa (%).
Resultados
No intervalo analisado foram notificados 4.907 casos de investigação acerca de câncer relacionado ao trabalho, com predomínio no ano de 2024 (1822; 37,1%), entre homens (3388; 69%), autodeclarados brancos (3462; 70,5%), com escolaridade da 1ª a 4ª série do ensino fundamental incompleto (845; 17,2%), nesta variável foram observados (910; 18,5%) dados ignorados, entre trabalhadores agropecuários (1120; 22,8%), com idade entre 65 e 79 anos (1948; 39,6%), notificados no estado do Paraná (1751; 56%), autônomos (1501; 30,5%) e expostos a radiações não ionizantes (1725; 35,1%). Destes, 1156 (23,5%) evoluíram para a estabilidade da doença, 495 (10%) foram curados e 325 (6,6%) foram a óbito.
Conclusões/Considerações
Pode-se concluir que o câncer relacionado ao trabalho afeta majoritariamente homens, produtores rurais e expostos a radiações não ionizantes. Tal fato pode se dar devido a períodos de trabalho submetidos a radiação solar sem a devida proteção. Portanto, é necessária a adoção de medidas que garantam o acesso aos equipamentos de proteção individual, proporcionando melhores situações trabalhistas a fim de mitigar este problema da saúde pública.
TENDÊNCIAS DA TAXA DE MORTALIDADE POR CÂNCER EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1997 A 2021
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP)
Apresentação/Introdução
O câncer em crianças e adolescentes (0 a 19 anos) é raro, e corresponde até 3% de todos os casos novos da doença. As taxas de mortalidade estão diminuindo mais lentamente nos países de baixa e média renda, o que reflete dificuldades no acesso aos serviços de saúde e tratamento. No Brasil, há poucos estudos epidemiológicos sobre o tema, o que gera dificuldades para identificação de tendências.
Objetivos
Avaliar as tendências da taxa de mortalidade por câncer em crianças e adolescentes no município de São Paulo, entre 1997 e 2021.
Metodologia
Estudo ecológico de séries temporais, com dados secundários extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Foram considerados os óbitos classificados como neoplasias malignas, segundo a CID-10, sob os códigos C00-C80.9. Para o cálculo da taxa de mortalidade padronizada, foi utilizada a população mundial proposta por Segi. Um modelo de regressão linear múltipla foi ajustado para a análise de tendência, utilizando a taxa de mortalidade como variável dependente e sexo e faixa etária como independentes. A partir do modelo final, que utilizou técnicas de regressão segmentada, foram apresentadas as taxas ajustadas, além da variação anual (VA) ao longo do tempo.
Resultados
Foram registradas 4.130 mortes por câncer em crianças e adolescentes entre 1997 e 2021. A taxa de mortalidade padronizada, por milhão de habitantes, foi maior no sexo masculino (55,5) do que no feminino (43,8) e nos grupos de 15 a 19 (60,8) e 0 a 4 anos (50,1). Entre 1997 e 2006, houve aumento da mortalidade na faixa etária de 5 a 9 anos (0,9 óbitos por milhão ao ano, IC95% -0,1:1,9), para ambos os sexos, seguido de queda até 2021 (-1,8 óbitos por milhão ao ano, IC95% -2,2:-1,5). Nas demais faixas etárias houve declínio contínuo da taxa para homens e mulheres, sendo mais expressivo em adolescentes do sexo masculino (-1,8 óbitos por milhão ao ano, IC95% -2,2:-1,5).
Conclusões/Considerações
Este estudo evidencia uma tendência contínua de queda na mortalidade, com exceção da faixa etária de 5 a 9 anos. Alguns fatores podem ter contribuído para isso, como a criação de políticas públicas específicas e avanço no diagnóstico precoce. Porém, é importante destacar as diferenças socioeconômicas intramunicipais, que constituem cenários diversificados para a doença e requerem novos estudos que aprofundem a análise de possíveis desigualdades.
USO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INADEQUADOS EM PESSOAS COM DIABETES COMO FATOR DE CONFUSÃO NO DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER: ANÁLISE COM DADOS DA ADNI
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
Apresentação/Introdução
A Doença de Alzheimer é um desafio crescente na saúde pública. Indivíduos com diabetes tipo 2 têm maior risco de declínio cognitivo e uso de medicamentos potencialmente inadequados (MPIs), que podem causar efeitos adversos e interferir em biomarcadores. Este estudo investiga a associação entre MPIs e sinais da DA usando dados da ADNI.
Objetivos
Investigar a associação entre o uso de medicamentos potencialmente inadequados por indivíduos com diabetes e alterações cognitivas ou em biomarcadores da doença de Alzheimer.
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários da base ADNI. Foram incluídos indivíduos com diagnóstico de diabetes, com e sem DA. As variáveis analisadas incluíram histórico medicamentoso, exames de imagem cerebral (PET/RM), níveis de beta-amiloide e proteína tau, desempenho cognitivo e dados sociodemográficos. Os MPIs foram identificados conforme os critérios de Beers, com ênfase em sulfonilureias e insulinas de ação curta/rápida. A amostra foi composta por 411 indivíduos, dos quais 310 com diabetes. Dados foram analisados por estatística descritiva e testes de associação para avaliar o impacto dos MPIs nos desfechos cognitivos e biomarcadores.
Resultados
A mediana de idade dos participantes foi de 74,7 anos (IIQ: 50,1–90,0), com predominância do sexo masculino (56%) e escolaridade mediana de 15,2 anos. Entre os indivíduos com diabetes, 96 (31%) utilizavam MPIs. Os principais medicamentos identificados foram sulfonilureias e insulinas de ação rápida, associados a risco aumentado de hipoglicemia. Observou-se que usuários de MPIs apresentaram maiores taxas de sintomas cognitivos inespecíficos, como confusão e agitação, além de alterações em biomarcadores que podem simular padrões típicos da DA.
Conclusões/Considerações
Os resultados sugerem que o uso de MPIs por idosos com diabetes pode atuar como fator de confusão no diagnóstico da DA, ao mimetizar sintomas clínicos e padrões em exames de imagem e líquidos corporais. A prescrição inadequada pode, assim, comprometer a precisão diagnóstica e atrasar intervenções terapêuticas adequadas.
USO DE MEDICAMENTOS E MULTIMORBIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS DURANTE A GESTAÇÃO: COORTE DE NASCIMENTOS DE PELOTAS DE 2015
Pôster Eletrônico
1 UFPel
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) contribuem para gestações de alto risco, e medicamentos são amplamente prescritos nesse período. As DCNTs, assim como seus fatores de risco, podem ser propensas a coexistir durante a gestação, sendo multimorbidade a ocorrência de duas ou mais doenças. Compreender e gerar dados sobre essa temática é essencial para melhorar a saúde materna.
Objetivos
Descrever os medicamentos utilizados para as DCNTs. Analisou-se a multimorbidade por DCNT e a simultaneidade dos fatores de risco para DCNT segundo variáveis sociodemográficas e de saúde.
Metodologia
Foram utilizados dados do pré- e perinatal da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015. Foram selecionadas as doenças hipertensivas, diabetes gestacional, depressão/ansiedade e asma/bronquite entre gestantes, a partir do autorrelato durante a gestação. Os medicamentos para cada DCNT foram classificados a partir da Anatomical Therapeutic Chemical de acordo com os trimestres de gestação. A multimorbidade foi definida como duas ou mais doenças antes e durante a gravidez. A multimorbidade por DCNT e a simultaneidade dos fatores de risco para DCNT (consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo e sobrepeso/obesidade) foram analisadas segundo variáveis sociodemográficas e de saúde.
Resultados
A prevalência de multimorbidade por DCNT foi de 2,4% (IC95% 1,9-2,9). Considerando as quatro DCNT, a frequência de uso de medicamentos para o tratamento das DCNT foi de 13,5% (IC95% 12,5-14,6). Mais da metade da amostra (54,3%) apresentou dois ou mais fatores de risco para DCNT. A multimorbidade foi maior entre as mulheres negras, no menor quintil de renda, menor escolaridade, e foi maior entre as mulheres que compareceram menos às consultas de pré-natais. O uso de medicamentos para o tratamento de DCNT foi maior entre as mulheres com multimorbidade por DCNT, e a frequência de multimorbidade por DCNT foi maior em mulheres que apresentavam dois ou mais fatores de risco.
Conclusões/Considerações
Os resultados podem ser atribuídos às desigualdades socioeconômicas e à maior atenção à saúde das mulheres. Apesar da ampla conexão entre as gestantes e os sistemas de saúde no Brasil, a compreensão da multimorbidade das DCNT durante a gestação pode subsidiar políticas de saúde e revelar as desigualdades em saúde.
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO BRASIL NO CONTEXTO DA COVID-19: 2020 A 2023
Pôster Eletrônico
1 UnB
2 MS
Apresentação/Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) representam cerca de 40% da mortalidade global. Nos países de baixa e média renda, elas correspondem a 88% das mortes prematuras. No Brasil, assumem as principais causas de morte, incapacidade e anos de vida perdidos. Observa-se uma relação crescente entre covid-19 e a mortalidade por DCV, pois a infecção agrava condições cardíacas preexistentes.
Objetivos
Analisar a distribuição espacial das taxas da mortalidade prematura por DCV nas Unidades da Federação (UF) brasileiras de 2020 a 2023, identificando padrões regionais e áreas críticas para a vigilância em saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e de análise espacial, realizado a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM /DATASUS). Foram considerados os óbitos por DCV (CID-10: I00 a I99) em indivíduos de 30 a 69 anos por região e UF entre 2020 a 2023. As taxas padronizadas por idade, por causa específica e apresentadas por 100 mil habitantes, foram calculadas com base nas estimativas populacionais do Censo 2022, realizadas pelo IBGE. Os mapas foram produzidos no Programa QGIS versão 3.8 Zanzibar e a base cartográfica digital utilizada foi obtida por meio da base de malha territorial do IBGE
Resultados
Entre 2020 e 2023 foram registrados 571.871 óbitos prematuros por DCV. As maiores taxas ocorreram no Nordeste e em parte do Sudeste (SP, RJ, ES) variando entre 141-180/100 mil, enquanto as menores taxas foram registradas no Norte (AM, PA, AP, AC). TO e MG apresentaram taxas estáveis entre 119-129/100 mil. Em 2022, observou-se piora nacional, principalmente no Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS) e Sul (PR, RS). A taxa de crescimento dos óbitos de 2021 para 2022 foi de aproximadamente 10,49%. Em 2023, foi observado redução das taxas sugerindo recuperação pós-pandêmica, embora persistam desigualdades regionais, indicando necessidade de políticas específicas para áreas críticas.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam desigualdades geográficas persistentes e um padrão temporal influenciado por fatores contextuais, como a pandemia da covid-19, determinantes sociais e vulnerabilidades locais. Ressalta-se que devem ser priorizadas estratégias regionais integradas de vigilância, prevenção e cuidado à saúde cardiovascular, especialmente no Nordeste e em áreas metropolitanas do Sudeste.
TENDÊNCIA TEMPORAL E DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS DE CÂNCER DE MAMA POR FAIXA ETÁRIA E COR DA PELE ENTRE MULHERES BRASILEIRAS
Pôster Eletrônico
1 UNEX-BA
Apresentação/Introdução
O câncer de mama é uma neoplasia resultante da multiplicação de células anormais mamárias e apresenta alta morbimortalidade no Brasil. É o tipo mais frequente entre as mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma. Sua origem é multifatorial, envolvendo aspectos genéticos, hormonais e ambientais, e sua incidência aumenta progressivamente com a idade, sendo mais comum a partir dos 50 anos.
Objetivos
Avaliar a tendência temporal de óbitos por câncer de mama entre mulheres brasileiras, por faixa etária e raça/cor, de 2019 a 2023; e descrever características sociodemográficas, de custos e distribuição dos óbitos por câncer de mama, no Brasil, em 2023.
Metodologia
Estudo ecológico que avaliou notificações de tendência temporal e distribuição do câncer de mama por características sociodemográficas entre mulheres brasileiras, no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do DATASUS, no período de 2019 a 2023. Os casos foram selecionados por meio do CID-10 C50 no Tabnet e estratificados pelas variáveis disponíveis. Foram avaliadas faixa etária, raça/cor e calculada a Variação Percentual Proporcional (VPP) no período. As taxas de distribuição do câncer de mama no Brasil foram analisadas com dados do IBGE-SIDRA, considerando a população exposta do censo de 2019.
Resultados
Entre 2019 e 2023 analisou-se dados de mortalidade de 93.294 mulheres brasileiras com câncer de mama, em todas as idades e cor da pele. Houve maior crescimento entre indígenas (+84,2%). Mulheres < 50 anos somaram 20.267 casos e ≥ 50 anos, 73.027. O Norte teve aumento acima de 25%, já o Sudeste teve mais óbitos, mas menor variação. O risco de ter esse câncer é de 76,31/100 mil mulheres, enquanto a mortalidade é de 14,23/100 mil mulheres. O número de procedimentos ambulatoriais oncológicos pelo SUS caiu 52% em quatro anos (2019-22), já o valor médio do tratamento de quimioterapia, aumentou 503%, indo de R$134,17 (estágio I) para R$809,56 (estágio IV), refletindo o uso de tecnologias avançadas.
Conclusões/Considerações
A análise revelou alta mortalidade por câncer de mama entre 2019 e 2023, com destaque para indígenas e região Norte. A redução dos procedimentos e o aumento dos custos sugerem barreiras no acesso. Subnotificação e incompletude de variáveis limitam o uso e a confiabilidade dos dados secundários disponíveis.
TERAPIA DO ESPELHO NO MANEJO DA DOR DO MEMBRO FANTASMA: EVIDÊNCIAS E POTENCIALIDADES NA ATENÇÃO À PESSOA AMPUTADA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Sergipe
Apresentação/Introdução
A dor do membro fantasma é uma condição crônica que afeta 50% a 85% dos amputados, gerando sofrimento físico, emocional e prejuízos funcionais. Com 10 milhões de amputados no mundo, a tendência é de crescimento. A terapia do espelho surge como alternativa não farmacológica e de baixo custo para o manejo dessa dor. Este estudo analisa evidências, desafios e lacunas ainda presentes nesta abordagem.
Objetivos
Identificar evidências disponíveis na literatura científica sobre o uso da terapia do espelho no manejo da dor do membro fantasma e discutir suas potencialidades, limitações e implicações na atenção à saúde da pessoa amputad
Metodologia
Trata-se de revisão integrativa da literatura com objetivo de identificar evidências sobre o uso da terapia do espelho no manejo da dor do membro fantasma. Seguiu-se as etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca, coleta e análise dos dados, discussão e apresentação dos resultados. A pergunta foi construída com a estratégia PICO. As buscas ocorreram entre março e abril de 2023 nas bases Lilacs, MedLine, BDENF, PubMed, EMBASE, SciELO e Web of Science, com os descritores “manejo da dor”, “terapia do espelho” e “membro fantasma”. Foram incluídos artigos com texto completo, em português, inglês ou espanhol. Excluíram-se artigos não disponíveis na íntegra ou sem foco na intervenção proposta
Resultados
Após aplicação dos critérios de elegibilidade, foram incluídos 13 artigos. Os delineamentos foram diversos, evidenciando, em sua maioria, a eficácia da terapia do espelho na redução da dor do membro fantasma. Houve melhora em diferentes tipos de dor, além de reorganização cortical. Entretanto, observou-se ausência de protocolos padronizados e escassez de estudos em pediatria e com participação ativa da enfermagem. Alguns tipos de dor, como a do tipo elétrica ou queimação, apresentaram menor resposta. Versões alternativas da terapia e sua combinação com outras abordagens também foram relatadas, sugerindo potencial de uso ampliado, mas carecendo de mais investigações robustas
Conclusões/Considerações
A terapia do espelho é eficaz, acessível e segura no manejo da dor do membro fantasma, podendo ser usada de forma isolada ou complementar a outras terapias. Identificaram-se lacunas quanto à padronização do protocolo e evidências em populações específicas, como crianças, além da necessidade de mais estudos para consolidar a prática e ampliar sua aplicabilidade clínica baseada em evidências.
TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR NEOPLASIAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE 1996 A 2023
Pôster Eletrônico
1 INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER; Doutoranda no Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente/ Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/FIOCRUZ
2 FIOCRUZ; DEMQS/ENSP
3 UNISUAM; Curso de Odontologia; PIBIC na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/ FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
As neoplasias são uma das principais causas de morte no mundo, influenciadas por fatores socioeconômicos e comportamentais. Representam um obstáculo à elevação da expectativa de vida, especialmente em países de renda média e baixa. No Brasil, estimam-se cerca de 483 mil novos casos anuais entre 2023 e 2025.
Objetivos
Analisar a tendência da mortalidade por neoplasias no Município do Rio de Janeiro, no período de 1996 a 2023.
Metodologia
Estudo de tendência temporal da mortalidade por neoplasias. Os óbitos foram obtidos do Sistema de Informação de Mortalidade, analisados por faixa etária e sexo, após redistribuição de causas garbage. A tendência temporal foi obtida pelo método de regressão segmentada (Joinpoint).
Resultados
A taxa de mortalidade por neoplasias foi de 122,06 para 88,16 óbitos por 100 mil habitantes entre 1996 e 2023, padronizada pela população mundial. A variação percentual média anual (AAPC) evidenciou declínio significativo em homens (-1,96; IC95%: -2,10;-1,81) e mulheres (-0,83; IC95%: -0,96;-0,62). Foram observadas reduções expressivas nas mortalidades por câncer de pulmão, estômago, mama e próstata, enquanto jovens e mulheres com ≥80 anos apresentaram estabilidade ou aumento. A pandemia de COVID-19 impactou negativamente os serviços oncológicos, interrompendo temporariamente essa tendência e evidenciando a variabilidade dos tipos de câncer e prognósticos por faixa etária.
Conclusões/Considerações
A tendência decrescente da mortalidade por neoplasias tem implicações para a saúde pública, especialmente na prevenção, detecção precoce e tratamento. Entretanto, disparidades entre sexos e faixas etárias, além dos impactos da COVID-19, reforçam a necessidade de fortalecer políticas públicas, ampliando rastreamento e acesso equitativo aos serviços, minimizando consequências adversas e reduzindo a carga do câncer.
PERFIL DOS USUÁRIOS COM DOENÇAS CRÔNICAS VINCULADOS AO HIPERDIA
Pôster Eletrônico
1 PROFSAÚDE
2 SMS de Catalão
3 UFCAT
Apresentação/Introdução
As Doenças Crônicas se configuram como um problema de saúde pública no Brasil, e se faz necessário conhecer quem são os indivíduos acometidos por essas patologias, no intuito de possibilitar a estruturação de ações direcionadas ao cuidado desta parcela da população, a partir das estratégias sugeridas pelo Ministério da Saúde, permitindo a implementação de ações que humanizem a atenção à saúde.
Objetivos
O objetivo foi identificar o perfil das pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus vinculadas ao HIPERDIA de uma Unidade Básica de Saúde do Sudeste Goiano
Metodologia
Trata-se de pesquisa do tipo epidemiológica, com 23 usuários cadastrados no HIPERDIA de uma Unidade Básica de Saúde localizada em um município de médio porte do estado do Goiás. Os critérios de inclusão foram idade igual ou superior a 18 anos e ser usuário assíduo da unidade. Os dados foram coletados no período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 por estudantes de enfermagem a partir da ficha de cadastro do HIPERDIA, durante os atendimentos na UBS. Os dados foram organizados em planilhas e analisados por meio de estatística descritiva. O projeto foi submetido para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa aprovado sob o número do parecer 4.065.405 e CAAE: 28681220.8.0000.8409.
Resultados
Entre os 23 entrevistados houve predomínio da população feminina (69,6%), idade média de 64,45 anos (dp ± 13,83 anos), ensino fundamental (47,8%), com companheiro (47,8%), seguido igualmente dos sem companheiro (47,8%). Sobre a etnia, os brancos (47,8%), seguida dos pardos 39,1%. Dentre os participantes 34,8% relataram residir com o companheiro, a maioria possui renda para sua subsistência (78,3%), sendo a renda na maioria das respostas de um salário-mínimo (52%), 47,8% proferiram o catolicismo como religião, sendo a religião importante para 56,4%. Para 39,1% a saúde era considerada boa, sendo 43,5% portador de duas doenças crônicas e 69,6% não praticavam atividade física.
Conclusões/Considerações
Os resultados reforçam as disparidades no acesso e na utilização dos serviços de saúde, além da necessidade de monitorização dos indicadores relacionados às DC, para orientar políticas de saúde no Brasil. O estudo revelou a necessidade de medidas de prevenção e cuidados específicos para cada localidade, respeitando as particularidades dos grupos populacionais.
TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO E QUALIDADE DO SONO EM ADOLESCENTES DA COORTE RPS- SÃO LUÍS
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
O sono é um estado biológico essencial para funções vitais como memória e equilíbrio cerebral. Distúrbios do sono comprometem o bem-estar físico, cognitivo e social, além de estarem ligados a transtornos neuropsiquiátricos. Destaca-se o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), associado à piora do sono, prejuízos funcionais e agravamento de outros sintomas psiquiátricos.
Objetivos
Analisar a relação dos distúrbios do sono e Transtorno de Estresse Pós-Traumático em adolescentes da coorte RPS- São Luís.
Metodologia
Estudo transversal com dados da 3ª fase da coorte RPS em São Luís, MA, com 2.488 adolescentes de 18-19 anos. Avaliaram-se qualidade do sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - PSQI) e presença de TEPT. Um gráfico acíclico direcionado (DAG) foi construído para identificar confundidores e selecionar variáveis de ajuste. Utilizou-se regressão de Poisson com variância robusta e abordagem multivariada para estimar IRR e IC95%. O modelo foi ajustado por classe econômica, atividade física, cor da pele, eventos estressores, idade, plano de saúde, sexo e exposição à violência. Associações com p < 0,05 foram consideradas significativas.
Resultados
Dos 2.488 adolescentes, 62 (2,4%) apresentava TEPT e 1.985 (79,7%) tinha qualidade de sono considerada ruim de acordo com o PSQI. Na regressão de Poisson foi observado efeito do TEPT na pior qualidade do sono (p= 0,014; IC95% 1.090152- 2.142868). O sexo feminino obteve pior desfecho, com risco 23% maior de pior qualidade do sono (p=0,003).
Conclusões/Considerações
O Transtorno de Estresse Pós-Traumático apresentou efeito significativo na pior qualidade do sono dos adolescentes, especialmente no sexo feminino. Recomenda-se o aprofundamento de pesquisas no tema para melhor compreender essa associação e esclarecer a influência de gênero no desfecho observado.
MANIFESTAÇÕES DE SOFRIMENTO PSÍQUICO EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DA FIBROMIALGIA
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 SEDS/ Prefeitura de Jequié
Apresentação/Introdução
A fibromialgia é uma condição clínica crônica, dolorosa e não inflamatória, que apresenta etiopatogenia multifatorial, complexa e de causa desconhecida. Além das síndromes somáticas funcionais, é comum a manifestação de distúrbio do sono, estresse, depressão, vivências ansiogênicas, alterações do humor e do comportamento, que comprometem a qualidade de vida e o estado geral de saúde do indivíduo.
Objetivos
Analisar, nas produções científicas, as principais manifestações de sofrimento psíquico relacionados ao diagnóstico de pacientes com síndrome da fibromialgia.
Metodologia
Revisão Sistemática de produções científicas sobre o fenômeno, disponibilizadas entre 2020 e 2025, na base de dados SciELO, utilizando-se os DeSC: “fibromialgia” and “sofrimento psíquico”. Utilizado a estratégia PICO (População, Comparação, Intervenção, Desfecho) para elaborar pergunta da pesquisa e definir critérios de elegibilidade, sendo elegíveis 10 artigos para análise completa, mediante leitura flutuante, sistemática, exaustiva e transversal. Os conteúdos foram tratados a partir de uma Matriz de Produção e Análise dos Dados, identificando convergências, divergências, complementaridades e diferenças referentes às manifestações de sofrimento psíquico em pacientes com fibromialgia.
Resultados
Os resultados mostraram que, devido a ausência de substrato anatômico claro, inúmeras são as controvérsias envolvendo a fibromialgia. As produções científicas, analisadas, revelaram que pacientes diagnosticados apresentam alterações cognitivas e comportamentais, acompanhadas de sintomas como distúrbio do sono, fadiga mental, alterações do humor e do comportamento, isolamento, baixa autoestima, perda da autonomia, além de transtornos psicológicos mais severos como depressão e vivências ansiogênicas. Além disso, as manifestações de sofrimento psíquico costumam comprometer e impactar no convívio familiar e social, bem como reduzir a qualidade de vida e o estado geral de saúde dos pacientes.
Conclusões/Considerações
As manifestações de sofrimento psíquico em pacientes com fibromialgia revelam desafios que vão além do enfrentamento dos sintomas físicos. Portanto, para mudança de paradigma, é essencial trabalhar estratégias, tais como: acompanhamento psicológico; construção de grupos terapêuticos de apoio no processo da aceitação da dor e das limitações; incentivo à adesão às intervenções terapêuticas e empoderamento para inserção nas atividades diárias.
MORTALIDADE PREMATURA POR NEOPLASIAS NO BRASIL EM 2023: DIFERENÇAS REGIONAIS E POR SEXO
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
As neoplasias são a segunda principal causa de morte geral e precoce no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 35,3 milhões de novos casos de câncer em 2050, o que representa um aumento de 77% em relação aos 20 milhões estimados em 2022 e para o triênio 2023-2025, estimam-se 704 mil novos casos. O monitoramento contribui para o planejamento de ações de prevenção dessa doença.
Objetivos
Analisar os padrões da mortalidade prematura por neoplasias no Brasil no ano de 2023, considerando variações de sexo e região.
Metodologia
Foram utilizados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), considerando óbitos por neoplasias malignas (CID-10: C00-C97) em indivíduos de 30 a 69 anos, ocorridos no Brasil em 2023. As taxas foram padronizadas por 100 mil habitantes com base na população residente estimada pelo IBGE no CENSO 2022 (IBGE, 2025). As análises foram estratificadas por sexo e por grandes regiões do país (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). A produção dos indicadores incluiu etapas de validação e revisão técnica por equipe especializada em vigilância de doenças crônicas não transmissíveis.
Resultados
Em 2023, a taxa de mortalidade prematura por neoplasias no Brasil foi de 102,8 óbitos por 100 mil habitantes. As taxas foram ligeiramente maiores entre as mulheres (133,3) do que entre os homens (130,6). Entre as regiões, a maior taxa foi observada no Sul (136,4), seguida do Sudeste (120,3), Centro-Oeste (113,1), Nordeste (107,8) e Norte (102,7). Os dados revelam proximidade entre os resultados por sexo e destacam a elevada carga da mortalidade prematura por câncer em todas as regiões do país, principalmente nas regiões sul e sudeste.
Conclusões/Considerações
A análise da mortalidade prematura por neoplasias em 2023 reafirma o câncer como uma das principais causas de morte precoce no Brasil. A identificação de disparidades segundo variáveis regionais e por sexo contribui para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. A continuidade do monitoramento é essencial para avaliar o impacto das intervenções e apoiar a implementação do Plano de Enfrentamento das DCNT no país.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESFECHOS CLÍNICOS POR INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NA BAHIA 2020 A 2024
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
Intoxicações exógenas consistem na exposição do indivíduo à substâncias tóxicas externas que podem resultar em danos nocivos a depender do tipo e gravidade da exposição, representando um problema de saúde pública. Nesse sentido, análises epidemiológicas que auxiliem no entendimento do perfil de ocorrência dos desfechos clínicos associados à esses eventos são imprescindíveis.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico das notificações por intoxicações exógenas ocorridas no estado da Bahia no período de 2020 a 2024.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, executado com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os casos de investigação de intoxicações exógenas no estado da Bahia entre os anos de 2020 e 2024, considerando as variáveis referentes ao ano, sexo, cor/raça, faixa etária, tipo e circunstância de exposição e agente toxico. Os dados foram coletados no mês de junho de 2025 e analisados no Excel, versão 2021. Empregou-se a análise descritiva apresentando os resultados em frequências absolutas (n) e relativas (%).
Resultados
No período analisado foram relatados 42.900 casos de investigação de intoxicação exógena. Com predomínio no ano de 2024 (13.239; 30,8%), entre o sexo feminino (25.383; 59,1%), em pardos (21.945; 51,1%), com idade entre 20 e 39 anos (18.735; 43,6%), agente tóxico sendo medicamentos (18.245; 42,5%), e com exposição aguda-única (20.475; 47,72%) motivada por tentativa de suicídio (16.685; 38,8%). Dentre eles, foram curados sem sequelas (25.088; 58,4%), com sequelas (559; 1,3%) e foram a óbito (404; 0,9%).
Conclusões/Considerações
A partir dos resultados, foi possível observar que as intoxicações exógenas, acometem com maior frequência jovens adultas, que realizam tentativa de suicidio, onde apesar das possíveis complexidades da intoxicação, não desencadeiam sequelas. Tendo em vista esse cenário, é de extrema importância promover educação em saúde visando a prevenção deste agravo, bem como acerca dos possíveis danos, além de reforçar o cuidado à saúde mental da população.
CONSTRUÇÃO DE UMA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS PARA REDUÇÃO DO ESTIGMA DO PESO EM ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO
Pôster Eletrônico
1 FMRP-USP
2 FFCLRP
3 UFTM
4 UFBA
5 UFOP
6 UFU
Apresentação/Introdução
O estigma do peso é a desvalorização social relacionada ao excesso de peso corporal, e causa sofrimento biopsicossocial nas pessoas com obesidade. O estigma está presente na sociedade de maneira estrutural e pode ser perpetuado por profissionais e estudantes de nutrição. O desenvolvimento de competências profissionais é crucial na formação e capacitação para um atendimento humanizado.
Objetivos
Desenvolver uma matriz de competências para o aprimoramento de estudantes de nutrição e nutricionistas, na perspectiva de mitigar o estigma do peso.
Metodologia
A matriz de competências foi desenvolvida por uma equipe de nove especialistas em estigma do peso e educação em saúde brasileiras, convidadas a participarem de encontros virtuais, via Google Meet. Foram definidas as competências e objetivos de aprendizagem essenciais para diminuir o estigma do peso, nos níveis interpessoal e intrapessoal. Os objetivos de aprendizagem foram construídos nos domínios: cognitivo, atitudinal e psicomotor, utilizando como base as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Código de Ética do Nutricionista, a pirâmide de Miller e a Taxonomia de Bloom (para formulação dos verbos). Posteriormente faremos a validação teórica e semântica da matriz, utilizando o método Delphi.
Resultados
Foram realizados três encontros com a equipe: 1) apresentação da proposta e alinhamento de conceitos; 2) e 3 ) Dinâmicas de sensibilização ao tema e de construção das competências e dos objetivos de aprendizagem. Posteriormente, fizemos duas reuniões para revisão textual, análise dos verbos e exclusão de objetivos de aprendizagem redundantes. Na primeira versão da matriz, obteve-se a competência: “Realizar o cuidado centrado na pessoa e não no peso corporal, considerando a multicausalidade e a interseccionalidade da obesidade, com uma postura ética e respeitosa” e 79 objetivos de aprendizagens divididos nos três domínios citados anteriormente.
Conclusões/Considerações
Considerando os impactos do estigma do peso e a relevância de trabalhar a temática na formação em saúde, este estudo é importante pois desenvolveu uma matriz de competências que poderá ser utilizada para realização de intervenções e/ou de aprimoramento de currículos de graduação e de pós graduação, possibilitando uma prática mais acolhedora, respeitosa e humanizada.
PERFIL DE ÓBITOS POR TIPO DE DIABETES MELLITUS E RESPECTIVAS COMPLICAÇÕES SEGUNDO A CID-10 NO BRASIL, 2010-2023
Pôster Eletrônico
1 CGDNT/DAENT/SVSA/MS
2 EpiSUS/DEMSP/SVSA/MS
3 DAENT/SVSA/MS
Apresentação/Introdução
O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas mais prevalentes, afetando cerca de 3% da população mundial, com tendência de aumento até 2030. Está entre as principais causas de perda de anos de vida saudável, com complicações como neuropatia, retinopatia, cegueira, pé diabético, amputações e nefropatia, destacando a importância da prevenção, do controle e do cuidado contínuo.
Objetivos
Descrever a proporção média e a variação proporcional de óbitos notificados por tipo de diabetes mellitus e respectivas complicações registradas na classificação internacional de doenças (CID-10) no Brasil, entre 2010 e 2023.
Metodologia
Estudo descritivo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), de 2010 a 2023, apresentando a proporção média e a variação proporcional de óbitos notificados por DM e de suas principais complicações. Os códigos da CID-10 utilizados variaram de acordo com o tipo de diabetes (E10-E14) e respectivas complicações (E100-E149): E10 (insulino-dependente – tipo 1), E11 (não-insulino-dependente – tipo 2), E12 (relacionado à desnutrição), E13 (outros tipos) e E14 (não especificado). Os dados foram tabulados no TabWin 32 (linha: CID-10 4C Cap 04; coluna: ano do óbito) e exportados para o Excel 2016, onde foram calculadas as proporções totais, médias e a variação no período.
Resultados
Entre 2010-2023, o E14 concentrou 78% dos óbitos notificados, apesar da queda de -25,7%. E11 correspondeu a 14,2%, com aumento de 223,1%, e E10, 6,8%, com aumento de 186,6%. E12 e E13 mantiveram proporções reduzidas e tendência de queda. Observou-se aumento nas complicações oftálmicas em E11 (+101,1%), neurológicas e cetoacidose em E13 (+151,8% e +79,9%) e não especificadas em E12 (+148,9%). As complicações circulatórias cresceram em E10 (+78,2%), mas caíram em E12 (-75,1) e E13 (-26,6). “Sem complicações” aumentou em E10 (+40,1%) e E12 (+58,4%). Coma caiu mais de 55% em todos os tipos; cetoacidose e complicações múltiplas em E10 e E11. A maioria teve queda nas complicações não especificadas.
Conclusões/Considerações
Os achados ressaltam a importância de aprimorar o registro e a especificação dos tipos de DM nas declarações de óbito. O crescimento de óbitos por DM tipo 1 e 2, bem como de complicações evitáveis, reforça a necessidade de fortalecer a vigilância, ampliar o acesso ao cuidado integral e promover estratégias para prevenção e manejo adequado das complicações, especialmente no âmbito da atenção primária.
QUALIDADE DA DIETA E FATORES NUTRICIONAIS ASSOCIADOS A DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: REVISÃO NARRATIVA
Pôster Eletrônico
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade pela Universidade Federal do Piauí - UFPI.
2 Doutoranda em Saúde da Família pela RENASF/FIOCRUZ/UFPI e Mestre em Ciências e Saúde (PPGSC) pela Universidade Federal do Piauí - UFPI.
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um desafio crítico de saúde pública global, responsáveis por 41 milhões de mortes anuais. Entre os fatores contribuintes, destaca-se a má qualidade da dieta, associada ao aumento de obesidade, diabetes e hipertensão. Este estudo revisa os fatores nutricionais relacionados às DCNT, propondo estratégias para prevenção e promoção da saúde.
Objetivos
Revisar os fatores nutricionais da dieta associados às doenças crônicas não transmissíveis, com foco no sobrepeso e obesidade, e discutir estratégias preventivas em níveis individuais, comunitários e governamentais para promover a saúde pública.
Metodologia
Foi realizada uma revisão narrativa de literatura utilizando descritores como “doenças crônicas”, “alimentação inadequada” e “qualidade da dieta”. As buscas foram realizadas nas bases LILACS, SciELO e Medline, aplicando um recorte temporal de 2014 a 2023. Critérios de inclusão envolveram estudos com indivíduos de 18 a 60 anos e compatíveis com o objetivo. Dos 6 artigos selecionados, predominou o uso de metodologias como revisões sistemáticas, estudos de coorte e ensaios clínicos. A análise incluiu estratégias alimentares como dietas anti-inflamatórias e mediterrâneas, destacando padrões dietéticos saudáveis como fator protetivo para as DCNT.
Resultados
Os resultados indicaram que padrões alimentares saudáveis, como a dieta mediterrânea e anti-inflamatória, mostraram benefícios significativos na prevenção e controle de DCNT, com melhorias em parâmetros metabólicos e inflamatórios. Dos artigos revisados, 33,3% foram publicados em 2020, apontando crescente interesse no tema. Estratégias nutricionais, como a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, foram associadas a melhorias no peso corporal, na composição bioquímica e no perfil inflamatório dos indivíduos. Tais evidências reforçam a relevância de intervenções baseadas na qualidade da dieta.
Conclusões/Considerações
A qualidade da dieta é um elemento central na prevenção de DCNT, destacando-se como uma estratégia de saúde pública prioritária. Este estudo ressalta a necessidade de ações educativas, políticas públicas integradas e maior sensibilização da população para a adoção de padrões alimentares equilibrados. As conclusões fornecem subsídios para futuras pesquisas e a formulação de intervenções práticas no combate às DCNT.
MULTIMORBIDADE E ESTILO DE VIDA: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
Pôster Eletrônico
1 UNIFAL-MG
2 FSP/USP
3 UFMT
4 FMUSP
Apresentação/Introdução
A multimorbidade tem sido objeto de atenção de pesquisadores e formuladores de políticas públicas pela sobrecarga em que os indivíduos e famílias são acometidos, além dos impactos para os sistemas de saúde e para a sociedade. Contudo, ainda há carência de estudos sobre a influência do estilo de vida nos indivíduos que convivem com multimorbidade.
Objetivos
Investigar a relação entre multimorbidade e estilo de vida no município de São Paulo (SP)
Metodologia
Inquérito de base populacional com indivíduos com 20 anos ou mais residentes no município de São Paulo obteve dados sobre dois ou mais diagnósticos de condições de saúde, fatores sociodemográficos, comportamentais e de estilo de vida. Foram obtidas estimativas de prevalência e intervalos de confiança (95%) e utilizados os modelos de regressão de Poisson.
Resultados
Com uma amostra representativa de 3.184 indivíduos, o modelo final apresentou associação estatisticamente significativa para os que tinham iniciado pelo menos o ensino superior, com renda familiar nos três quartis superiores, obesos e apresentavam transtorno mental comum.
Conclusões/Considerações
Maiores prevalências de multimorbidade nos indivíduos obesos, com piores relato de estado de saúde e com transtorno mental comum apontam para necessidade de adoção de estratégias de promoção de um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e redução do estresse.
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ÓBITOS MATERNOS E RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA POR CAUSAS OBSTÉTRICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2013–2023
Pôster Eletrônico
1 Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
Apresentação/Introdução
A mortalidade materna é a morte de mulheres relacionada à gestação e ao parto, causada por complicações diretas, como hemorragias e hipertensão, ou indiretas, relacionadas a doenças pré-existentes agravadas pela gravidez. Estudar essas causas é essencial para melhorar a assistência e reduzir os óbitos maternos na cidade de São Paulo.
Objetivos
Descrever o perfil socioeconômico dos óbitos maternos e a razão de mortalidade materna por tipo de causa obstétrica na cidade de São Paulo, no período de 2013 a 2023.
Metodologia
Estudo epidemiológico ecológico, descritivo e quantitativo com dados oriundos do Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, da cidade de São Paulo (2013-2023). Foram incluídos dados sociodemográficas dos óbitos maternos, a saber: faixa etária, escolaridade, estado civil, local de ocorrência e causa do óbito. Os dados foram organizados em frequências relativas e absolutas. Para cálculo da razão de mortalidade materna por causa do óbito, utilizou-se o número de nascidos vivos na cidade de São Paulo, estratificado por ano. A razão de mortalidade materna específica por tipo de causa foi utilizada para construção do gráfico de série temporal.
Resultados
Os óbitos maternos no município de São Paulo, no período de 2013 a 2013, foram predominantemente em mulheres de 30 a 39 anos (48,49%), brancas (46,99%), solteiras (55,21%), aconteceram no hospital (96,06%) por morte materna obstétrica direta (50,92%). A razão de mortalidade materna por causa direta apresenta-se maior no período de 2013 a 2019 e meados de 2021 a 2023. No período de 2019 a início de 2021, a causa obstétrica preponderante foi a indireta. Em todo o período, a razão de mortalidade materna obstétrica não especificada foi menor dentre as causas, porém sofreu aumento no ano de 2020, tal qual a causa indireta.
Conclusões/Considerações
A mortalidade materna em São Paulo entre 2013 e 2023 evidencia desigualdades sociais e fragilidades na atenção à saúde da mulher. O predomínio de causas diretas e a oscilação durante a pandemia reforçam a importância de políticas públicas que garantam acesso, qualidade e equidade no cuidado, especialmente no pré-natal e no parto.
INCAPACIDADE EM INDIVÍDUOS COM E SEM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: ESTUDO MDS-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas são condições de longa duração, de caráter persistente e progressivo, as quais demandam manejo contínuo a fim de promover o controle dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É importante destacar que entre as doenças crônicas está a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), a qual, quando não tratada adequadamente, pode evoluir com incapacidades graves.
Objetivos
Descrever e comparar os níveis de incapacidade entre indivíduos hipertensos e não hipertensos no município de Santa Cruz, RN, Brasil.
Metodologia
Estudo transversal, quantitativo, de base populacional, realizado em Santa Cruz-RN. A amostra incluiu 500 adultos ≥18 anos, com amostragem intencional através de visitas domiciliares. Foi realizado o inquérito MDS-Brasil (módulos 1000, 4000 e 5000) para avaliar funcionalidade e condições de saúde. A coleta ocorreu entre outubro e novembro de 2022. Para analisar a associação entre HAS e os aspectos da funcionalidade foi utilizado o teste de qui-quadrado. A normalidade dos dados foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para analisar as diferenças entre os grupos com e sem HAS, foi utilizado teste Qui-quadrado, considerando o nível de significância de 5%.
Resultados
A amostra foi composta por 504 indivíduos, 178 com diagnóstico de hipertensão, sendo 149 mulheres (83,7%) e média de idade de 61 anos. Os indivíduos sem diagnóstico de HAS (n=236) são do sexo feminino (72,4%) com média de idade de 46 anos. Foi observada associação entre HAS e 7 itens do modulo 4000 do MDS-Brasil referente a mobilidade: levantar de uma posição (p<0,01), ficar em pé por longos períodos de tempo, como 30 minutos (p=0,02), sair de casa (p=0,02) percorrer curtas distâncias, como 100 metros (p=0,03), percorrer um quilômetro (p<0,01), realizar atividades intensas (p<0,01) chegar onde deseja ir (p<0,01).
Conclusões/Considerações
Os resultados revelam associação estatisticamente significativa entre o diagnóstico de HAS e incapacidade. Indivíduos hipertensos relataram maiores dificuldades em atividades simples (sair de casa, andar 100m) até mais exigentes (percorrer 1km, atividades intensas) em relação aos não hipertensos. Isso reforça que a HAS, além de uma condição clínica, pode impactar negativamente a funcionalidade humana.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM JEQUIÉ-BA
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição crônica multifatorial definida por níveis pressóricos persistentemente ≥ 140 x 90 mmHg. A presença da HAS tem papel agregador a diversos desfechos negativos de saúde, sobretudo relacionados ao sistema cardiovascular. Portanto, faz-se necessário o monitoramento desta doença visando minimizar danos e agravos aos indivíduos com esse diagnóstico.
Objetivos
Caracterizar o perfil epidemiológico dos trabalhadores da atenção primária à saúde com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, no município de Jequié-BA.
Metodologia
Estudo transversal oriundo do projeto “Impactos ocupacionais, econômicos e de saúde dos acidentes de trabalho em trabalhadores da atenção primária à saúde”, realizado no município de Jequié-BA, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme CAAE nº 98472718.2.0000.0055. A amostra do presente estudo foi composta por trabalhadores da atenção primária à saúde e a coleta de dados deu-se no ano de 2024. As variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, situação conjugal, filhos, renda bruta familiar, cargo e presença de hipertensão arterial. Para análise dos dados, utilizou-se o software STATA® (versão 12), aplicando-se medidas de estatística descritiva.
Resultados
Foram analisados 737 trabalhadores, dos quais, 78,2% eram do sexo feminino, com média de idade de 44,4 (DP= ±12.1), 51,24% em faixa etária ≥ 45 anos, 58,5% eram pardos, 30,2% com educação profissional de nível técnico, 60,9% possuíam companheiro, 76,9% tinham filhos, 36,3% rendimento bruto familiar de 1 a 2 salários mínimos, 57,6% eram cargos técnicos. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica foi de 24,9%, em mulheres (25,3%), com idade ≥ 45 anos (28,3%), negras (27,7%), com ensino fundamental (52,9%), que tem companheiros (28,0%) e filhos (30,2%), com renda familiar de 2,1 a 4 salários mínimo (28,6%) e possuem cargos comissionados (28,0%).
Conclusões/Considerações
Percebe-se que o perfil epidemiológico da hipertensão arterial sistêmica entre profissionais da atenção primária à saúde foram principalmente mulheres, ≥ 45 anos, negras e em cargos comissionados. Deste modo, o estudo aponta para a necessidade de ações voltadas à prevenção e controle de condições mais graves oriundas do referido agravo, de acordo com as características individuais e ocupacionais.
ASSOCIAÇÃO DE PADRÕES DO ESTILO DE VIDA COM SARCOPENIA EM MULHERES DA COORTE ELSA-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 Fundação Oswaldo Cruz
3 UFBA
Apresentação/Introdução
A sarcopenia, marcada pela perda de massa muscular e força é associada ao envelhecimento e à maior carga de morbimortalidade. Fatores como inatividade, alimentação inadequada, consumo de álcool e tabagismo, quando combinados ao longo da vida, podem agravar essa condição. A análise dos padrões de estilo de vida pode oferecer subsídios relevantes para a prevenção da sarcopenia em mulheres.
Objetivos
O estudo teve como objetivo descrever os padrões do estilo de vida e investigar a associação com a ocorrência de sarcopenia em mulheres participantes da coorte ELSA-Brasil.
Metodologia
Trata-se de um Estudo transversal com 3.864 mulheres (38–79 anos), servidoras públicas da coorte ELSA-Brasil, reavaliadas cerca de quatro anos após a linha de base. A soma dos comportamentos avaliados foi utilizada para composição do indicador do estilo de vida (cluster/padrões dos comportamentos): ≤ 2 saudáveis (menos saudável) e ≥ 3 (mais saudável). A sarcopenia foi definida por índice de massa muscular esquelética (IMME/altura²) e força de preensão manual, calculados a partir de dados da Análise de Bioimpedância Elétrica e Dinamometria. As análises foram a priori estratificadas por idade. Adotou-se a regressão logística para análise dos dados, utilizando o software STATA (versão 14).
Resultados
Entre as mulheres, 49.32% tinha idade ≤54 anos e 50,89% idade superior a 54 anos. Padrões de estilo de vida menos saudáveis foram verificados em 31,09% das mulheres com idade ≤ 54 anos e em 35,03% daqueles com idade >54 anos. A prevalência de sarcopenia em mulheres com idade ≤ 54 anos foi de 7,45% e naquelas com > 54 anos de idade foi de 10,28%. A prematuridade ao nascer entre mulheres com mais idade modificou o efeito dos padrões de estilo de vida sobre a ocorrência de sarcopenia (p=0,05). Verificou-se uma associação estatisticamente significante (OR=3,81; IC95: 1,21-11,99) em mulheres com padrões de estilo de vida menos saudáveis e prematuras ao nascer.
Conclusões/Considerações
A agregação de comportamentos de saúde (alimentação adequada, atividade física, consumo de bebidas alcoólicas e uso de tabaco) refletidos nos padrões de estilo de vida pode ter um impacto substancial para ocorrência de sarcopenia em mulheres mais velhas que reportaram prematuridade ao nascer. Políticas públicas que incentivem estilos de vida mais saudáveis desde o início do curso de vida são essenciais para prevenção da sarcopenia em mulheres.
CUSTOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALARES ATRIBUÍVEIS À OBESIDADE, NO DISTRITO FEDERAL, EM 2018 E 2021: UM COMPARATIVO ÀS PROJEÇÕES DO PLANO DE ENFRENTAMENTO ÀS DCNT DA SES/DF.
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O conjunto de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) atendem como a principal causa de morte e adoecimento no mundo e representa uma carga importante para o sistema de saúde, para a sociedade e para a economia das famílias e do país. Em 2016, a prevalência de obesidade no DF era de 15% e a meta em planejamento para 2022 era de 10%.
Objetivos
Estimar os custos federais com internações hospitalares atribuíveis à obesidade no contexto do SUS, no Distrito Federal, para os anos de 2018 e 2021.
Metodologia
Para a análise econômica, foi realizada uma estimativa top-down dos custos diretos com obesidade e condições associadas. Após a seleção de doenças e complicações associadasà obesidade, foi realizada a busca de custos com internações no SUS, que foram relacionados à prevalência da obesidade e dos riscos relativos de cada doença por meio da razão atribuível populacional (RAP). A análise se ateve ao Sistema Único de Saúde - SUS no Distrito Federal – DF.
Resultados
A meta da prevalência de obesidade em adultos; para 2018 era de 12,5% e, para 2021 era 10,7%. No entanto, em 2018, a prevalência de obesidade alcançou 18% e, em 2021 a prevalência de obesidade já acometia 22,6% da população do Distrito Federal. Por consequência, considerando os RAP para o escopo de doenças estudado e, comparando-os às metas estabelecidas, observou-se que, em 2018 os gastos teriam sido 25% menores, caso a meta tivesse sido alcançada. Para o ano de 2021, poderia ter sido evitado o gastos de R$ 5.673.010,39 com internação (44,7%), caso a prevalência de obesidade tivesse alcançado a meta proposta no Plano, que era de 10,7%.
Conclusões/Considerações
O esforço para cumprir o proposto, no plano de ações, não foram suficientes para alcançar as metas planejadas e isso tem gerado o aumento gradativo da prevalência da obesidade econsequente aumento nos gastos com a saúde pública do DF, para além do planejado e pactuado.
ARTICULAÇÕES POLÍTICAS NA DESOSPITALIZAÇÃO: DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA TRANSIÇÃO DE CUIDADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COMPLEXIDADES DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 IFF/Fiocruz
Apresentação/Introdução
O trabalho discutiu as articulações políticas na desospitalização de crianças e adolescentes com condições crônicas complexas, reconhecendo que a hospitalização prolongada gera efeitos institucionais em suas vidas. Destaca-se a fragilidade das políticas públicas na garantia de um cuidado contínuo, integral e intersetorial.
Objetivos
O estudo analisou criticamente a desospitalização de crianças e adolescentes com complexidades de saúde, avaliando políticas públicas no cuidado transicional e os desafios de sua efetivação e articulação intersetorial.
Metodologia
Trata-se de um ensaio teórico analítico-reflexivo, realizado na disciplina “Políticas de Saúde da Criança e da Mulher”, do PPGSCM IFF/Fiocruz, entre setembro e novembro de 2024. A análise baseou-se em revisão crítica de políticas públicas brasileiras, incluindo PNAISC, PNAD, PNSM, PNAISPD e PNH, e normativas intersetoriais da educação, assistência social e direitos de populações vulneráveis. O estudo dialoga com a saúde coletiva e desinstitucionalização, incorporando a experiência do autor na atenção domiciliar e reabilitação pediátrica.
Resultados
Os resultados indicaram que a maioria das políticas analisadas não abordava adequadamente a desospitalização na infância. A PNAISC excluía adolescentes e não contemplava alta complexidade; a PNAD, focada em idosos, não atendia demandas pediátricas. Políticas de Saúde Mental e Pessoa com Deficiência tinham enfoque adulto, sem diálogo sistemático com a infância. A Política Nacional de Humanização, embora valorize acolhimento e protagonismo, era pouco aplicada fora do hospital. Observou-se a invisibilização dos adolescentes, sem políticas específicas. Há necessidade de um marco político integrado entre saúde, educação e assistência social, que contemple o cuidado domiciliar pediátrico.
Conclusões/Considerações
Concluiu-se que a desospitalização de crianças e adolescentes com condições crônicas complexas exige políticas públicas integradas, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e articulando saberes e práticas intersetoriais. A qualificação da atenção domiciliar, formação das equipes, fortalecimento da rede de apoio e novas referências de cuidado são essenciais para garantir uma transição digna e centrada no desenvolvimento e convívio familiar.
O VIVER COM DIABETES MELLITUS TIPO I: SUBSÍDIOS PARA PROMOÇÃO À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFFS
2 Hospital Regional do Oeste
3 Secretaria Municipal de Saúde de Itá SC
4 Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Freitas SC
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis têm grande importância epidemiológica e social. Estão associadas a várias complicações e se destacam entre as principais causas de incapacidade e mortalidade no país. Entre estas doenças está o diabetes mellitus (DM), tais como DM tipo 1, que exige cuidados e adaptações na vida, pela deficiência absoluta de insulina resultante de um processo autoimune.
Objetivos
Compreender as percepções de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 sobre o viver com a doença e suas interfaces com a promoção à saúde.
Metodologia
Estudo qualitativo com oito pessoas que vivem com DM1 selecionados por meio do método bola de neve, dos quais dois eram do sexo masculino e seis do feminino. A coleta de dados utilizou entrevistas individuais guiadas por roteiro de questões e audiogravadas, que exploraram as experiências pessoais com o diagnóstico e o manejo do DM1. Os dados foram analisados por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), gerando nove temas, 31 ideias centrais e 38 DSC. O estudo está vinculado ao projeto matricial ‘Doenças Crônicas Não Transmissíveis e condições de saúde’, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade de origem (parecer nº 6.978.245).
Resultados
os participantes, com idades entre 22 e 36 anos, tinham, em média, 14 anos com DM1. O diagnóstico desencadeou sentimentos de medo, tristeza e negação. Adesão à dieta, controle glicêmico e atividade física foram as principais dificuldades. Observou-se que, aceitar a condição e adaptar-se a ela foram processos progressivos e essenciais para melhor controle do DM1. Alimentação, oscilações glicêmicas, cansaço, constrangimentos, testagens e as aplicações de insulina frequentes são grandes desafios. Médicos e enfermeiros auxiliaram com esclarecimentos, embora as orientações iniciais tenham sido breves e muitas informações foram buscadas na internet. Raramente falam sobre o DM com outras pessoas.
Conclusões/Considerações
o DM1 modifica a existência da pessoa, que enfrenta dificuldades como mudanças no estilo de vida e barreiras emocionais, geradoras de frustração e insegurança. A atenção empática e educativa dos profissionais da saúde é essencial para a adaptação e promoção à saúde de pessoas com DM1. O potencial da família, dos amigos e das mídias sociais deve ser valorizado para fortalecimento da autonomia.
DESIGUALDADES REGIONAIS NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA ANÁLISE DE CLASSES LATENTES A PARTIR DA OUVIDORIA DO SUS
Pôster Eletrônico
1 IAM-Fiocruz
2 UFPE
3 UCB
Apresentação/Introdução
IAM e AVE são as principais causas de morte e incapacidades no Brasil. Avaliar a qualidade assistencial sob a ótica do usuário permite identificar fragilidades no cuidado. A Ouvidoria do SUS é uma estratégia relevante de escuta ativa para subsidiar ações de gestão e equidade em saúde.
Objetivos
Analisar desigualdades regionais na percepção da qualidade assistencial prestada a pacientes com IAM e AVE, com base em perfis identificados por análise de classes latentes a partir da Ouvidoria do SUS.
Metodologia
Estudo transversal com dados da Pesquisa de AVE/IAM (OuvSUS/MS), com 28.553 participantes atendidos em hospitais públicos ou conveniados ao SUS. Realizou-se análise de classes latentes para identificar perfis de percepção da assistência. A associação com variáveis sociodemográficas e regionais foi analisada por modelos multivariados, utilizando a Classe 6 como referência negativa. As análises consideraram estrutura, processo e resultados do cuidado, com destaque para comunicação, resolutividade e atenção básica.
Resultados
Foram identificadas seis classes latentes. A Classe 4 (Excelência Integrada) e a Classe 5 (Alta Eficiência com Limitações) apresentaram melhor avaliação da assistência. Já a Classe 6 (Comunicação e Orientação Prejudicadas) concentrou os piores indicadores. As regiões Norte e Nordeste tiveram maior prevalência da Classe 6, enquanto Sul e Sudeste apresentaram maior proporção de classes com melhor percepção. As diferenças regionais foram estatisticamente significativas (p < 0,001).
Conclusões/Considerações
A análise revelou desigualdades regionais na qualidade percebida. O fortalecimento da atenção básica, da comunicação e dos fluxos assistenciais é essencial para reduzir as iniquidades e melhorar o cuidado a pacientes com DCV no SUS.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS CRÔNICAS EM ADULTOS: ANÁLISE SEGUNDO SEXO, FAIXA ETÁRIA E ESCOLARIDADE EM ESTUDO TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE
2 UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA e UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam importante carga de morbidade no Brasil. Fatores como sexo, idade e escolaridade influenciam sua prevalência, refletindo desigualdades no acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Análises estratificadas permitem identificar iniquidades e orientar estratégias na Atenção Primária à Saúde.
Objetivos
Analisar a prevalência de doenças crônicas autorreferidas em adultos, segundo sexo, faixa etária e nível de escolaridade, com base em dados de um inquérito populacional, visando identificar padrões epidemiológicos e potenciais iniquidades em saúde.
Metodologia
Estudo transversal, recorte de investigação mais ampla, realizado entre outubro/2024 e fevereiro/2025 em Unidade Básica de Saúde de município de médio porte no meio-oeste catarinense. A amostra, incluiu 192 usuários do Sistema Único de Saúde≥18 anos. Aplicou-se questionário estruturado com dados sociodemográficos e presença de doenças crônicas não transmissíveis. A análise foi realizada no software Stata® 14.0, com estatística descritiva, cálculo de prevalência e razão de prevalência (RP) com IC95%, estratificados por sexo, idade e escolaridade. O estudo seguiu os preceitos éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional (Parecer nº 7.111.723/2024).
Resultados
A prevalência de doenças crônicas foi de 20,3%, com diferença significativa entre os sexos, evidenciada por razão de prevalência (RP) de 1,72 entre mulheres. A análise por faixa etária demonstrou aumento progressivo da prevalência com o avanço da idade, sendo a RP quase três vezes maior entre indivíduos de 40 a 49 anos em relação aos mais jovens. Quanto à escolaridade, observou-se que indivíduos com ensino superior apresentaram maior prevalência que os de menor escolaridade, o que pode refletir maior acesso ao diagnóstico e à informação, ou maior percepção e reconhecimento dos problemas de saúde.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam a influência de variáveis sociodemográficas na prevalência de DCNT, com maior frequência entre mulheres, adultos de faixas etárias mais avançadas e indivíduos com maior escolaridade. Tais resultados reforçam a importância da estratificação sociodemográfica na formulação de estratégias equitativas na Atenção Primária à Saúde, além da necessidade de políticas públicas que assegurem o acesso justo e universal ao cuidado.
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL PARA O CUIDADO A PACIENTES COM DIABETES MELLITUS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Pelotas
2 Hospital de Clínicas de Passo Fundo
Apresentação/Introdução
No Brasil estima-se que existam cerca de 9 milhões de pessoas com Diabetes Mellitus (DM). O aumento dos casos têm preocupado devido às complicações relacionadas ao controle inadequado da doença. A DM está associada a maior incidência de doenças, perda da visão, insuficiência renal, neuropatia e amputações de membros inferiores.
Objetivos
Verificar a disponibilidade de materiais para o cuidado aos pacientes com Diabetes Mellitus nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 38 municípios da região sul do estado do Rio Grande do Sul (RS).
Metodologia
Coleta de dados realizada entre abril e junho de 2024 em 38 cidades pertencentes a 3ª, 7ª e 10ª Coordenadorias Regionais de Saúde do RS. Foram selecionadas 60% das UBS de cada município, totalizando uma amostra de 216 unidades. Optou-se por entrevistar um enfermeiro ou médico de cada equipe, estimando-se 297 profissionais. Foi construído um questionário com 297 perguntas com foco nas linhas de cuidado para Hipertensão e Diabetes na APS. A pesquisa é vinculada ao projeto APSCroniSul (Edital - CNPq/MS/SAPS/DEPROS N° 28/2020) e possui aprovação no comitê de ética em pesquisa sob parecer 5.171.70.
Resultados
Foram contempladas 97,4% (n=37) das cidades selecionadas, sendo entrevistados 247 profissionais, a maioria 81,8%(n=202) enfermeiros, de equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Quanto a estrutura para suporte à pacientes com Diabetes, o glicosímetro foi o equipamento mais referido em 99,6% (n=246). Entretanto, materiais para cuidados específicos foram poucos: Kit de monofilamento para teste de sensibilidade dos pés 6,5% (n=16), diapasão para teste de vibração 2,9% (n=7), martelo para avaliar reflexos 7,8% (n=19) e Teste Snellen para triagem oftalmológica 29,7% (n=73). As geladeiras específicas para armazenar medicamentos, como a Insulina foi referida em apenas 36,9% (n=90) dos serviços.
Conclusões/Considerações
A identificação precoce de fatores de risco, o controle glicêmico dos pacientes e o monitoramento de possíveis complicações é essencial para evitar diagnósticos tardios e comprometimentos irreversíveis. Os profissionais de saúde precisam estar atentos e envolvidos em ações de prevenção, entretanto, se faz necessário que sejam disponibilizados equipamentos para garantir o cuidado integral aos indivíduos e evitar encaminhamentos desnecessários.
PREDIÇÃO DE HIPERTENSÃO EM IDOSOS BRASILEIROS: EVIDÊNCIAS DO ELSI-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Minas
Apresentação/Introdução
Este estudo aplica algoritmos de Machine Learning para predizer hipertensão arterial em brasileiros com mais de 50 anos, usando dados do ELSI-Brasil. Com otimização de hiperparâmetros e seleção de variáveis via Boruta, os modelos foram avaliados em relação a AUC, acurácia, precisão, recall e F1 para identificar o mais robusto na predição dessa condição prevalente e preocupante na população idosa.
Objetivos
O principal objetivo foi comparar modelos de Machine Learning para predizer hipertensão arterial em idosos brasileiros com dados do ELSI-Brasil. Buscou-se identificar o algoritmo mais eficiente, visando aprimorar o diagnóstico e a intervenção precoce.
Metodologia
Este estudo utilizou dados de 7254 indivíduos participantes do ELSI-Brasil com 50 anos ou mais. A hipertensão arterial autorreferida, definida binariamente, foi a variável de desfecho. Variáveis de saúde e socioeconômicas foram candidatas a preditoras. Foi realizado o pré-processamento dos dados e a seleção de variáveis foi feita usando o método Boruta. O conjunto de dados foi dividido em 70% para treino e 30% para teste.
Foram aplicados os algoritmos Regressão Logística, Support Vector Machine, Random Forest, XGBoost e LightGBM. A otimização de hiperparâmetros ocorreu via validação cruzada (k=5). O desempenho dos modelos foi avaliado por AUC, precisão, acurácia, recall e F1-score.
Resultados
A prevalência de hipertensão na população brasileira com 50 anos ou mais foi de 67% (IC95% = 65% a 69%), considerando todos os indivíduos com diagnóstico prévio autorreferido (53%, IC95% = 51% a 55%) mais os que tiveram medidas altas e não relataram diagnósticos de hipertensão. O XGBoost demonstrou o melhor desempenho preditivo para hipertensão arterial, alcançando a maior Área sob a Curva ROC (AUC) entre os modelos avaliados. Sua AUC foi de 0.69, superando a Regressão Logística (AUC=0.65) e os outros algoritmos implementados. O recall do XGBoost foi de 0.93, indicando boa capacidade de identificar casos de hipertensão, enquanto a precisão foi de 0.71.
Conclusões/Considerações
Este estudo mostra que o XGBoost foi superior aos outros modelos para a predição de hipertensão arterial em adultos brasileiros com 50 anos ou mais. Os resultados reforçam a utilidade dos algoritmos de Machine Learning na epidemiologia para prever grupos de risco. A aplicação destes modelos pode subsidiar ações mais eficazes de saúde pública e intervenções precoces na população idosa, otimizando recursos e melhorando sua qualidade de vida.
AS VIVÊNCIAS DOS PROCESSOS SAÚDE-DOENÇA POR PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS
Pôster Eletrônico
1 Faculdade Luciano Feijão (FLF)
Apresentação/Introdução
O processo saúde-doença envolve aspectos multissistêmicos. No contexto do adoecimento crônico, a presença da doença se integra à rotina de vida do paciente, influenciando sua qualidade de vida e interações sociais. Assim, a saúde coletiva é um campo interdisciplinar que articula múltiplos saberes e promove a saúde como direito social, com foco nos determinantes sociais, históricos e políticos.
Objetivos
Investigar as vivências dos processos saúde-doença e as variáveis clínicas da doença e do tratamento por pacientes com doenças crônicas.
Metodologia
A pesquisa integra um estudo guarda-chuva de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, realizado em uma instituição filantrópica certificada como Hospital de Ensino. Contou-se com 19 pacientes adultos com diagnóstico confirmado de doença crônica, selecionados por amostragem de conveniência, com critério de saturação. Os instrumentos foram um questionário sociodemográfico e um roteiro de entrevista semiestruturada. A coleta ocorreu após aprovação ética com o Parecer nº 6.618.642. Os dados foram avaliados em três etapas pelo software IRaMuTeQ (análises lexicográficas clássicas; Classificação Hierárquica Descendente; e Nuvem de Palavras) e Análise de Conteúdo de Bardin.
Resultados
Os resultados foram organizados em duas classes: “Adesão ao tratamento: conflitos entre confiança, medo e autocuidado” revela que a adesão ao tratamento abrange o cumprimento de prescrições médicas, subordinação à autoridade médica e dilemas emocionais. A relação com os profissionais de saúde é permeada por confiança, medo e uma postura passiva, que compromete o protagonismo no autocuidado. A classe “A doença como tensão entre rendição e esperança, mediada pela crença” compreende as vivências intensas dos pacientes frente à doença crônica, oscilando entre esperança e desespero, fé e dúvida, submissão e autonomia. Destaca-se a espiritualidade como mecanismo central de coping.
Conclusões/Considerações
Constata-se a importância da compreensão das dimensões emocionais, sociais e espirituais no manejo do adoecimento crônico, ressaltando a necessidade de abordagens integrativas que promovam o protagonismo do paciente, a relação de confiança entre equipe de saúde e paciente, e respeito a singularidade de cada experiência.
AVALIAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS COMO CONDIÇÃO SENSÍVEL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL.
Pôster Eletrônico
1 Escola de Saúde Pública do Distrito Federal
Apresentação/Introdução
A reformulação da atenção à saúde no Brasil prioriza o fortalecimento da Atenção Primária, com foco no acesso às equipes de Saúde da Família. O impacto dessa estratégia pode ser medido pelo monitoramento das hospitalizações por condições evitáveis com cuidados ambulatoriais, abordagem adotada em vários países, incluindo o Brasil.
Objetivos
O objetivo do estudo foi descrever o total de internações por Diabetes mellitus no Distrito Federal, e correlacionar com os cuidados na Atenção Primária à saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional descritivo. A fonte de dados utilizada para a coleta das informações sobre as internações de diabetes mellitus foi o sistema de informação InfoSaúde-DF da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que tem como base os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Foram coletados os dados de internação no ano de 2024, utilizando as variáveis de sexo, idade, raça/cor. Vale salientar que informações são de acesso público. Os dados foram analisados estatística de forma descritiva por meio do software excel 2016.
Resultados
No ano de 2024 no Distrito Federal, as internações por Diabetes totalizaram 1719 internações, sendo 47,93% do sexo feminino onde a faixa etária com maior representação foi 20 a 29 anos e 52,07% do sexo masculino sendo a faixa etária de 60 a 69 a mais representativa. Quanto ao componente raça/ cor a população parda totalizou 73,1% das internações, seguida da população branca e preta com 20,2% e 5,8% respectivamente. Sendo a diabetes uma condição reconhecidamente sensível à APS, o número de internações indica possíveis falhas, seja no rastreamento, na adesão ao tratamento, no acompanhamento de pacientes crônicos ou no acesso aos serviços de saúde.
Conclusões/Considerações
A análise das internações indicam importantes achados que reforçam a necessidade do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. O alto número de internações, sobretudo entre jovens mulheres e idosos, além das desigualdades raciais, reforça a necessidade de fortalecer ações preventivas e ampliar o acesso aos cuidados continuados, a fim de evitar internações.
COEXISTÊNCIA DE DOENÇA CARDIOVASCULAR E FRAGILIDADE, SEGUNDO LIMITAÇÕES NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA: ELSI-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
2 Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas SP Brasil.
3 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) – Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia e Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas SP Brasil.
Apresentação/Introdução
A população mundial segue envelhecendo e esse processo ocorre de forma heterogênea. A fragilidade e as doenças cardiovasculares (DCV) ocupam altas prevalências nessa faixa etária e, muitas das vezes, coexistem. É importante analisar a associação das DCV com a fragilidade e sua relação com as limitações das atividades cotidianas.
Objetivos
Analisar a prevalência de DCV associada à fragilidade, segundo a presença de limitações nas atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), em pessoas com 50 anos ou mais participantes do Estudo ELSI-Brasil.
Metodologia
Estudo transversal com dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), 2015/2016. Foram consideradas: 1) presença de DCV (acidente vascular cerebral, angina, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca); 2) fragilidade, classificada segundo o fenótipo de fragilidade; e 3) limitação em AIVDs, definida como dificuldade em ao menos uma das atividades: preparar refeições, administrar dinheiro, usar transporte, fazer compras, usar telefone, administrar medicamentos, realizar tarefas domésticas leves ou pesadas. As prevalências das condições foram comparadas entre os grupos com e sem limitação nas AIVDs, por meio do teste qui-quadrado, com nível de significância de 5%.
Resultados
Entre os participantes, 33,0% não apresentaram DCV nem fragilidade. No grupo sem limitações nas AIVDs (n=2.389), 82,8% foram classificados como pré-frágeis ou frágeis, 6,7% relataram pelo menos uma DCV e 10,5% apresentaram ambas as condições. No grupo com limitações (n=3.569), 72,4% foram classificados como pré-frágeis ou frágeis, 3,9% relataram DCV e 23,7% apresentaram ambas as condições.
Conclusões/Considerações
A coexistência de DCV e fragilidade foi mais prevalente entre aqueles com limitação nas AIVDs, sugerindo maior vulnerabilidade funcional nesse grupo. Os achados reforçam a importância de estratégias integradas de cuidado para pessoas idosas com múltiplas condições crônicas.
SOBREVIDA GLOBAL E ESPECÍFICA DE PACIENTES DIAGNOSTICAS COM CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO ESTADO DE SÃO PAULO: MODELO DE COX COM INTERAÇÃO TEMPO-DEPENDENTE
Pôster Eletrônico
1 Universidade de São Paulo
2 Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo,
3 Instituto Mauá de Tecnologia
4 AC Camargo Cancer Center
5 Oncocentro do Estado de São Paulo
Apresentação/Introdução
O câncer do colo do útero (CCU) é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e continua sendo um importante problema de saúde pública, especialmente entre aquelas em situação de vulnerabilidade social.
Objetivos
Estimar a sobrevida global (OS) e específica (CSS) e identificar seus fatores prognósticos em mulheres diagnosticadas com CCU no estado de São Paulo entre 2000 e 2024
Metodologia
Estudo de coorte retrospectivo utilizando dados do Registro Hospitalar de Câncer do estado de São Paulo (RHC/SP). Foram incluídas 27590 mulheres com diagnóstico confirmado de CCU. Foram calculadas as probabilidades de OS e CSS por meio do método de Kaplan-Meier. A associação entre variáveis clínicas e demográficas com os desfechos foi avaliada por modelos de Cox com termos tempo-dependentes (Cox-TD), ajustando-se para idade no momento do diagnóstico, estadiamento TNM e tipo de hospital.
Resultados
O tempo mediano de seguimento foi de 4,83 anos para OS e 15,42 anos para CSS. As estimativas de OS em 1, 3, 5 e 10 anos foram de 78,2%, 57,0%, 49,4% e 39,2%; para CSS, 81,2%, 64,2%, 58,6% e 53,2%. No modelo Cox-TD para OS, maior risco de óbito foi observado em mulheres de 51–65 anos (AHR: 1,13; IC95%: 1,09–1,18), >65 anos (AHR: 1,63; IC95%: 1,56–1,69) e nos estágios TNM II (AHR: 2,52; IC95%: 2,35–2,71), III (AHR: 4,91; IC95%: 4,59–5,23) e IV (AHR: 10,47; IC95%: 9,77–11,21), com redução do efeito do estágio ao longo do tempo (Estágio IV: AHRtt: 0,60). Para CSS, resultados idênticos foram encontrados, com destaque para idade ≥65 anos e estágio IV (AHR: 14,69; IC95%: 13,54–15,94; AHRtt: 0,66).
Conclusões/Considerações
A sobrevida de pacientes diagnosticadas com CCU em São Paulo é impactada principalmente pelo estadiamento ao diagnóstico e idade. O efeito prognóstico desses fatores diminui ao longo do tempo, demostrando a importância do diagnóstico precoce, tratamento e do acompanhamento contínuo.
ESTIGMA DA OBESIDADE: O QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS TÊM A NOS DIZER?
Pôster Eletrônico
1 UERJ
2
Apresentação/Introdução
O estigma da obesidade impacta profundamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. No Brasil, embora políticas públicas promovam o enfrentamento da obesidade como problema de saúde pública, ainda são escassas as iniciativas que abordam o preconceito e a discriminação, revelando um desafio ético e social que necessita ser visto urgentemente.
Objetivos
Avaliar como a temática do estigma da obesidade é apresentada nos documentos e política públicas relativos a saúde, existentes e disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, no qual o campo da pesquisa foi o site oficial do Ministério da Saúde, na seção de documentos voltados à Saúde e Nutrição. Utilizou-se as palavras-chave “estigma”, “preconceito” e “gordofobia” para localizar documentos relacionados ao tema. Em seguida, foi realizada uma leitura flutuante e uma nova aplicação das palavras-chave em cada documento. Foram incluídos na análise aqueles que apresentaram ao menos uma menção às palavras-chave associadas ao tema obesidade. Esses documentos passaram por uma análise documental e interpretativa, a partir da qual foram construídas categorias de análise
Resultados
Foram encontrados 26 documentos, dos quais 4 foram analisados (dois instrutivos, um manual, uma estratégia), todos voltados à atuação de profissionais de saúde no SUS. Apenas três definem explicitamente o estigma do peso. Todos destacam o acolhimento como base para o vínculo terapêutico a pessoas com obesidade e trazem recomendações sobre comunicação não estigmatizante. A formação profissional é pouco problematizada, apesar de reconhecida como vetor de discursos gordofóbicos. Somente três documentos propõem estratégias de enfrentamento do estigma, centradas em linguagem adequada, escuta qualificada e acolhimento
Conclusões/Considerações
Este estudo revela que os impactos e efeitos negativos do estigma à pessoas com obesidade estão bem estabelecidos na literatura. Porém, ainda não há reflexos na articulação de políticas públicas ou ações intersetoriais voltadas a gordofobia ou à promoção de inclusão. Os documentos demonstram um avanço na ampliação do tema, para que chegue aos profissionais de saúde como bons instrutivos, mas carecem de ações efetivas direcionadas ao estigma.
ACIDENTES POR SERPENTES DO GÊNERO BOTHROPS EM 2024 NO ESTADO DO PARANÁ
Pôster Eletrônico
1 UFPR
Apresentação/Introdução
Os acidentes botrópicos, causados por serpentes do gênero Bothrops, popularmente conhecidas como jararacas e urutus, são os mais comuns no Brasil. No Paraná, o clima subtropical, a presença de áreas de floresta e as áreas rurais extensas favorecem a presença, reprodução e atividade dessas serpentes, aumentando o risco de acidentes com manifestações locais e sistêmicas graves.
Objetivos
Descrever o perfil dos acidentes botrópicos no Paraná em 2024, visando aprimorar o manejo clínico e ações preventivas em saúde pública nas regiões de maior risco.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, transversal, baseado na análise de dados secundários extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram incluídos todos os casos notificados como acidentes com serpentes do gênero Bothrops no estado do Paraná no período de janeiro a dezembro de 2024. As variáveis analisadas incluíram: sexo, raça/cor, macrorregião e regional de residência, local da picada, uso de soroterapia, evolução clínica e mês da ocorrência (para análise sazonal). Os dados foram tabulados no Microsoft Excel™, com cálculo de frequências absolutas, proporções e razões sazonais.
Resultados
Em 2024, foram registrados 462 casos de acidentes por Bothrops no Paraná, com 74% das vítimas do sexo masculino. A maioria eram brancos (74%), seguida por negros (20,6%). A macrorregião Leste concentrou 66% dos casos, destacando-se Morretes e Paranaguá, e em 2º lugar a macrorregião Oeste , com maior incidência em Cascavel e Foz do Iguaçu. O verão concentrou 40% dos casos e o inverno 6,4%. O pé foi o local mais atingido (38%) A soroterapia foi usada em 83% dos casos, 52% atendidos na 1ª hora após o acidente. A letalidade foi de 1% de óbitos - todos com soroterapia.
Conclusões/Considerações
O perfil segue o padrão nacional: maioria masculina, casos no verão.Os dados seguem a literatura , com concentração dos casos em regiões de áreas úmidas com maior preservação de matas, atividades agrícolas e turísticas. O enfrentamento requer vigilância para orientar e avaliar ações de prevenção, considerando regiões de maior risco, e tratamento com acesso rápido ao soro.
RADIODERMITE EM PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 Universidade do Estado do Amazonas
2 CEST
Apresentação/Introdução
Introdução: O câncer de cabeça e pescoço é um dos mais prevalentes no mundo, com aumento estimado de 30% nos próximos anos. No amazonas, são previstos 340 novos casos em 2024, com destaque para cavidade oral, tireoide e laringe. A radioterapia é um dos principais tratamentos, mas pode causar radiodermite, que afeta a qualidade de vida. Conhecer o perfil dos pacientes é essencial para um cuidado mais eficaz.
Objetivos
Objetivo: Descrever o perfil clínico e epidemiológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos ao tratamento com radioterapia.
Metodologia
Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com análise documental de 251 prontuários de pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à radioterapia em 2023, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. A coleta ocorreu entre agosto e novembro de 2024, por meio de formulário estruturado com variáveis sociodemográficas, clínicas e terapêuticas. Incluiu-se pacientes maiores de 18 anos, que receberam 23 ou mais frações de radioterapia.. A análise descritiva foi realizada no software Jamovi. O estudo foi aprovado foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas, conforme parecer nº 6.590.236.
Resultados
Resultados: dos 251 prontuários analisados, 93 foram incluídos. A maioria tinha entre 60-79 anos (49,5%), era do sexo masculino (73,1%) de cor parda (71%). A orofaringe foi o local tumoral mais frequente (34,4%). O carcinoma de células escamosas (56,1%) e estágio iii (45,2%) prevaleceram. A hipertensão foi a comorbidade mais comum (28%). A Radiodermite ocorreu em (35,5%), principalmente grau 1. A Técnica 3d e acelerador linear foram usados em (91,4%) e (97,8%) respectivamente. Quimioterapia foi concomitante em (65,6%). A maioria não interrompeu o tratamento (52,7%) nem realizou consultas de enfermagem (64,5%).
Conclusões/Considerações
Conclusão : Este estudo analisou 93 pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à radioterapia, confirmando a predominância entre homens e evidenciando a escassez de pesquisas e dados na região norte. Destaca a urgência de melhorar saúde pública com rastreamento precoce, monitoramento contínuo, tratamentos personalizados e fortalecimento do cuidado de enfermagem, para políticas eficazes de diagnóstico e tratamento adequados.
ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO GRUPO HIPERDIA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 UPE
3 Prefeitura do Recife
Período de Realização
21/08/2024 à 23/04/2025
Objeto da experiência
Realização de grupos de Hiperdia para acompanhamento multiprofissional de usuários com hipertensão e diabetes.
Objetivos
Relatar a experiência de implantação dos grupos de Hiperdia na USF Mais Jardim São Paulo como estratégia para orientar usuários com doenças crônicas, promover autocuidado e reduzir o fluxo excessivo de atendimentos individuais na unidade.
Descrição da experiência
Os encontros ocorrem mensalmente e reúnem usuários hipertensos e diabéticos. As atividades incluem rodas de conversa sobre tratamento e autocuidado, orientações farmacológicas e nutricionais, esclarecimentos sobre saúde bucal e troca de receitas. Participam enfermeira, técnica de enfermagem, agentes de saúde, dentista, nutricionista, farmacêutico, residentes de enfermagem, odontologia, farmácia e nutrição, promovendo cuidado integral e educativo.
Resultados
Observou-se diminuição na procura espontânea por atendimentos individuais para renovação de receitas, além de maior adesão ao tratamento e melhor controle das doenças. Os usuários demonstraram satisfação com o formato dos grupos e maior compreensão sobre suas condições de saúde, fortalecendo o vínculo com a equipe de saúde.
Aprendizado e análise crítica
A experiência reforçou a importância do trabalho multiprofissional e da educação em saúde como ferramentas para melhorar o autocuidado. Houve desafios iniciais na adesão dos usuários e na logística dos encontros, mas a continuidade dos grupos permitiu ganhos importantes na organização do serviço e na qualidade do atendimento.
Conclusões e/ou Recomendações
Os grupos de Hiperdia se mostraram uma estratégia eficaz para o acompanhamento de doenças crônicas e para a reorganização da demanda na USF. Recomenda-se a ampliação da prática, com fortalecimento da busca ativa e integração de outros temas de interesse dos usuários nos encontros.
ASSISTÊNCIA A FERIDAS CRÔNICAS, HUMANIZAÇÃO E TECNOLOGIA NO SUS: A LASERTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO CENTRADO NA PESSOA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura Municipal de Cubatão - PMC
Período de Realização
Iniciada em dezembro de 2024 no Serviço de Atenção Especializada e segue presente até o momento.
Objeto da experiência
Oferta de assistência integral e humanizada, contribuindo para o acesso de pessoas com feridas crônicas no SUS por meio da utilização da laserterapia.
Objetivos
Garantir assistência integral centrada na pessoa, considerando determinantes sociais de saúde e iniquidades sociais. Reduzir o tempo de cicatrização e complicações que geram impacto na qualidade de vida da pessoa. Viabilizar a utilização da laserterapia em demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.
Descrição da experiência
A laserterapia de baixa intensidade é uma tecnologia eficaz e de baixo custo ao SUS, utilizada no tratamento de feridas crônicas por enfermeiras capacitadas em ambiente ambulatorial. Promove a saúde, acelera a cicatrização, alivia a dor e previne agravos como uso excessivo de medicamentos, amputações, hospitalizações e óbitos. O cuidado é longitudinal e personalizado, considerando determinantes sociais e iniquidades para um planejamento de assistência centrado na pessoa.
Resultados
Observou-se como uma tecnologia eficaz ao reduzir o tempo de tratamento e o sofrimento associado às feridas. Sua ação analgésica e anti-inflamatória contribui para a circulação sanguínea na área afetada, favorecendo a oxigenação e a nutrição celular. Essa tecnologia eleva a qualidade de vida das pessoas, alinhando-se aos princípios do cuidado humanizado, iclusivo e centrado na pessoa. Portanto, a demanda assistencial aumentou, assegurando a universalidade e equidade no acesso.
Aprendizado e análise crítica
A vivência com a aplicação da laserterapia proporcionou um aprendizado ampliado que vai além da técnica, integrando saberes clínicos ao contato com realidades diversas, evidenciando iniquidades em saúde e a importância da integralidade do cuidado. Fortaleceu a escuta qualificada, o vínculo e a co-responsabilidade no processo terapêutico, reafirmando a necessidade de unir tecnologia e sensibilidade, com formação contínua e atuação ética no SUS.
Conclusões e/ou Recomendações
A laserterapia no SUS é uma estratégia inovadora no tratamento de feridas crônicas, reforçando os princípios da Lei n° 8.080/90. A integração da tecnologia com o cuidado humanizado fortalece a qualidade da assistência na saúde pública, contribuindo para a melhoria dos serviços, promoção e prevenção de agravos à saúde. Apesar da evidente relevância, seu uso ainda é limitado, exigindo maior produção científica e divulgação sobre a temática.
PROJETO MEIA LUA: OFICINAS DE ARTESANATO PARA GERAÇÃO DE RENDA E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME EM PORTO ALEGRE
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre – Coordenação de Políticas de Equidade
2 Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
Período de Realização
Oficinas realizadas continuamente de 2022 a 2025, promovendo geração de renda e cuidado em saúde.
Objeto da experiência
Oficinas semanais de artesanato para pessoas com Doença Falciforme, focando renda, saúde mental e vínculos.
Objetivos
Promover qualidade de vida e longevidade de pessoas com Doença Falciforme por meio da geração de renda, cuidado em saúde mental e fortalecimento de vínculos. Oferecer espaço coletivo de cuidado e capacitação, mesmo sem experiência prévia, reduzindo vulnerabilidades sociais.
Descrição da experiência
O Projeto Meia Lua realiza oficinas semanais de artesanato na Casa de Cultura Mario Quintana, voltadas a pessoas com Doença Falciforme em Porto Alegre. Iniciado em março de 2024, o projeto promove aprendizado prático, cuidado em saúde mental, fortalecimento de vínculos sociais e incentivo à geração de renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o enfrentamento das vulnerabilidades associadas à doença.
Resultados
A iniciativa estimula a participação contínua de pessoas que convivem com a Doença Falciforme, fortalecendo autoestima, laços e autocuidado. O grupo desenvolve habilidades artesanais com potencial de renda, em um ambiente acolhedor que prioriza a saúde mental. Além disso, o projeto tem ampliado a visibilidade da Doença Falciforme, ressaltando a relevância das ações entre saúde e cultura no apoio a populações vulneráveis.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revela que espaços comunitários que integram saúde, cultura e economia solidária são fundamentais para enfrentar as vulnerabilidades da Doença Falciforme. A falta de pré-requisitos facilita a inclusão, mas exige acompanhamento próximo. Os principais desafios incluem garantir a sustentabilidade, ampliar as ações e fortalecer a articulação entre políticas públicas e associações. A abordagem interdisciplinar se mostra essencial para alcançar resultados significativos.
Conclusões e/ou Recomendações
O Projeto Meia Lua promove a saúde integral e a autonomia de pessoas com Doença Falciforme. Recomenda-se sua ampliação, com recursos contínuos e fortalecimento de parcerias. É fundamental integrar ações culturais e de geração de renda às políticas públicas de saúde, assegurando uma resposta às especificidades da Doença Falciforme, com ênfase na equidade, inclusão social e valorização da vida.
GESTÃO DE CASOS COMPLEXOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 PEN, UFSC
Período de Realização
Entre janeiro a abril/ 2025 em uma UBS de porte III de Santa Catarina.
Objeto da experiência
Intervenção para gestão de casos considerados complexos na atenção primária por meio da elaboração de plano de cuidados multiprofissional.
Objetivos
Realizar a análise diagnóstica e situacional de pacientes complexos de um território. Identificar as pessoas domiciliadas ou situações de saúde que necessitem intervenções específicas terapêuticas. Determinar os planos de cuidados terapêuticos e de monitoramento, bem como atribuições de cada profissional.
Metodologia
Estudo de casos múltiplos. A intervenção aconteceu no domicílio ou na unidade de saúde. Realizado plano de cuidados individualizado, por meio das reuniões de equipe semanais, tanto para pacientes complexos ambulatoriais ou de os que demandavam atenção domiciliar. Participaram agentes comunitários de saúde, e profissionais médico, enfermeiro e cirurgião-dentista, liderados pelo enfermeiro. Incluiu-se nos atendimentos ações de educação para a saúde voltadas aos pacientes ou seus cuidadores.
Resultados
Total de participantes:2. Identificação: pessoas idosas com multimorbidades (n=7), criança(n=2), com paralisia cerebral e pós transplante de rim com bexiga neurogênica; jovens (n=4), com distrofia muscular (1), sequelas pós acidente (3); paliativo (n=2) e saúde mental grave (=4). Dentre esses, há 2 com uso de suporte ventilatório, um com oxigênio e outro com BIPAP. Todos pacientes identificados necessitavam, em maior ou menor grau, de suprimentos, orientação e acompanhamento da equipe.
Análise Crítica
A gestão de casos complexos na APS é um processo que visa o acompanhamento e a coordenação de cuidados, utilizando uma abordagem integral e multidisciplinar. O plano de cuidados definido em conjunto melhora o vínculo com os pacientes e suas famílias e organiza o processo de trabalho da equipe. Isso aumenta as chances de receberem atenção de qualidade, mais humanizada e que atenda às suas necessidades específicas, com foco na promoção da saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação.
Conclusões e/ou Recomendações
A gestão de casos complexos auxilia na cooperação para o cuidado, o fortalecimento do vínculo com os pacientes e resgata práticas de educação em saúde. As reuniões, discussões de casos e um plano de cuidados multiprofissional contribui para a detecção precoce de alterações e intervenções rápidas. Recomendamos a adoção de ferramentas tecnológicas que facilitem e auxiliem o registro e compartilhamento de informações e na organização do cuidado.
INTERCONSULTA MÉDICO DE FAMILIA E FARMACÊUTICO EM PACIENTE IDOSO POLIMEDICADO, EM CLÍNICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS) EM SAÚDE SUPLEMENTAR - RELATO DE EXPERIENCIA
Pôster Eletrônico
1 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
Período de Realização
Foi realizado em abril de 2025, em uma clínica de APS de Saúde Suplementar.
Objeto da experiência
Estruturação do plano de cuidado interdisciplinar entre médico e farmacêutico ao idoso polimedicado acompanhado em uma clínica de APS no MA.
Objetivos
1. Demonstrar a importância da interconsulta no desfecho clínico de paciente idoso polimedicado;
2. Entender as contribuições de cada profissional no contexto da interconsulta na APS.
Descrição da experiência
Estudo descritivo do tipo relato de experiência foi realizado em abril de 2025 em uma clínica de APS, de uma operadora de saúde, em São Luís/MA. A organização do trabalho partiu das interconsultas de acolhimento e retorno realizadas pelo médico da família e farmacêutica. Utilizou-se como métodos de análise: fichas de consulta farmacêutica, relato de condutas médicas e prontuário eletrônico.
Resultados
Trata-se de um paciente de 73 anos, idoso frágil (IVCF – 20), polifarmácia, possui alto grau de adesão à farmacoterapia (Morisky-Green), Alzheimer, insônia e doença cardiovascular. Identificaram-se interações medicamentosas do escitalopram, AAS e quetiapina, trazendo riscos de sangramento do trato gastrintestinal e prolongamento QT. Conduta: revisão do uso de antidepressivos, monitoramento cardíaco e risco de sangramento. Observou-se melhora no quadro de insônia e ajuste do ciclo sono/vigília.
Aprendizado e análise crítica
O Conselho Federal de Farmácia regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico provendo a consulta farmacêutica. Na interconsulta, cada profissional contribui com seu conhecimento para um objetivo comum: prevenir/recuperar a saúde do indivíduo. Além da troca de saberes, a interconsulta permite um cuidado integral onde as abordagens se complementam, trazendo o melhor resultado para a saúde do paciente.
Conclusões e/ou Recomendações
O cuidado longitudinal no cenário de polimorbidade e polifarmácia aumentam os riscos de problemas relacionados a medicamentos, e se faz necessária a elaboração de um plano de cuidado que gerencie a farmacoterapia. A interconsulta médico/farmacêutico otimiza o cuidado à saúde do paciente. Espera-se que tal prática seja mais frequente visando oferecer cuidados personalizados e eficazes.
O FALASSER DA DOR: ATRAVESSAMENTOS DA FIBROMIALGIA
Pôster Eletrônico
1 Instituição Privada de Saúde (Atendimento Psicológico Ambulatorial)
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Período de Realização
Análise realizada entre maio de 2024 e maio de 2025 na instituição de saúde em Salvador
Objeto da experiência
Analisar através da escuta clínica os efeitos subjetivos da fibromialgia em mulheres em um serviço de saúde
Objetivos
Promover um espaço terapêutico de escuta para mulheres com fibromialgia. Compreender os impactos da fibromialgia nas atividades laborais e de vida diária das mulheres assistidas
Metodologia
A experiência ocorreu através da escuta clínica de pacientes com fibromialgia, autodeclaradas do gênero feminino, com 45 anos ou mais, em instituição de saúde em Salvador. Os atendimentos foram quinzenais, analisando narrativas de sofrimento devido às dores. Também, alguns significantes foram trazidos referente a questões voltadas à história de vida, relações familiares, luto, traumas, questões raciais, sociais e de vulnerabilidade no qual evidenciou o sofrimento psíquico além da fibromialgia
Resultados
A fibromialgia manifesta-se eminentemente no corpo, por sintomas de dor. Diante da escuta clínica, foi notório a subjetividade destas pacientes ao relatarem sobre o sofrimento causado pelas dores e o impacto nas atividades laborais devido às restrições físicas. Além disso, o receio de serem nomeadas enquanto incapazes devido às dores da doença crônica, intensifica o sofrimento. No espaço de fala, o sujeito revisita, verbaliza e elabora subjetivamente esses significantes.
Análise Crítica
A clínica ampliada permite o cuidado integral às pacientes com fibromialgia, considerando sua subjetividade. No que tange o falasser, a fala sendo a principal ferramenta do inconsciente, favorece a elaboração do sofrimento e a ressignificação da dor. Mediante o exposto, o espaço de escuta não apenas acolheu o sofrimento para além da dor, mas proporcionou deslocamentos simbólicos significativos, reforçando a necessidade da fala na dor crônica
Conclusões e/ou Recomendações
A escuta clínica é um instrumento na compreensão dos atravessamentos subjetivos implicados na fibromialgia. A dor crônica, no espaço contexto terapêutico, vai sendo auxiliada pela fala para um direcionamento na manutenção e melhora dos sintomas, ainda que não haja perspectiva de cura. Assim, o reconhecimento da dimensão psíquica da dor proporcionado pela escuta clínica, contribui para a construção de um cuidado mais integral e humanizado.
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS COM FOCO EM PÉ DIABÉTICO.
Pôster Eletrônico
1 CESMAC
2 PROFSAÚDE/UFAL
Período de Realização
Maio de 2025.
Objeto da experiência
Pessoas com Diabetes Mellitus atendidas na USF João Moreira e seus familiares/cuidadores que se encontravam na sala de acolhimento.
Objetivos
Geral - Promover educação em saúde para prevenir amputações e reduzir internações evitáveis. Específico - Capacitar pacientes diabéticos e seus familiares sobre os cuidados diários com os pés, sinais de alerta e quando buscar atendimento médico.
Descrição da experiência
Foram utilizados banner ilustrativo, bacia com água, toalha limpa, espelho, hidratante (para demonstração prática) e cadeiras em círculo. A intervenção foi realizada em um encontro, com duração aproximada de 60 minutos, por meio de uma roda de conversa com demonstração prática dos cuidados com os pés, uso de materiais ilustrativos, espaço para dúvidas e partilhas de experiências dos próprios pacientes.
Resultados
A atividade contou com ampla participação, promoveu esclarecimento de dúvidas e contribuiu para a conscientização sobre medidas preventivas, por meio de uma dinâmica interativa e educativa. A ação reforçou a importância do autocuidado e da educação em saúde na prevenção de complicações do pé diabético.
Aprendizado e análise crítica
Possibilitou-se: 1) maior conhecimento dos pacientes sobre os cuidados com os pés, contribuindo para redução de complicações infecciosas e ulcerações; 2) fortalecimento do vínculo entre equipe e usuários; 3) estímulo ao autocuidado e à prevenção e 4) capacitação da equipe de saúde para identificação precoce das alterações relacionadas ao pé diabético.
Conclusões e/ou Recomendações
A intervenção realizada na USF João Moreira foi essencial para ampliar o conhecimento dos usuários sobre o pé diabético. Além disso, a atividade reforçou o conhecimento dos internos de medicina e forneceu uma nova experiência em educação em saúde.
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DO SUS PARA TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS
Pôster Eletrônico
1 UFSM
Período de Realização
A vivência ocorreu entre março e julho de 2025.
Objeto da experiência
Acompanhamento do cuidado de uma usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) com diabetes Mellitus do tipo II e deficiência visual.
Objetivos
Analisar o processo de cuidado em saúde e a experiência de uma usuária em relação ao SUS por meio do Itinerário Terapêutico e da Rede de Atenção à Saúde, destacando aspectos de cuidado antes e após a criação do SUS.
Descrição da experiência
A experiência se deu por meio da projeção do itinerário terapêutico de uma usuária do sistema de saúde de Santa Maria - RS. A execução ocorreu por meio de uma entrevista presencial com a usuária descrevendo sua trajetória pelo sistema e construção de um itinerário terapêutico, no qual foram analisados diversos aspectos, como articulação da rede de saúde, planejamento e execução de intervenções. Vale destacar que a usuária iniciou o acompanhamento anterior a criação do SUS.
Resultados
A vivência permitiu acompanhar uma usuária do SUS com diabetes mellitus tipo II tratada inadequadamente que resultou em deficiência visual. Proporcionando reflexões sobre os desafios no acesso ao cuidado, adesão ao tratamento e superação de barreiras, tanto antes quanto após a criação do SUS. O relato auxiliou a entender as fragilidades e potenciais da rede e fortaleceu o compromisso dos estudantes com uma prática mais humanizada e centrada no usuário.
Aprendizado e análise crítica
A experiência ampliou a compreensão sobre os desafios do acesso e cuidado no SUS, evidenciando a importância da escuta ativa, do acolhimento e da continuidade do cuidado. Favoreceu reflexões sobre as barreiras estruturais, sociais e históricas, permitindo refletir criticamente sobre as desigualdades no período anterior ao SUS e os avanços após sua criação. Reforçando, assim, a necessidade de uma atuação crítica e humanizada, fortalecendo o compromisso com a defesa do SUS e a equidade no cuidado.
Conclusões e/ou Recomendações
A vivência reforça a importância de formações pautadas na realidade local, no diálogo intersetorial e na centralidade da Atenção Básica no cuidado, essenciais para fortalecer o SUS. Contudo, revela falhas na regulação e no acesso especializado. Recomenda-se fortalecer a humanização e a integralidade, garantir transporte para tratamentos fora do domicílio e ampliar a educação em saúde para melhorar a adesão e a autonomia do usuário.
CORPOS E VIDAS CONFINADOS: REFLETINDO SOBRE O CUIDADO DOMICILIAR NA OBESIDADE GRAVE EM UM TERRITÓRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Período de Realização
Março de 2024 a maio de 2025.
Objeto da experiência
A vivência no cuidado de usuários com obesidade grave domiciliados e os desafios na sistematização das rotinas através da Clínica da Família.
Objetivos
Identificar dificuldades e barreiras no cuidado domiciliar para pessoas com obesidade grave assistidas por uma Clínica de Saúde da Família. Discutir as práticas já empreendidas e caminhos para o atendimento das demandas, considerando o contexto local e as necessidades dos usuários.
Descrição da experiência
Foram acompanhados cinco mulheres e um homem, a maioria acamados, com hipertensão, diabetes e lipedema. A complexidade exige cuidados contínuos da equipe eMulti e encaminhamentos, mas os atendimentos domiciliares são irregulares. O contexto do território, com violência, saneamento precário e acesso difícil, com escadarias e becos, impõe barreiras significativas à saúde. Planos de cuidados individuais foram criados, focando no autocuidado e na reeducação alimentar, com o apoio dos cuidadores.
Resultados
As múltiplas demandas dos usuários evidenciaram a falha na integração do cuidado, mas também revelaram o potencial das intervenções domiciliares. Estratégias motivacionais, voltadas à mudança de hábitos alimentares e atividades físicas adaptadas, foram aplicadas nas visitas, resultando em perda de peso, recuperação da mobilidade e locomoção. Um caderno de memórias foi entregue como ferramenta para registrar sentimentos durante o tratamento e fortalecer o autocuidado.
Aprendizado e análise crítica
Nota-se uma distância clara entre os princípios da Linha de Cuidado para Sobrepeso e Obesidade e sua implementação no território. A recente incorporação de medicações como a semaglutida no protocolo adotado no município do Rio de Janeiro, levanta questões sobre a busca de efetividade sem um acompanhamento domiciliar robusto. Os relatos de campo evidenciam a importância da escuta ativa, a necessidade de organização dos registros e a articulação da rede de atenção, que hoje é deficiente.
Conclusões e/ou Recomendações
O cuidado domiciliar para obesidade grave deve estar inserido no escopo das ações da Linha de Cuidados da APS. É essencial qualificar profissionais de forma acolhedora e humanizada, além de promover reuniões de equipe que viabilizem a operacionalização das rotinas de acompanhamento desses usuários, considerando demandas e realidades dos usuários. É preciso fortalecer e articular os pontos da rede assegurando a integralidade do cuidado.
INTEGRAÇÃO ENTRE FISIOTERAPIA, ENGENHARIA E DESIGN NA REABILITAÇÃO PÓS-AVC: RELATO DA EXPERIÊNCIA CLÍNICA E TECNOLÓGICA UNIVAP–UNIFESP NA PRODUÇÃO DE ÓRTESES 3D
Pôster Eletrônico
1 UNIVAP
2 UNIFESP
Período de Realização
Março de 2024 a Fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Atendimento clínico e desenvolvimento técnico-estético de órteses estáticas personalizadas para pacientes com sequelas motoras decorrentes de AVC.
Objetivos
Relatar a experiência interdisciplinar entre a equipe de engenheiros, designers e fisioterapeutas da UNIVAP e da UNIFESP na reabilitação de pacientes com espasticidade pós-AVC, por meio do desenvolvimento e aplicação clínica de órteses personalizadas produzidas com tecnologias de manufatura avançada.
Descrição da experiência
No Núcleo do Laboratório de Engenharia de Reabilitação Sensório-Motora (LERSM) da UNIVAP, a equipe de engenheiros e fisioterapeutas realiza triagem, escaneamento e avaliação clínica dos pacientes. Na UNIFESP, a equipe do Laboratório de Órteses e Próteses 3D (LO&P3D), composta por engenheiros biomédicos e designer, é responsável pelo escaneamento tridimensional, rigging digital, modelagem personalizada e impressão 3D das órteses, integrando funcionalidade, conforto e estética.
Resultados
Quatro órteses foram desenvolvidas e entregues a pacientes em fase crônica pós-AVC, com boa adaptação anatômica, aceitação clínica e conforto percebido. A experiência gerou um fluxo técnico-clínico replicável, promoveu a capacitação das equipes envolvidas e demonstrou potencial de escalabilidade para o SUS, aliando a precisão técnica à humanização do cuidado.
Aprendizado e análise crítica
A atuação conjunta entre fisioterapeutas, engenheiros e designer evidenciou o valor da interdisciplinaridade na construção de soluções centradas no paciente. O uso de software livre e ferramentas acessíveis viabilizou a aplicação clínica mesmo em contextos com recursos limitados. O design foi essencial para garantir ergonomia, estética e adesão ao uso das órteses.
Conclusões e/ou Recomendações
A integração entre clínica, engenharia e design é estratégica para ampliar o acesso a tecnologias assistivas personalizadas no SUS. Recomenda-se a replicação do modelo em outras instituições e contextos, promovendo inovação centrada no usuário, autonomia tecnológica e práticas interdisciplinares voltadas à reabilitação neurológica.
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE UMA USUÁRIA COM DIAGNÓSTICO TARDIO DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO ÁREA PROGRAMÁTICA AP5.1
Pôster Eletrônico
1 Biológo gerente ESF/AP5.1/SMS-RJ
2 Enfermeira DAPS/ CAP 5.1/SMS-RJ
3 Médico ESF /A.P.5.1/SMS-RJ
4 Enfermeira ESF/A.P.5.1/SMS-RJ
5 Médica estagiária ESF/A.P.5.1/SMS-RJ
6 Enfermeira Diretora DAPS/ CAP 5.1/SMS-RJ
Período de Realização
A investigação teve início em março de 2024 com diagnóstico após um ano.
Objeto da experiência
Descrição da trajetória percorrida por uma usuária com lesões de pele e neuropatia periférica na atenção primária até a confirmação diagnóstica.
Objetivos
Relatar o itinerário terapêutico de uma usuária com sinais e sintomas sugestivos de hanseníase há três anos identificando os facilitadores e obstáculos no processo.
Metodologia
A usuária JFP, 66 anos, negra, do sexo femino, com queixas de neuropatia periférica, perda de força em mãos, artralgias e manchas na pele há mais de três anos. Com a intensificação da investigação clínica, foi encaminhada ao reumatologista. Entretanto, uma lesão oral biopsiada identificou “BAAR” positivo, direcionando para diagnóstico correto. O intervalo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico ocorreu em três anos, resultando no diagnóstico tardio com incapacidades instaladas.
Resultados
Diagnóstico tardio de hanseníase multibacilar, com sequelas neurológicas e incapacidades instaladas. O desconhecimento da população sobre os sinais e sintomas iniciais, retardam a busca por ajuda. A fragilidade na rede, com a demora excessiva no acesso a especialistas e resultados de exames. A baixa resolutividade da atenção primária relacionada a capacitação técnica para o diagnóstico precoce, impacta de forma irreversível na qualidade de vida e eleva os custos para o SUS.
Análise Crítica
O diagnóstico precoce na hanseníase é a maneira mais eficiente de evitar deficiências e incapacidades. Conhecer o itinerário terapêutico é importante para entender suas barreiras com objetivo de melhorar o cuidado integral. Dentre as dificuldades encontradas, destacam-se a demora no atendimento, diagnósticos equivocados e despreparo dos profissionais. Gerando gastos desnecessários, sofrimento psíquico, aposentadorias precoces e readaptações laborais.
Conclusões e/ou Recomendações
O diagnóstico precoce da hanseníase exige conhecimento técnico dos profissionais, organização da rede de atenção e a participação da sociedade. Recomenda-se o treinamento continuado dos profissionais para o diagnóstico precoce, manejo correto e encaminhamento adequado. Promover ações de educação em saúde para aumentar a suspeição diagnóstica. Fortalecer as ações de vigilância em saúde nos territórios mais vulneráveis direcionando melhor os recursos.
CUIDADO ÀS GESTANTES EM VULNERABILIDADE: FORTALECIMENTO DO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Pôster Eletrônico
1 ITPAC - PORTO
2 PROFSAUDE
Período de Realização
Janeiro de 2024 a maio de 2025
Objeto da experiência
Qualificação do cuidado pré-natal de gestantes com vulnerabilidade social e baixa adesão ao acompanhamento.
Objetivos
Aumentar a adesão ao pré-natal e qualificar o cuidado às gestantes em situação de vulnerabilidade por meio de ações educativas, acompanhamento individualizado e escuta ativa na UBS Isadora Chaves Moura.
Descrição da experiência
A equipe de enfermagem identificou gestantes que iniciavam o pré-natal tardiamente ou abandonavam o acompanhamento. Foram implementadas estratégias como visitas domiciliares, rodas de conversa, acolhimento com escuta qualificada e plano de cuidado personalizado, com foco nas barreiras socioeconômicas, culturais e emocionais enfrentadas pelas usuárias.
Resultados
Aumentou-se o número de consultas iniciadas até a 12ª semana, além da taxa de comparecimento nas consultas subsequentes. Gestantes relataram maior confiança na equipe e entendimento sobre sua saúde. A experiência favoreceu o vínculo e a corresponsabilização no cuidado.
Aprendizado e análise crítica
A escuta ativa e o acolhimento humanizado mostraram-se centrais na adesão ao pré-natal. A atuação da enfermagem, de forma empática e articulada com outros setores da UBS, foi fundamental para reduzir a invisibilidade das gestantes em vulnerabilidade.
Conclusões e/ou Recomendações
É necessário institucionalizar práticas de acolhimento e cuidado personalizado no pré-natal, com investimento na capacitação de equipes e articulação intersetorial. A proposta pode ser replicada em contextos semelhantes para reduzir desigualdades no cuidado materno.
ESTRATÉGIA VIVER MELHOR – UMA JORNADA MULTIDISCIPLINAR DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONÁRIOS COM SOBREPESO E OBESIDADE EM UMA UNIDADE DE OPERADORA DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Pôster Eletrônico
1 CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Período de Realização
Atividade planejada entre abril/2023 e fevereiro/2024 e está em execução desde março/2024.
Objeto da experiência
Programa de promoção de saúde e bem-estar para funcionários de uma operadora de saúde, cujo modelo de cuidado é o da Atenção Primária à Saúde (APS).
Objetivos
O programa visa estimular hábitos de vida saudáveis, promover bem-estar e saúde mental, reduzir peso e controlar comorbidades em funcionários com sobrepeso/obesidade de uma operadora de saúde suplementar, bem como qualificar o acolhimento e a assistência a esse público.
Metodologia
O programa iniciou com atividades de Educação em Saúde motivando hábitos de vida saudáveis localmente. Houve treinamento da equipe multidisciplinar para qualificar o acolhimento dos funcionários com sobrepeso/obesidade. Os funcionários com esse perfil de saúde foram triados durante o exame periódico pelo médico do trabalho e acompanhados a partir de um fluxo entre técnico de enfermagem, médico de família, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta (tutor). Todos matriciados pela endocrinologista.
Resultados
Tratando-se de programa em curso, temos o perfil epidemiológico inicial: foram levantados dados referentes a peso, alimentação, exercícios físicos e bem-estar. Dos 42 funcionários triados, 37 aceitaram participar; destes, 29% têm obesidade e 71%, sobrepeso. 68% são mulheres; 60% praticam exercício físico e consideram sua alimentação saudável; 83% investem em seu bem-estar e 90% se mostraram motivados a reduzir peso em 30 dias, com alto grau de confiança em alcançar seu objetivo.
Análise Crítica
Um programa voltado para sobrepeso/obesidade requer uma assistência multidisciplinar com foco motivacional para estimular a adesão continuada a hábitos de vida saudável, com impacto positivo na funcionalidade e saúde como um todo. Tomados por situações diárias, muitas vezes a rotina acaba sendo burlada como estratégia de compensação. Deste modo surgiu o acompanhamento regular da tutoria pelo fisioterapeuta com base em um plano de ação, levando em consideração o estágio motivacional.
Conclusões e/ou Recomendações
Os resultados apresentaram que independente de afirmarem prática regular de exercício e alimentação saudável, o sobrepeso e a obesidade persistem como um problema para os funcionários do programa, exigindo um olhar ampliado e empático na assistência. Nos mostra, ainda, a importância de se investir em um programa multidisciplinar para o enfrentamento de uma doença crônica e complexa como sobrepeso/obesidade.
ATUAÇÃO DE RESIDENTES DE ENFERMAGEM DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 ESPSJP
Período de Realização
A experiência relatada ocorreu no mês de maio de 2025.
Objeto da experiência
Refletir sobre as contribuições da integração do serviço especializado e atenção primária à saúde (APS) no cuidado de pessoas com feridas complexas.
Objetivos
Relatar a experiência de quatro residentes de enfermagem do programa de residência multiprofissional em saúde da família no ambulatório especializado em tratamento de feridas em um município de região metropolitana de Curitiba.
Descrição da experiência
O estágio externo ocorreu no ambulatório de tratamento de feridas do município de São José dos Pinhais, Paraná. As pessoas elegíveis para o tratamento são aquelas com feridas de difícil cicatrização como úlceras vasculogênicas, lesão por pressão, pé diabético, entre outras. O serviço se diferencia pelo uso de terapias adjuvantes como laser de baixa intensidade (LLLT), fibrina rica em plaquetas (PRF), além de outras coberturas tecnológicas utilizadas no gerenciamento de feridas complexas.
Resultados
O período permitiu aprofundamento sobre as distintas abordagens terapêuticas, além de compreender a dinâmica entre os serviços, evidenciando a relevância de uma comunicação eficaz entre os equipamentos de saúde do município. A APS desempenha um papel central na prevenção, detecção precoce e acompanhamento longitudinal dos usuários, enquanto o ambulatório especializado atua como apoio matricial e referência nos casos complexos.
Aprendizado e análise crítica
O ambulatório revelou-se um ambiente crucial para o aprimoramento do raciocínio clínico e das habilidades técnicas na avaliação e elaboração de planos terapêuticos para feridas complexas. Embora a APS, atue no controle de doenças crônicas e de seus agravos, notou-se déficit no autocuidado do paciente com a ferida, limitação profissional sobre o tema e escassez de recursos, impactando nos resultados do tratamento.
Conclusões e/ou Recomendações
Desse modo, a prática destacou a importância da ação conjunta entre a APS e rede especializada, promovendo uma formação mais alinhada às necessidades do sistema de saúde. Os quais compartilham do mesmo objetivo, o aprimoramento da assistência e os resultados positivos para o paciente, com foco no autocuidado, proporcionando uma assistência contínua e centrada no usuário e na família.
AVALIAÇÃO DOS PÉS EM PESSOAS COM DIABETES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFSC
2 FASL
3 PMSJ
Período de Realização
Realizado de fevereiro a maio de 2025.
Objeto da experiência
Relato da atuação de residentes de enfermagem na avaliação sistemática dos pés de pessoas com diabetes na Atenção Básica.
Objetivos
Descrever a experiência de residentes de enfermagem na avaliação de pés de pessoas com diabetes na Atenção Básica, evidenciando a relevância dessa prática na prevenção de complicações, promoção da educação em saúde e desenvolvimento de competências clínicas e educativas.
Metodologia
A atividade ocorreu em consultas agendadas, com anamnese dirigida, inspeção, teste de sensibilidade e orientações sobre cuidados com os pés, uso de medicação e hábitos saudáveis. Em casos com alterações, realizou-se consulta compartilhada com médico da família. A prática foi supervisionada por preceptores e articulada com ações educativas para usuários com diabetes.
Resultados
A avaliação sistemática permitiu identificar precocemente alterações como ressecamento, deformidades e perda de sensibilidade. Houve melhora na adesão aos cuidados, vínculo com a equipe e valorização da prática pela comunidade. Para as residentes, favoreceu o desenvolvimento de habilidades clínicas, educativas, escuta qualificada e abordagem centrada na pessoa.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a importância da enfermagem na prevenção de complicações do diabetes na Atenção Básica. O processo formativo favoreceu o aprendizado técnico-relacional, fortalecendo a escuta ativa e a educação em saúde. A avaliação regular dos pés ainda é pouco valorizada, sendo necessário ampliar essa prática e inseri-la na formação profissional desde a graduação e residência.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que a avaliação de pés em pessoas com diabetes deve ser incorporada sistematicamente na Atenção Básica, com protagonismo da enfermagem e articulação com outros profissionais. É necessário incluir essa prática nas rotinas das equipes e na formação em residências, promovendo prevenção, autonomia do usuário e qualificação do cuidado no SUS.
ESTRATÉGIA DE AMPLIAÇÃO DE ACESSO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS NA APS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS
Pôster Eletrônico
1 SESAU CAMPO GRANDE-MS
2 SESAU/FIOCRUZ CAMPO GRANDE-MS
Período de Realização
Janeiro de 2023 a junho de 2024.
Objeto da experiência
Um Projeto de Intervenção para potencializar o cuidado aos diabéticos na USF Dr. Hélio Coelho por meio da análise de dados antes e após da ação.
Objetivos
Avaliar o impacto da intervenção denominada “Semana do Diabético” na melhoria da assistência prestada aos usuários com DM, visando fortalecer o cuidado integral e resolutivo na Atenção Primária à Saúde (APS).
Metodologia
A intervenção consistiu na realização de ações multiprofissionais concentradas, incluindo exames do pé diabético e de retinografia digital, atendimentos odontológicos, atividades educativas e práticas integradas de saúde. Essas ações foram articuladas com estratégias de reorganização do processo de trabalho, qualificação da equipe e promoção do autocuidado, alinhadas aos princípios da APS.
Resultados
O diabetes mellitus é a terceira condição crônica mais prevalente na USF, o que motivou a implementação de um projeto de intervenção. Houve redução nas consultas médicas (-22%) e de enfermagem (-18%). A adesão à ginástica foi de 12% e à nutrição, 8%. Observou-se aumento nos exames do pé diabético (+35%) e retina (+28%). Destacam-se como avanços a organização dos fluxos assistenciais e a capacitação da equipe, apesar das fragilidades em vigilância, recursos e autocuidado.
Análise Crítica
A experiência demonstrou a relevância da abordagem multiprofissional e da integralidade no cuidado ao paciente com DM na APS. Observou-se melhoria em indicadores de rastreamento e ampliação do acesso, além do fortalecimento de práticas educativas. Contudo, a baixa adesão a intervenções não farmacológicas e limitações operacionais indicam a necessidade de continuidade das ações, maior articulação intersetorial e investimentos estruturais.
Conclusões e/ou Recomendações
Apesar dos avanços na organização dos fluxos e na qualificação do cuidado, os resultados evidenciam a necessidade de reforçar a equipe de profissionais, assegurar o abastecimento regular de medicamentos e adotar estratégias complementares, como teleconsultas e visitas domiciliares. Recomenda-se o fortalecimento da educação em saúde e a integração de tecnologias para qualificar o acompanhamento longitudinal de usuários com DM na APS.
PROGRAMA ÚTERO É VIDA: EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ELIMINAÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM PERNAMBUCO
Pôster Eletrônico
1 IMIP/PE
2 SAES/Ministério da Saúde
3 INCA/Ministério da Saúde
4 SAPS/Ministério da Saúde
5 OPAS/OMS
Período de Realização
Setembro de 2023 - atual
Objeto da experiência
Implementação de estratégia inovadora de rastreio organizado do câncer de colo do útero em Pernambuco
Objetivos
Qualificar a linha de cuidado do câncer de colo do útero no SUS em Pernambuco, por meio da adoção do teste molecular de HPV, da reorganização da rede de atenção, da ampliação da cobertura vacinal e do fortalecimento do seguimento clínico das mulheres.
Descrição da experiência
O Programa Útero é Vida é uma iniciativa piloto conjunta do Ministério da Saúde, SES-PE e OPAS, implementada em 24 municípios de Pernambuco. A experiência articula rastreio por teste de DNA-HPV, vacinação escolar contra HPV, reorganização da regulação e diagnóstico, e navegação do cuidado. Envolve múltiplos atores e tecnologias digitais como o software Jordana. A partir de oficinas, visitas técnicas e capacitações, foram implantadas estratégias para rastreio organizado, ampliação de acesso e monitoramento
Resultados
Mais de 21 mil testes DNA-HPV realizados; cobertura vacinal ampliada com mais de 26 mil doses aplicadas em escolas; protocolos estaduais estabelecidos; diagnóstico situacional da linha de cuidado consolidado; comitês técnicos instituídos; painel de indicadores em desenvolvimento; fortalecimento da APS e da logística laboratorial. Pernambuco passou a integrar estratégia nacional e internacional como referência na eliminação do CCU.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a potência da articulação interinstitucional e do trabalho colaborativo para promover inovação tecnológica com equidade. Revelou barreiras estruturais como a fragmentação dos sistemas de informação, subnotificações, déficit de especialistas e desafios na logística. A aposta em navegação do cuidado, educação permanente e rastreio organizado mostrou-se promissora, mas requer sustentabilidade política, financiamento e envolvimento das gestões locais.
Conclusões e/ou Recomendações
A estratégia pernambucana tem potencial de ser replicada nacionalmente e nas Américas. Recomenda-se fortalecer a interoperabilidade dos sistemas, ampliar cobertura de testagem e vacinação, institucionalizar o modelo de navegação do cuidado e investir na formação das equipes. A experiência reforça que eliminar o câncer do colo do útero como problema de saúde pública exige compromisso político, governança compartilhada e centralidade no cuidado das mulheres.
QUANDO A ESCUTA NUTRE – A PRÁTICA CLÍNICA NUTRICIONAL COMO ESPAÇO DE CUIDADO EM PESSOAS COM DCNT
Pôster Eletrônico
1 CASSI
Período de Realização
janeiro de 2024 até dezembro de 2024
Objeto da experiência
A escuta como tecnologia leve no cuidado nutricional de pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), na saúde suplementar.
Objetivos
Fortalecer o vínculo entre nutricionista e pacientes com DCNT por meio da escuta qualificada; ampliar a compreensão sobre o comer para além da prescrição alimentar; integrar o cuidado nutricional à equipe multiprofissional, considerando os aspectos subjetivos e sociais que envolvem o adoecimento crônico.
Descrição da experiência
Foram acompanhados 376 pacientes com idade entre 40 e 79 anos, sendo 229 (61%) do sexo feminino, todos com diagnóstico de ao menos uma DCNT. Os atendimentos ocorreram entre janeiro e dezembro de 2024, com todos os participantes cadastrados na Atenção Primária em saúde (APS) e em acompanhamento pela equipe multiprofissional, com pelo menos duas consultas no período.
Resultados
A prática clínica baseada na escuta e vínculo favoreceu maior continuidade nos atendimentos e fortalecimento da relação entre participantes e equipe. Muitos relataram sentir-se acolhidos e ouvidos, o que contribuiu para maior confiança no cuidado. A abordagem permitiu ampliar o olhar para além da prescrição, incluindo dimensões emocionais e sociais.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou que a escuta qualificada na APS é potente tecnologia de cuidado, especialmente em contextos de doenças crônicas. Ao considerar aspectos subjetivos e sociais, amplia-se o cuidado e fortalece-se o vínculo.
Conclusões e/ou Recomendações
A escuta qualificada é estratégia central no cuidado de pessoas com DCNT, pois fortalece vínculo, adesão e acolhimento. É essencial valorizá-la nas práticas da equipe multiprofissional, com investimento em formação contínua. Compreender o contexto do participante permite identificar desafios e apoiar decisões compartilhadas, o que favorece a adesão e melhora os resultados em saúde.
ATENÇÃO INTEGRAL E COMPARTILHADA: PLANO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO FERRAMENTA DE CUIDADO INTEGRAL PARA CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Pôster Eletrônico
1 Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)
2 Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)
Período de Realização
Atuação na construção do plano terapêutico singular no ano de 2024 e 2025.
Objeto da experiência
Crianças com doenças crônicas, e suas famílias, acompanhados ambulatorialmente em uma instituição de saúde pública de nível terciário.
Objetivos
Relatar o potente trabalho realizado no PTS como uma estratégia de cuidado personalizada, destacando o papel da equipe multiprofissional na definição de metas e responsabilidades compartilhadas com todos os níveis de atenção, para uma atenção à saúde de forma integral e cuidadosa.
Descrição da experiência
A construção e elaboração do plano contou com os profissionais e residentes das seguintes áreas da saúde: medicina, psicologia, farmácia, serviço social, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem. Os encontros da equipe com os pacientes ocorreram de forma mensal, seguindo uma sequência de perguntas estipuladas e de acordo com a demanda de cada família, pensando sempre na articulação com o território.
Resultados
A implementação do PTS evidenciou a importância do cuidado integral, colocando o paciente e a família no centro do cuidado. A troca entre especialidades fortalece o contato com a rede e estreita os vínculos com as famílias. Foi possível estruturar um plano que considerasse não apenas a saúde física, mas também de saúde mental e comunitária, considerando os ambientes de lazer e a circulação pela cidade.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidencia a necessidade de consolidar espaços frequentes de articulação e escuta, além de fortalecer a corresponsabilização da rede, garantindo que o plano terapêutico não se esgote no nível hospitalar. Apesar dos avanços promovidos pelo PTS, permanecem desafios como a dificuldade de comunicação entre os níveis de atenção e entre os próprios profissionais e especialidades, o que pode fragilizar a continuidade do cuidado.
Conclusões e/ou Recomendações
O PTS é uma ferramenta essencial para qualificar o cuidado multiprofissional, promover o manejo mais adequado das condições crônicas e complexas de saúde dos pacientes. Além disso, assegura o apoio matricial e articulação com o sistema de saúde do território, ampliando a continuidade do cuidado, gerando uma assistência mais humanizada, integral e adaptada às necessidades dos pacientes e suas famílias.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS NÃO FETAIS POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS OCORRIDOS EM MUNICÍPIOS DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITABIRA/SES-MG, 2017-2022.
Pôster Eletrônico
1 SES-MG
Período de Realização
A análise dos dados de 2017 a 2022 e a descrição dos resultados foi realizada em janeiro de 2023.
Objeto da experiência
Dar visibilidade ao trabalho da Gerência Regional de Saúde de Itabira no que tange a vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico dos óbitos não fetais por DNCT, ocorridos nos 24 municípios sob a jurisdição da Gerência Regional de Saúde de Itabira da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), de 2017 a 2022.
Descrição da experiência
A Gerência Regional de Saúde (GRS) de Itabira contava, no período, com 24 municípios em sua jurisdição, com uma população estimada de 425.537 habitantes. Foi realizado um estudo transversal com dados secundários (demográficos/socioeconômicos) dos óbitos não fetais por doenças crônicas não transmissíveis, obtidos por meio do painel temático de doenças crônicas não transmissíveis, disponível no Portal da Vigilância em Saúde/ SES-MG. Utilizou-se o programa Excel para análise dos dados.
Resultados
Verificou-se: 8.391 óbitos, sendo 2020 e 2021 os anos com maior frequência; maior percentual por doenças cardiovasculares (47,25%) e neoplasias (32,3%); maior número de óbitos na faixa etária de 80 anos e mais para as doenças do aparelho circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas e 60 a 69 anos para as neoplasias; maior quantitativo de óbitos por diabetes e doenças cardiovasculares no gênero feminino; ocorrência de 3.342 óbitos prematuros, prevalecendo o ano de 2021 (19%).
Aprendizado e análise crítica
As doenças crônicas não transmissíveis – DCNT (doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, entre outras) representam um dos principais desafios de saúde pública, adquirindo destaque como principais causas de morte no Brasil e no mundo. Dessa forma foi possível conhecer a magnitude da mortalidade pelas principais DCNT no território da GRS Itabira visando a proposição de estratégias efetivas de prevenção aos fatores de risco e o enfrentamento dessas doenças.
Conclusões e/ou Recomendações
Os óbitos ocorreram principalmente por doenças cardiovasculares, sendo que o período que mais apresentou registros foi entre 2020 e 2021, coincidindo com os anos da pandemia de covid-19. Ressalta-se que a crise decorrente da pandemia culminou em dificuldades de acesso aos serviços de saúde e aumento de fatores de riscos para DCNT. Destaca-se a importância do SUS no acesso aos serviços, diagnóstico e tratamento das populações mais vulneráveis.
LINHA DE CUIDADO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) EM MINAS GERAIS: FRUTOS E HORIZONTES
Pôster Eletrônico
1 SES/MG
Período de Realização
A Linha de Cuidado do AVC em Minas Gerais teve início em 2020 e conta com ações contínuas.
Objeto da experiência
Ações executadas pela Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) na Linha de Cuidado do AVC.
Objetivos
Apresentar as experiências decorrentes das ações realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais para fortalecimento da Linha de Cuidado do AVC
Metodologia
O AVC representa uma das principais causas de morte no Brasil. Visando qualificar a assistência aos pacientes com AVC, a SES/MG, em 2020, investiu em hospitais estratégicos, possibilitando ações como aquisição de tomógrafos. Até 2021, MG contava com seis centros de atendimento. Com o intuito de ampliar essa capacidade, foram publicadas entre 2020 e 2024 várias estratégias voltadas ao fortalecimento da Linha de Cuidado. Houve subsídio ao tratamento do AVC isquêmico (AVCi) e expansão do SAMU-192.
Resultados
Como resultado das ações da organização da linha de cuidado observou-se diminuição da mortalidade intra-hospitalar, que em 2013 era de 15%, caindo para 12% em 2024. Além disso, houve ampliação dos Centros de Atendimento de Urgência ao AVC, sendo atualmente vinte e um hospitais habilitados e outros vinte e um hospitais credenciados. Foi notório o aumento da realização de trombólise em pacientes com AVCi.
Análise Crítica
As estratégias descritas foram amplamente discutidas e avaliadas pelo Grupo Condutor Estadual e pelos Comitês Gestores Regionais da Rede de Urgência e Emergência. Assim, a implementação das ações considerou as necessidades da população de cada território. Os resultados demonstram que o impacto econômico das ações de fortalecimento da linha de cuidado do AVC é ínfimo considerando a repercussão na saúde pública.
Conclusões e/ou Recomendações
A linha de cuidado ao AVC tem promovido avanços na organização da assistência em Minas Gerais, diminuindo a mortalidade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Apesar das ações exitosas, faz- se necessário ampliar as ações de prevenção, de reabilitação e ampliação de centros de atendimento.
NAVEGAÇÃO DO CUIDADO NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: UMA EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BETIM, MINAS GERAIS.
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura Municipal de Betim
Período de Realização
A experiência foi desenvolvida em março de 2025.
Objeto da experiência
Implementar uma estratégia de navegação do cuidado para usuários com DPOC visando garantir o acesso ao atendimento especializado.
Objetivos
- Identificar usuários internados no hospital com diagnóstico de DPOC durante o ano de 2024, residentes no município de Betim; - Verificar se esses usuários realizaram consulta com pneumologista nos últimos seis meses; - Agendar consulta com o especialista para aqueles sem acompanhamento recente.
Descrição da experiência
A estratégia teve como foco usuários com DPOC e internados no Hospital Público Regional ao longo de 2024. Para identificar os usuários, foi utilizado um software, que cruzou dados hospitalares com o cadastro municipal. Em seguida, verificou-se por meio do sistema da Diretoria de Regulação, os usuários que realizaram consulta com pneumologista nos seis meses anteriores. Aqueles que não apresentavam registro de atendimento especializado recente foram encaminhados para agendamento de consulta.
Resultados
Foram identificados 70 usuários residentes em Betim que estiveram internados com DPOC em 2024 e não realizaram consulta com pneumologista no período avaliado. Dos usuários agendados: 21 realizaram consulta (30%); 24 (34,3%) não compareceram (absenteísmo); 14 (20%) das solicitações foram canceladas por óbito ou mudança de município; 8 (11,4%) ainda aguardavam atendimento na data da análise; e 3 (4,3%) não foram localizados no sistema por inconsistências cadastrais.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou o potencial da navegação do cuidado para qualificar o acesso e organizar o fluxo assistencial de usuários com condições crônicas. No entanto, a elevada taxa de absenteísmo e os casos de desatualização cadastral indicam fragilidades no acompanhamento longitudinal e na comunicação com os usuários. A iniciativa revelou a importância da integração dos sistemas de informação e da articulação entre os níveis de atenção como elementos centrais para a efetividade da estratégia.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência no município de Betim reforça a viabilidade e a relevância da navegação do cuidado como instrumento de gestão para a continuidade assistencial de pessoas com DPOC. Ao integrar tecnologia, regulação e organização do acesso, a intervenção contribuiu para identificar lacunas e reencaminhar usuários ao cuidado especializado.
VIVÊNCIA DO RESIDENTE FARMACÊUTICO NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 EBSERH
2 SES-GO
Período de Realização
01 a 30 de setembro de 2024.
Objeto da experiência
Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos profissionais no cotidiano do Centro Estadual de Medicação de Alto Custo (CEMAC) do estado de Goiás.
Objetivos
Relatar a experiência do residente farmacêutico, do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, Área de Concentração em Atenção Clínica Especializada – Infectologia, em estágio optativo no CEMAC, como formação complementar e foco no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).
Metodologia
O CEAF é uma estratégia fundamental no SUS, que garante aos pacientes das condições clínicas, estabelecidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, acesso a medicamentos. A experiência permitiu acompanhar as atividades de gestão da Assistência Farmacêutica, abertura, renovação, avaliação e autorização dos processos para dispensação de medicamentos, além de acompanhar os serviços de dispensação, farmácia clínica e atenção farmacêutica.
Resultados
No serviço de farmácia clínica, os farmacêuticos fazem a dispensação e acompanhamento de crianças e adolescentes no tratamento de obesidade, dispensação de medicamentos para Esclerose Múltipla, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e o preparo do medicamento Risdiplam, fornecido para Atrofia Muscular Espinhal. Nos guichês de dispensação, o farmacêutico presta o serviço de Atenção Farmacêutica a fim de sanar as dúvidas dos pacientes quanto ao uso dos medicamentos.
Análise Crítica
A inserção do residente farmacêutico no CEAF oportunizou o conhecimento sobre o modelo organizacional de um dos componentes da Assistência Farmacêutica no SUS, demonstrou o papel fundamental que o CEMAC, no âmbito do CEAF, desempenha frente a doenças graves, crônicas e/ou raras, que necessitam de tratamentos caros. Além disso, foi possível verificar a importância da atuação do farmacêutico no tratamento dos pacientes com doenças crônicas.
Conclusões e/ou Recomendações
O farmacêutico é por muitas vezes o último profissional de saúde a ter contato com o paciente, seja no início, mudança ou ao longo do tratamento, urge, assim, a necessidade do reconhecimento da importância do farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico das doenças crônicas.
ENTRE O CUIDADO E O LAR: EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Período de Realização
A visita domiciliar ocorreu em seis de dezembro de dois mil e vinte e quatro, das 14:30 às 16h.
Objeto da experiência
Uso da visita domiciliar como estratégia para cuidado integral e busca ativa de hipertensos e diabéticos no Programa Hiperdia.
Objetivos
Deliberar a estruturação da visita domiciliar, analisando aspectos socioeconômicos, psicológicos e a integralidade do cuidado, assim como realizar práticas de enfermagem, horizontalizando o cuidado entre enfermeiro e paciente.
Descrição da experiência
Trata-se de um relato de experiência de uma visita domiciliar realizada por estudantes de Enfermagem durante o componente “Enfermagem na Atenção em Saúde Coletiva”, sob supervisão docente. Na atividade, os estudantes observaram os desafios do cuidado de enfermagem a pacientes com Hipertensão e Diabetes tipo II, evidenciando déficit de conhecimento, negligência ao autocuidado, hábitos alimentares inadequados e baixa adesão medicamentosa, fatores que favorecem complicações e agravos à saúde.
Resultados
Durante a visita domiciliar (VD) evidenciou-se a importância do acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis pelo enfermeiro APS, nos aspectos de prevenção de agravos e complicações. A VD favorece o acompanhamento da hipertensão e diabetes, adesão ao tratamento, ao autocuidado, a monitorização de riscos metabólicos (obesidade, alterações glicêmicas) juntamente com acompanhamento multiprofissional, consolidando o conteúdo programático e a evolução dos futuros profissionais da saúde.
Aprendizado e análise crítica
A visita domiciliar possibilitou uma análise da atuação do enfermeiro ao viabilizar ações de prevenção de doenças, promoção de saúde e manejo de possíveis complicações, contribuindo para a redução das hospitalizações relacionadas a essa condição. Destarte, é uma ferramenta pedagógica essencial na formação dos estudantes, oportunizando uma vivência prática que ultrapassa os limites da sala de aula. Com isso, desenvolveu-se uma compreensão ampla e sensível sobre os cuidados de enfermagem.
Conclusões e/ou Recomendações
A atuação da enfermagem demonstrou-se essencial na abordagem integral, na promoção da saúde e na coordenação do cuidado, reforçando a importância das ações do HIPERDIA na APS. Dessa forma, a consulta domiciliar possui grande relevância para a longitudinalidade do cuidado dos indivíduos acometidos por enfermidades crônicas, sobretudo em cenários de vulnerabilidade social, restrições de mobilidade ou reduzida adesão terapêutica.
CUIDAR ENTRE INCERTEZAS: A VIVÊNCIA DA ENFERMEIRA OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA A GESTANTE LÚPICA
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Período de Realização
A observação e análise situacional foi conduzida entre novembro de 2023 e fevereiro de 2025.
Objeto da experiência
O objeto da experiência são gestantes portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES).
Objetivos
Geral: Analisar as trajetórias assistenciais de gestantes com lúpus e os desfechos maternos e neonatais. Específicos: Descrever a trajetória assistencial; compreender a interferência da gestação na atividade do LES; associar os cuidados percebidos aos desfechos clínicos.
Descrição da experiência
Durante a admissão de gestantes com nefrite lúpica em terapia renal substitutiva, observou-se aumento das internações prolongadas e histórico significativo de abortos espontâneos e natimortos, refletindo riscos obstétricos elevados. Percebeu-se a deficiência de informações oferecidas precocemente que poderiam ter impactado no agravamento da saúde.
Resultados
A identificação precoce e o manejo eficaz das complicações do LES na gestação melhoraram os desfechos maternos e neonatais. A monitorização rigorosa da atividade da doença, o uso de medicações seguras e o acompanhamento multidisciplinar reduziram riscos. O planejamento em períodos de remissão e a educação da paciente sobre sinais de alerta promoveram uma gestação segura. Entender as percepções das gestantes permitiu às enfermeiras orientarem de forma individualizada e acolhedora.
Aprendizado e análise crítica
A importância de iniciar orientações desde a primeira consulta de pré-natal na atenção básica, antes do encaminhamento ao serviço de alto risco, favorecendo a detecção precoce de fatores de risco e a melhoria dos desfechos gestacionais. O objetivo é promover autonomia, reduzir intercorrências, vulnerabilidade exacerbada por vários fatores e evitar tratamentos dispendiosos.
Conclusões e/ou Recomendações
A promoção de uma assistência integral, democrática e equitativa para gestantes com LES pode potencialmente reduzir complicações maternas e fetais, aumentar a segurança da paciente e fortalecer o cuidado humanizado. Incorporar os valores de direitos humanos e justiça climática na formação e atuação da equipe de saúde é essencial para construir um pré-natal verdadeiramente inclusivo e resiliente.
IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O AUMENTO DE HOSPITALIZAÇÕES POR DOENÇAS CORONÁRIAS E ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário Christus/Unichristus
2 Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA
3 Universidade Estadual do Ceará /UECE
4 Hospital Geral de Fortaleza
5 Centro Universitário Fametro/Unifametro
6 Escola de Saúde Pública do Ceará/ESP
Período de Realização
A experiência se deu a partir de vivências ocorridas em 2025, em serviços da rede pública do Ceará
Objeto da experiência
Percepção de profissionais quanto aos impactos das mudanças climáticas nas hospitalizações por doenças coronárias e acidentes vasculares cerebrais
Objetivos
Relatar sobre os Impactos das mudanças climáticas e o aumento de hospitalizações por doenças coronárias (Infarto Agudo do Miocárdio) e acidentes vasculares cerebrais (isquêmico e hemorrágico). Discorrer sobre as experiências vividas por profissionais no cotidiano das práticas assistivas
Descrição da experiência
Relato de experiência desenvolvido a partir da observação direta das práticas assistenciais no Hospital Geral de Fortaleza, referência em AVC, e no SAMU-CE. A vivência ocorreu em contextos de aumento da demanda por doenças cardiovasculares, associadas às mudanças climáticas. As experiências foram registradas e analisadas de forma descritiva, com base nas percepções dos profissionais e nas situações do cotidiano assistencial.
Resultados
As mudanças climáticas têm causado impactos severos na saúde, com tendência crescente de hospitalizações por doenças coronárias e AVC isquêmico ou hemorrágico. Além disso, observa-se a negligência na busca pelo primeiro atendimento e o desconhecimento dos sinais e sintomas. Diante desse cenário, é urgente investir em intervenções eficazes, medidas adaptativas e ações sustentáveis que enfrentem os efeitos climáticos e ampliem o acesso, a prevenção e a capilarização dos cuidados em saúde
Aprendizado e análise crítica
A vivência permitiu refletir sobre a relação entre mudanças climáticas e a sobrecarga dos serviços de saúde, evidenciando a vulnerabilidade da população e lacunas no acesso ao atendimento precoce. O aprendizado reforça a importância de estratégias intersetoriais, educação em saúde e práticas sustentáveis para enfrentar os impactos ambientais na saúde cerébro e cardiovascular.
Conclusões e/ou Recomendações
Assim, torna-se imperativo o fortalecimento de políticas públicas de longo alcance e a adoção de medidas integradas capazes de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas no contexto das doenças coronárias, especialmente o infarto agudo do miocárdio, e dos acidentes vasculares cerebrais. Destaca-se, ainda, a urgência na implementação de protocolos de intervenção voltados à cardioproteção e à neuroproteção, de forma contínua, eficaz e oportuna.
CAMPANHA “DE OUTUBRO A OUTUBRO ROSA”: ESTRATÉGIA INTERSETORIAL PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA MAMOGRÁFICA NO CEARÁ
Pôster Eletrônico
1 SESA - CE
Período de Realização
A campanha foi lançada oficialmente em outubro de 2024 e segue em andamento ao longo de 2025.
Objeto da experiência
O objeto a ampliação da cobertura de mamografias no Ceará, utilizando uma abordagem intersetorial e contínua.
Objetivos
Objetivo de ampliar o acesso aos exames de mamografia no estado, Garantir acesso equitativo aos exames, melhorar os índices de cobertura mamográfica, fortalecer a vigilância em saúde e mobilizar gestores e profissionais para ações contínuas e permanentes, para além do mês de outubro.
Descrição da experiência
A campanha foi concebida com uma proposta inovadora de promover ações de rastreamento e sensibilização sobre o câncer de mama ao longo de todo o ano. Entre as estratégias adotadas estão webinários regionais com foco na mobilização da APS para a busca ativa e o rastreamento, a realização de fóruns temáticos em parceria com o Instituto de Prevenção do Câncer, a oferta de cursos para qualificação dos profissionais, oficinas regionais para elaboração de planos operacionais de cobertura.
Resultados
Entre outubro de 2024 e os primeiros meses de 2025, observou-se aumento do número de mamografias realizadas nas regiões com menor cobertura, especialmente no Sertão Central, com destaque para a melhoria da taxa de aproveitamento das policlínicas e incremento da cobertura em mulheres de 50 a 69 anos. Foram realizadas mais de 4.400 mamografias nessa faixa etária, com predominância da realização nos equipamentos estaduais. Houve ainda avanços na organização do fluxo de exames e diagnósticos.
Aprendizado e análise crítica
Evidenciou a força da articulação intersetorial e da abordagem longitudinal para o rastreamento do câncer de mama. O envolvimento de múltiplos setores garantiu maior capilaridade e engajamento, revelou também desafios como a manutenção da regularidade das ações fora do mês de outubro, dificuldades de acesso em áreas remotas, necessidade de maior integração entre bases de dados e fragilidades na qualificação dos registros no SISCAN. A necessidade de alinhamento entre os níveis de atenção.
Conclusões e/ou Recomendações
A campanha configura-se como uma estratégia potente e replicável, contribuindo para a consolidação da linha de cuidado em oncologia e a redução das iniquidades no acesso ao rastreamento do CA de mama. Recomenda-se a institucionalização da campanha como política pública estadual permanente, o fortalecimento das pactuações regionais, o investimento contínuo na qualificação profissional e na educação permanente, além do aprimoramento dos registros.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PESSOAS COM DIABETES EM SANTARÉM/PA
Pôster Eletrônico
1 UFOPA
2 UFRJ
3 UNAMA
Período de Realização
Dezembro de 2022 a novembro de 2023.
Objeto da experiência
Oferecer atividades educativas em saúde para pessoas com diabetes no âmbito da Atenção Primária à Saúde do município de Santarém, Pará.
Objetivos
Promover saúde para diabéticos. Específicos: a) acessibilizar conhecimento sobre diabetes, prevenção, manejo e tratamento; b) desenvolver autoconfiança, autocuidado e autonomia; c) incentivar estilos de vida saudáveis por meio de atividades físicas, aulas de culinária saudável e rodas de conversa.
Descrição da experiência
As atividades educativas do Projeto de Extensão foram planejadas com a equipe da unidade básica de saúde. A estratégia para alcançar o público foi realizar no dia de reunião do grupão do Hiperdia. A equipe composta por médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e psicólogo realizou rodas de conversa sobre exercício físico, nutrição e saúde mental, práticas de atividades físicas, atendimento nutricional, escuta psicológica e oficinas de culinária saudável.
Resultados
Participaram 150 pacientes diabéticos. Observou-se o envolvimento da equipe do projeto com os profissionais de saúde, especialmente os agentes comunitários de saúde, bem como, com os pacientes e familiares que os acompanhavam no Hiperdia, haja vista, que a maioria são idosos. Ao final do projeto foi compartilhada as vivências nas atividades educativas do Projeto, além da apresentação e entrega de uma cartilha sobre diabetes, elaborada pela Equipe, aos profissionais de saúde e pacientes.
Aprendizado e análise crítica
O espaço físico das unidades básicas de saúde para promoção da saúde é limitado e por vezes impróprio para educação em saúde. Utilizar o encontro do Hiperdia foi importante para alcançar os pacientes diabéticos, mas apresentou dificuldades como por exemplo, competição com outras atividades da unidade básica como consultas, exames e distribuição de medicamentos e o estado de jejum dos pacientes. A educação permanente em saúde para os diabéticos é dever do Estado, mas não está sendo garantida.
Conclusões e/ou Recomendações
Assim, para que os pacientes diabéticos não dependam de ações voluntárias e descontinuadas para ter o seu direito à educação permanente em saúde garantido (art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.347/2006; art. 196, CF/88), recomenda-se que o Estado celebre termos de cooperação técnica com universidades para criação de programas de educação permanente em saúde, e dessa forma concretize a democracia e equidade em saúde para pessoas com esta doença crônica.
DESAFIOS E APRENDIZADOS NO CUIDADO ÀS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS NA BAHIA: REFLEXÕES SOBRE ACESSO, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO SUS
Pôster Eletrônico
1 SESAB/FESFSUS
Período de Realização
Janeiro de 2022 a maio de 2025
Objeto da experiência
Atenção às doenças inflamatórias intestinais (DII) no SUS da Bahia, com foco na linha de cuidado, acesso ao diagnóstico e equidade regional.
Objetivos
Refletir sobre os desafios e aprendizados no cuidado às pessoas com DIIs na Bahia, analisando barreiras de acesso, estratégias adotadas e inovações como a descentralização da terapia imunobiológica e a integração entre Telessaúde e rede assistencial.
Descrição da experiência
A experiência foi construída com base na atuação técnica direta junto a pacientes e serviços do SUS baiano entre 2022 e 2025. Foram utilizadas escuta qualificada de usuários, articulação com equipes da atenção básica, especializada e assistência farmacêutica, além de revisão de dados secundários (DATASUS, Jornada DII Brasil 2023). A descentralização do cuidado se destacou com a implantação do primeiro Centro de Infusão do interior baiano em Vitória da Conquista, antes disponível apenas na capital.
Resultados
A média de tempo entre sintomas e diagnóstico foi de 3,8 anos. Mais de 40% dos pacientes foram atendidos em emergências múltiplas vezes antes do diagnóstico. Foram identificadas fragilidades na linha de cuidado, ausência de fluxos padronizados e subutilização de exames essenciais. Em contrapartida, destacam-se avanços na regionalização do acesso, integração de serviços e apoio técnico por meio do Telessaúde/FESF.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou que a invisibilidade institucional das DIIs agrava desigualdades e compromete o direito ao cuidado integral. A escuta ativa, o compromisso regional e a articulação entre gestores e trabalhadores demonstraram que mudanças estruturais são possíveis. O envolvimento dos territórios e a construção de soluções a partir das necessidades reais fortaleceram a democracia sanitária e os princípios do SUS.
Conclusões e/ou Recomendações
A Lei nº 15.138/2025 fortalece a urgência de uma linha de cuidado estadual para as DIIs, com acesso a terapias, diagnóstico oportuno e equipe multiprofissional. A experiência baiana mostra que descentralização, equidade regional e governança compartilhada são estratégias viáveis para superar desigualdades e reafirmar o SUS como expressão da democracia e dos direitos humanos.
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DO ESTADO DO PIAUÍ (
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Estadual de Saúde do Piauí
Período de Realização
Realizado no período de março de 2024 a fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Implantação da Rede de Atenção às pessoas com doenças crônicas no Piauí, integrando ações nos diferentes níveis assistenciais para qualificar o cuidado.
Objetivos
Estruturar a rede de atenção às DCNT no Piauí, integrando atenção primária, média e alta complexidade, qualificando o cuidado, aprimorando o acesso, definindo linhas de cuidado, protocolos, indicadores, estratégias de governança, financiamento e educação permanente.
Descrição da experiência
Realizou-se estudo-descritivo e planejamento estratégico com análise situacional baseada em dados do DATASUS, CNES e SIM, identificando prioridades sanitárias e capacidade instalada. A SESAPI e a CIB-PI formalizaram a rede com oficinas participativas, definindo linhas de cuidado para hipertensão, diabetes, DPOC e câncer, metas, protocolos, indicadores, mecanismos de governança, financiamento e educação continuada.
Resultados
Estruturação da RAPDC com definição de protocolos, metas, governança estratégica, monitoramento, indicadores e instituição de educação permanente.
Aprendizado e análise crítica
A construção da RAPDC destacou a importância da integração entre níveis de atenção e participação intersetorial. Evidenciou-se a necessidade de reforçar a capacitação das equipes, otimizar o uso de tecnologias em saúde e aprimorar a distribuição de recursos. A governança compartilhada foi essencial para o comprometimento dos atores e para o monitoramento efetivo dos resultados e impactos da rede.
Conclusões e/ou Recomendações
A implantação da RAPDC no Piauí avança na organização da atenção às DCNT, promovendo cuidado integrado e qualificado. recomenda-se fortalecer a educação permanente, ampliar a estratificação de risco na atenção primária, aprimorar a governança e garantir financiamento contínuo para manter e melhorar a eficiência e a equidade da rede assistencial.
PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONDIÇÕES CRÔNICAS: AÇÃO INTERPROFISSIONAL COM GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA EM TERRITÓRIO AMAZÔNICO
Pôster Eletrônico
1 PROFSAÚDE
Período de Realização
Realizada em 29/05/2025, em Laranjal do Jari/AP.
Objeto da experiência
Ação de saúde interprofissional voltada a pacientes com condições crônicas acompanhados por grupo de atividade física.
Objetivos
Qualificar o cuidado às pessoas com condições crônicas por meio de ação educativa e triagem ampliada, integrando diferentes saberes e profissionais no território, com foco na escuta, adesão ao tratamento e reorganização da linha de cuidado na Atenção Primária a Saúde - APS.
Descrição da experiência
A atividade foi realizada com 22 participantes de grupo de atividade física vinculado à APS. A ação incluiu triagem com parâmetros clínicos e antropométricos, seguida de orientações da equipe multiprofissional: fisioterapeuta, nutricionista, médica, educadora física e enfermagem. Foram feitas dinâmicas educativas, escuta dos participantes e articulação para consultas dos casos pertinentes. A proposta foi construída como desdobramento da disciplina Promoção da Saúde no PROFSAÚDE.
Resultados
A triagem identificou 10 participantes com pressão arterial elevada e 13 com hiperglicemia em jejum, dos quais apenas quatro tinham diagnóstico prévio de diabetes. Esses achados subsidiaram a reorganização imediata da linha de cuidado, com agendamento médico e nutricional no próprio dia. A ação também ampliou a escuta, fortaleceu o vínculo com o grupo e promoveu um momento coletivo sensível e educativo, com impacto direto na qualificação da APS.
Aprendizado e análise crítica
A experiência reforça o potencial das práticas interprofissionais na APS e da inserção da formação em serviço como instrumento de transformação. O vínculo, o acolhimento e a escuta revelaram a importância de considerar dimensões afetivas, subjetivas e clínicas nos espaços de cuidado. A triangulação entre formação, serviço e território mostrou-se estratégica na promoção da saúde e vigilância de condições crônicas.
Conclusões e/ou Recomendações
A ação demonstrou que estratégias de promoção da saúde com base territorial e interprofissional podem qualificar o cuidado a condições crônicas. Sugere-se a institucionalização de práticas como essa na rotina dos grupos da APS. A articulação entre ensino, serviço e comunidade — como proposto pelo PROFSAÚDE — se mostrou potente para o cuidado resolutivo e humanizado.
O SUS MAIS PERTO: PROMOVENDO MUTIRÕES DE SAÚDE COMO FERRAMENTA DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZ
Período de Realização
Implantado em fevereiro de 2025 e vem acontecendo regularmente todos os meses até o momento
Objeto da experiência
Relatar a experiência da realização de mutirões de saúde nas comunidades rurais voltadas a usuários com de Hipertensão e Diabetes.
Objetivos
Atividade de dispersão da disciplina de Promoção em Saúde do Mestrado Profissional em Saúde da Família da RENASF
Diagnóstico precoce
acompanhamento de pacientes já diagnosticados
Geração de dados
Redução de complicações
Educação em saúde
Acesso ampliado, equidade
Fortalecimento da atenção primária
Metodologia
A realização dos mutirões em microáreas de zona rural foi feita pela equipe multiprofissional da sede, com atendimento voltado àqueles pacientes hipertensos e/ou diabéticos que não frequentam a UBS por dificuldades no acesso, distância, mobilidade ou agravamento do caso. Além de consulta e avaliação, recebem educação em saúde, verificação de pressão arterial, glicemia capilar e verificação da situação vacinal.
Resultados
Busca-se o entendimento sobre a importância do acompanhamento regular na prevenção de agravamentos das doenças crônicas, com a finalidade de que o usuário compreenda a sua corresponsabilidade no cuidado à sua saúde e esclarecimento de dúvidas, com vistas a fortalecer o vínculo com a equipe e importância do autocuidado. Na identificação de pacientes com alguma demanda específica é realizado o encaminhamento para serviços especializados da rede de atenção à saúde.
Análise Crítica
A descentralização do atendimento gerou uma maior adesão ao tratamento contribuindo para um maior controle dos níveis pressóricos e glicêmicos. Além de garantia do acesso proporcionada pelo mutirão, atendimento por uma equipe multiprofissional de forma integrada, uma vez que a UBS nem sempre é próxima das microáreas acarretando na subnotificação dos cadastros no sistema.
Conclusões e/ou Recomendações
Além ser uma boa ferramenta de educação em saúde, tem permitido melhorar a autonomia e adesão dos usuários no tratamento de saúde. Assim, descentralizar o cuidado, levando o SUS para mais perto da comunidade têm resultado em um atendimento efetivo, tanto na diminuição das complicações e agravos das doenças crônicas, quanto por estimular o reconhecimento de suas possibilidades como um dos principais atores na adoção de hábitos de vida saudável.
A VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 CGDNT/DAENT/SVSA/MS
2 DAENT/SVSA/MS
Período de Realização
Produção técnica do Ministério da Saúde iniciada em fevereiro/2025 e finalizada em junho/2025
Objeto da produção
Guia de Vigilância em Saúde (7ª ed.) com o capítulo “Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e seus fatores de risco e proteção”
Objetivos
Contextualizar a importância da vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e de seus fatores de risco e proteção, bem como os meios pelos quais é realizada no âmbito da Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (CGDNT) do Ministério da Saúde (MS)
Descrição da produção
A CGDNT coordenou a elaboração do capítulo sobre vigilância de DCNT na 7ª edição do Guia. A equipe abordou estratégias no contexto do MS, como: monitoramento de óbitos; inquéritos periódicos e uso de dados dos sistemas de informação em saúde (SIS) para monitorar a prevalência de DCNT, fatores de risco e proteção; definição de indicadores e metas; ações de promoção da saúde; e o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, 2021-2030
Resultados
A vigilância em saúde utiliza dados de SIS, como o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), e de inquéritos de saúde, como Vigitel, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). O monitoramento de indicadores e metas permite analisar a situação de saúde, identificar tendências de agravos e fatores associados, além de subsidiar a formulação, planejamento e avaliação de políticas públicas eficazes para prevenção, controle das DCNT e promoção da saúde
Análise crítica e impactos da produção
O Guia é apresentado como instrumento de vigilância em saúde para disseminar informações qualificadas. A tradução do conhecimento envolve síntese, disseminação, intercâmbio e aplicação ética do conhecimento para melhorar a saúde, qualificar serviços e fortalecer o sistema de saúde. Uma das estratégias do MS é promover transparência na divulgação dos dados das pesquisas com linguagem acessível, por meio de relatórios, boletins, infográficos e painéis, com objetivos específicos de comunicação
Considerações finais
A produção e análise de dados epidemiológicos são essenciais para o monitoramento das DCNT. O diálogo e a integração intersetorial fortalecem a vigilância, tornando-a mais sensível, resolutiva e adequada às realidades locais. A informação em saúde é, portanto, insumo estratégico para a gestão, orientando o planejamento, a implementação e a avaliação de intervenções eficazes, voltadas à prevenção, controle das DCNT e promoção da equidade em saúde
MORTALIDADE PREMATURA POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
2 Divisão de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Período de Realização
O projeto foi realizado entre Maio e Junho de 2025.
Objeto da produção
Indicadores de mortalidade prematura por acidente vascular cerebral (AVC) no estado de São Paulo, segundo as redes regionais de atenção à saúde (RRAs)
Objetivos
Analisar e descrever indicadores de mortalidade prematura por AVC, segundo a meta estabelecida pelo Plano DANT e o índice paulista de vulnerabilidade social, com vistas a contribuir para a implementação de políticas públicas para redução da mortalidade prematura no Estado de São Paulo.
Descrição da produção
O Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e a estimativa populacional do Ministério da Saúde foram utilizadas como fontes de dados para o cálculo dos indicadores de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos por AVC, no Estado de São Paulo: taxas de mortalidade bruta e padronizada, metas do plano Dant (redução em 2,2% ao ano), probabilidade de morte prematura por AVC e anos potenciais de vida perdidos por AVC. Também foram utilizadas técnicas de georreferenciamento via software QGIS.
Resultados
A mortalidade prematura de AVC no Estado de São Paulo demonstra uma tendência de redução, o que se revela consistente com o objetivo estabelecido pelo Plano Dant de redução em 2% ao ano. Ademais, ao analisar os dados por RRAS, percebem-se disparidades regionais na mortalidade por AVC sendo em regiões mais vulnerabilizadas sócio-demograficamente, observa-se maiores índices de mortalidade prematura em todos os indicadores calculados.
Análise crítica e impactos da produção
Este projeto técnico foi produzido como produto final de estágio na Divisão de Doenças Crônicas no Estado de São Paulo. Os resultados estão sendo utilizados para interlocuções com os GVE (Grupos de Vigilância Epidemiológica) pelas RRAS, com objetivo de informar os gestores regionais sobre as condições de mortalidade prematura, como subsídio para a tomada de decisão. Este produto mostra a importância de formar profissionais em vigilância epidemiológica de doenças crônicas não transmissíveis.
Considerações finais
A mortalidade prematura de AVC no Estado de São Paulo tem apresentado redução,com disparidades regionais, com destaque para as regiões menos desenvolvidas, cuja mortalidade mantém-se estável ou apresenta aumento. Destacando-se a importância de compreender as características, as necessidades sociodemográficas e de atenção à saúde, para articulação de políticas públicas, visando a redução da mortalidade prematura por AVC no Estado de São Paulo.
CARTILHA DE AUTOCUIDADO EM DIABETES: FERRAMENTA EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFAM
2 FIOCRUZ
Período de Realização
AGOSTO DE 2025 À AGOSTO DE 2026
Objeto da produção
Desenvolvimento de cartilha educativa voltada ao autocuidado de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2, com foco em sua aplicação na Atenção Primária à Saúde.
Objetivos
Promover o autocuidado de pessoas com DM2 por meio de um material educativo ilustrado, acessível e culturalmente adaptado à realidade da região Norte, valorizando o protagonismo dos usuários e o apoio das equipes da ESF.
Descrição da produção
A cartilha foi elaborada com base em diretrizes clínicas, revisão de literatura sobre educação em saúde e escuta qualificada da equipe da UBS N-13 (Manaus-AM). Contém 10 seções com temas como alimentação regional, atividade física, medicamentos, cuidados com os pés, monitoramento de metas e linha do tempo da saúde. O layout se inspira nas cadernetas do SUS, incorporando linguagem simples, semáforo de autocuidado, espaço para anotações e ilustrações diversas que representam a população local.
Resultados
O produto final é uma cartilha prática, acolhedora e de fácil compreensão, que permite o engajamento do usuário no acompanhamento da doença e na pactuação de metas de saúde.
Análise crítica e impactos da produção
A cartilha representa uma estratégia de apoio à autonomia do paciente com DM2, articulando conhecimento técnico e cuidado compartilhado. Inova ao adaptar conteúdos à realidade amazônica e propõe uma abordagem interativa no contexto da APS. Pode contribuir para reduzir complicações, ampliar a adesão às medidas não medicamentosas e fortalecer o vínculo com a equipe de saúde.
Considerações finais
A cartilha é uma tecnologia leve-dura com potencial para transformar práticas educativas no SUS. Sua aplicação fortalece a promoção da saúde e a educação em autocuidado, sendo relevante para políticas públicas voltadas ao enfrentamento das DCNTs na Atenção Primária.
FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO HIPERTENSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pôster Eletrônico
1 Fundação Universidade Federal de Rondônia
Período de Realização
Esse Produto Técnico (PT) foi desenvolvido ao longo dos meses de agosto de 2023 a agosto de 2024.
Objeto da produção
Fluxograma de atendimentos aos usuários hipertensos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Objetivos
Estabelecer um fluxograma de atendimento ao usuário hipertenso após estratificação de risco, junto a equipe de saúde; Promover a organização do processo de trabalho envolvendo os hipertensos, buscando assegurar os princípios do Sistema Único de Saúde.
Descrição da produção
Para a elaboração do fluxograma foram realizadas seis oficinas presenciais de educação permanente por meio da metodologia da problematização com o apoio do Arco de Maguerez com duas equipes multiprofissionais da Estratégia de Saúde da Família, pertencentes a uma Unidade Básica de Saúde em Ouro Preto D’Oeste. A partir das oficinas houve a construção do fluxograma organizando o atendimento aos hipertensos da área de abrangência da UBS.
Resultados
Após a utilização do fluxograma no cotidiano do serviço, foi observado melhora significativa no atendimento e na continuidade do cuidado aos hipertensos. Contribuindo para a organização do processo de trabalho das equipes, tornando o acompanhamento e a assistência prestada de forma equânime, impactando no tempo de atendimento, escuta qualificada e na prevenção das complicações. A avaliação deste produto pelos profissionais da ESF, resultou em 100% de aprovação quanto à sua eficácia no serviço.
Análise crítica e impactos da produção
O PT demonstrou aplicabilidade, podendo ser facilmente replicado no cotidiano de outras UBS, sendo inovador por se tratar de uma construção coletiva dentro da APS. Desse modo, possibilitou transformar a realidade do acompanhamento aos hipertensos da área, assegurando a equidade, fortalecimento de vínculos e resolutividade do atendimento prestado. Nesse sentido, a práxis envolvendo o trabalho na ESF permite buscar conhecimentos, transformar processos e aprimorar o atendimento da população.
Considerações finais
O desenvolvimento do fluxograma contribuiu para a melhoria dos processos de trabalho, transformando a realidade do acompanhamento aos usuários hipertensos. Com a método adotado a equipe sentiu-se motivada, pois foram responsáveis por todo o processo, sendo atores de transformação. O fluxograma permitiu transformar o cuidado ofertado aos usuários hipertensos equânime, eficaz e resolutivo, propiciando o fortalecimento das ações envolvendo a ESF.
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR: IMPLANTAÇÃO DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE BETIM, MINAS GERAIS.
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura Municipal de Betim
Período de Realização
A elaboração ocorreu entre os meses de maio e julho de 2023 e a implantação em agosto de 2023.
Objeto da produção
Relatar a experiência do desenvolvimento e implantação de um formulário eletrônico para a estratificação do risco cardiovascular na APS de Betim, MG.
Objetivos
Identificar os critérios de estratificação de risco cardiovascular para usuários com HAS e DM, padronizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais; Desenvolver formulário eletrônico que possibilite a realização da estratificação de risco cardiovascular; Criar banco de dados em Oracle.
Descrição da produção
O formulário eletrônico teve como base os critérios de estratificação de risco cardiovascular definido pela deliberação que trata da estruturação dos serviços especializados ambulatoriais em Minas Gerais. A ferramenta foi construída utilizando linguagem PHP e banco de dados Oracle, com interface integrada ao sistema de informação adotado na APS de Betim. O formulário foi desenhado para ser de uso intuitivo, com preenchimento guiado passo a passo, e cálculo automático do resultado da estratificação.
Resultados
Foram capacitados 233 médicos e enfermeiros da APS para o uso do formulário. Desde a implantação, visitas técnicas regulares vêm sendo realizadas nas UAPS, visando qualificar o uso da ferramenta. Até junho de 2025, foram estratificados 11.906 hipertensos, sendo 24% em muito alto risco (MAR), 41% em alto risco (AR), 22% em moderado risco (MR) e 10% em baixo risco (BR). Entre os 4.874 usuários com diabetes estratificados, 18% foram classificados como MAR, 32% como AR, 20% como MR e 26% como BR.
Análise crítica e impactos da produção
A implantação do formulário eletrônico resultou em melhorias significativas na rotina dos profissionais da APS, possibilitando a padronização da coleta de dados e garantindo maior precisão na identificação do risco apresentado pelos hipertensos e diabéticos. Comparado ao método manual anteriormente utilizado, observou-se uma redução no tempo médio gasto para a realização da estratificação de risco, permitindo que os profissionais dedicassem mais tempo ao atendimento dos usuários.
Considerações finais
A implementação do formulário eletrônico mostrou-se uma estratégia eficaz para otimizar o trabalho dos profissionais da APS, evidenciando redução significativa no tempo necessário para a estratificação e permitindo uma abordagem mais ágil e eficiente no acompanhamento dos usuários. A ferramenta também viabilizou uma análise mais precisa do perfil epidemiológico da população atendida, contribuindo para uma gestão estratégica dos casos.
CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA PESSOAS CONVIVENDO COM DOENÇAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO ITINERÁRIO DE PESQUISA DE PAULO FREIRE
Pôster Eletrônico
1 Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Apresentação/Introdução
Doenças otorrinolaringológicas podem acometer adultos e crianças e são consideradas um importante problema de saúde pública na atualidade. Levar informações às pessoas que convivem com essas doenças é fundamental para a qualidade de vida. Neste contexto, as Tecnologias em saúde podem elevar a qualidade da assistência prestada e a transferência de informações às pessoas convivendo com esses agravos
Objetivos
Desenvolver um aplicativo móvel para promoção da saúde de indivíduos convivendo com doenças otorrinolaringológicas a partir de fase exploratória conduzida a partir do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire
Metodologia
A tecnologia foi desenvolvida em duas fases. A primeira fase foi a exploratória conduzida por abordagem qualitativa de ação participativa, norteada pelo Itinerário de pesquisa de Paulo Freire e materializada pela realização de Círculos de Cultura que aconteceram em Manaus, Amazonas, Brasil, entre junho e agosto de 2022. A segunda fase foi a fase de desenvolvimento da Tecnologias em saúde que aconteceu entre junho e dezembro de 2024 e foi dividida em cinco etapas sequenciais: Plano de Estratégia, Plano de Escopo, Plano de Estrutura, Plano de Esqueleto e Plano de Superfície. O estudo foi aprovado no comitê de ética e pesquisa de universidade do Estado do Amazonas com parecer 4.397.281
Resultados
A fase exploratória evidenciou que a compreensão dos usuários, do serviço estudado, se deu a partir de requisitos de promoção da saúde, como práticas de boa alimentação, bem-estar físico e mental e acesso à serviços de saúde. As fragilidades foram expressas pelos sintomas consequentes das doenças otorrinolaringológicas e as potencialidades foram caracterizadas pela disponibilidade de um serviço especializado para esses agravos. A partir da fase exploratória foi criado um aplicativo móvel que disponibiliza informações simples e facilitadas sobre requisitos de promoção da saúde e sobre ferramentas que minimizem as fragilidades e elevem as potencialidades observadas na primeira fase do estudo
Conclusões/Considerações
O desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado à promoção da saúde de pessoas com doenças otorrinolaringológicas, representa um avanço relevante na integração entre tecnologia e atenção à saúde. O dispositivo possibilita acesso a informações qualificadas sobre fatores de risco e as medidas preventivas recomendadas, contribuindo para a detecção precoce de complicações e a redução de recorrências
INTERNAÇÕES POR FEBRE REUMÁTICA AGUDA NA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 14 ANOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 2018 A 2024
Pôster Eletrônico
1 UNIFASE
Apresentação/Introdução
A Febre Reumática Aguda (FRA) é uma doença inflamatória sistêmica imunologicamente mediada relacionada com infecções prévias pela bactéria Streptococcus pyogenes. Tal quadro apresenta potencial na patogênese de lesões em variados órgãos-alvo, especialmente nas valvas cardíacas, onde pode evoluir para estenose valvar e, em alguns casos, Insuficiência Cardíaca Congestiva.
Objetivos
Mensurar a taxa de internações na faixa etária dos 5 aos 14 anos por FRA no Estado do Rio de Janeiro, entre 2018 e 2024.
Metodologia
Estudo epidemiológico quantitativo com dados secundários obtidos no sistema TABNET da plataforma DATASUS, na seção do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Foram coletadas informações referentes às internações hospitalares por FRA no período de 2018 a 2024, com recorte geográfico para o estado do Rio de Janeiro e todos os seus municípios com dados disponíveis. As informações foram organizadas em planilhas eletrônicas no programa Excel© para posterior análise descritiva.
Resultados
Entre 2018 e 2024 a taxa de internação por FRA em crianças na faixa etária de 5 a 14 anos apresentou variação significativa. A maior taxa ocorreu em 2019 (11,13/milhão) e o menor valor registrado foi no ano de 2020 (3,23/milhão). Em 2021 ocorreu um aumento (9,69/milhão), seguido de redução gradual: 7,38 em 2022, 5,63 em 2023 e 5,08 em 2024. A queda acentuada em 2020 pode estar associada à pandemia de COVID-19, refletindo possíveis alterações na busca por serviços de saúde ou no registro do número de internações.
Conclusões/Considerações
As variações nas taxas de internação por FRA indicam que a doença ainda afeta principalmente crianças em situação de vulnerabilidade, o que evidencia possíveis desigualdades no acesso à atenção básica. O trabalho, desenvolvido na unidade de Saúde e Sociedade do curso de Medicina, reforça a relevância do SUS na promoção de políticas públicas e contribui para a formação médica voltada à equidade, prevenção, cuidado integral e justiça social.
AUTOCUIDADO APOIADO COMO TECNOLOGIA LEVE NO MANEJO DO DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFMS
2 HMI
3 PMRRP
4 UCDB
5 PMCS
6 UEM
Período de Realização
Entre 2021 a 2024, incluindo validação de conteúdo de vídeos educativos e intervenção com usuários.
Objeto da experiência
Implementação do autocuidado apoiado, como tecnologia leve, na assistência às pessoas com diabetes mellitus na Atenção Primária à Saúde (APS).
Objetivos
Implementar o autocuidado apoiado como ferramenta assistencial no manejo do diabetes mellitus na Atenção Primária. Validar e construir roteiros de vídeos educativos. Incentivar a autoavaliação dos comportamentos e hábitos atuais, em vista a identificar problemas e a pactuação de metas.
Descrição da experiência
Foram construídos e validados roteiros de vídeos educativos focados na mudança comportamental, estímulo à autorreflexão em relação aos hábitos de vida e incentivo ao autocuidado de pessoas com diabetes. A perspectiva é testar a utilização dos vídeos em grupos operativos e avaliar o impacto na capacidade para o autocuidado. Além disso, ocorreu intervenção composta por três consultas de enfermagem intercaladas por monitoramento telefônico para reforçar as metas estabelecidas na consulta.
Resultados
A construção e validação de vídeos educativos ancorados na mudança de comportamento reforçaram a importância da sistematização científica no desenvolvimento de recursos educativos eficazes. A intervenção individual demonstrou que a incorporação do autocuidado apoiado contribui para a melhoria das condições clínicas, o fortalecimento do cuidado centrado no usuário e melhora o engajamento dos participantes com sua própria condição de saúde.
Aprendizado e análise crítica
A experiência reforça o papel central das tecnologias leves na Atenção Primária para empoderar indivíduos no manejo de condições crônicas. Observa-se que, na formação acadêmica em saúde, ainda há desafios significativos para tornar a promoção do autocuidado uma prática central. Portanto, é essencial instrumentalizar adequadamente os futuros profissionais desde a graduação, consolidando essa abordagem no cotidiano assistencial.
Conclusões e/ou Recomendações
Essa abordagem demonstrou potencial significativo para ser integrada às práticas regulares na APS, ao valorizar o cuidado centrado na pessoa, sobretudo no caso das doenças crônicas que convocam respostas proativas, continuas e integradas do sistema de saúde. Recomenda-se ampliar sua aplicação por meio de intervenções individuais e grupais, sustentadas por recursos educativos validados e integrados ao processo formativo dos profissionais.
CURSO SOBRE AUTOCUIDADO APOIADO PARA MUDANÇA COMPORTAMENTAL EM CONDIÇÕES CRÔNICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 UFMS
2 PMI
3 PMRRP
Período de Realização
Novembro de 2024
Objeto da produção
Curso sobre autocuidado apoiado para mudança comportamental em condições crônicas na Atenção Primária à Saúde.
Objetivos
Instrumentalizar profissionais de saúde para utilização do autocuidado apoiado e estratégias baseadas na Motivação para Mudança de Comportamento, promovendo hábitos saudáveis e manejo efetivo das condições crônicas na Atenção Primária
Descrição da produção
Curso estruturado pelo Arco de Maguerez: 1) observação participativa da realidade da Atenção Primária à Saúde; 2) problematização dos determinantes sociais e ambientais das doenças crônicas não transmissíveis; 3) teorização com referencial modelo de condições crônicas e o modelo transteórico de mudança 4) simulação realística de consultas, com pactuação de metas e comunicação inclusiva; 5) reflexão crítica com vídeos estimulando corresponsabilidade.
Resultados
Curso estruturado a partir de um espaço democrático de construção coletiva, integrando simulações realísticas, vídeos educativos validados e estratégias didáticas interativas. A proposta buscou promover a capacitação efetiva dos participantes no manejo clínico e no uso de estratégias cognitivas e comportamentais voltadas à mudança em saúde, formando profissionais mais preparados para apoiar o autocuidado apoiado e fortalecer a equidade na Atenção Primária à Saúde.
Análise crítica e impactos da produção
A experiência mostra que pedagogia colaborativa democratiza saberes, promove consciência crítica sobre desigualdades e incorpora a sustentabilidade ao priorizar recursos digitais de baixo impacto ambiental. Ao colocar a autonomia do usuário no centro, o curso materializa princípios de direitos humanos e equidade, formando profissionais capazes de liderar respostas integradas e contínuas às doenças crônicas não transmissíveis na Atenção Primária.
Considerações finais
Recomenda-se replicar esta iniciativa em diferentes contextos da Atenção Primária à Saúde devido ao seu potencial de transformação social e profissional. Ressalta-se a importância de avaliação contínua dos resultados e ajustes conforme o contexto local, para garantir sustentabilidade e efetividade das estratégias propostas.
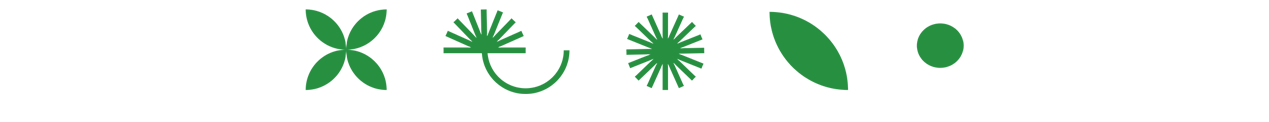
Realização:

