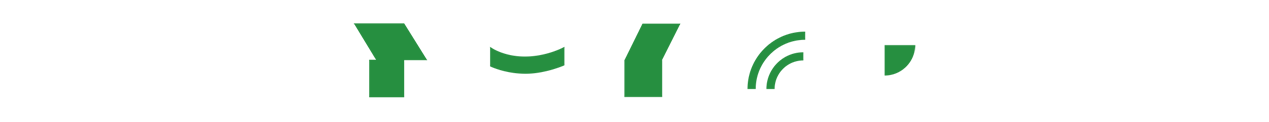
Programa - Pôster Eletrônico - PE11 - Determinação Social, Equidade e Promoção da Saúde
SAÚDE E AMBIENTE DE TRABALHO: CARACTERÍSTICAS DAS MULHERES DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO JÚLIO
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
As mulheres trabalhadoras rurais de movimentos sociais, vivenciam uma realidade de extrema vulnerabilidade. É fundamental entender as condições de vida e trabalho delas, pois são esquecidas pelo Estado, e por isso, vivem em condições de extrema pobreza e desinformação. Quais dinâmicas de trabalho e convivência essas mulheres enfrentam nesses espaços?
Objetivos
Sistematizar as experiências das mulheres do Assentamento Antônio Júlio, com foco no seu modo de vida, nas condições de trabalho e compreender o conhecimento dessas mulheres sobre seus direitos e as práticas relacionadas à promoção de saúde.
Metodologia
A metodologia qualitativa procedeu com a roda de conversa como instrumento de coleta de dados, mediante a oportunidade do diálogo. Logo, a estrutura elaborada para a intervenção, foi no primeiro encontro: descobrir com cada mulher da roda - Quem é a sua mulher de referência?; conversar sobre Direitos Humanos com o caso da Maria da Penha; reflexão sobre a importância da participação social no acesso à saúde e promoção dos direitos. No segundo encontro, com um número menor de mulheres, mergulhamos no diálogo sobre a realidade do seu trabalho rural e os espaços de promoção de saúde para elas, junto de suas histórias.
Resultados
Diante das discussões realizadas, foi possível identificar que o movimento social MATR é reconhecido como um espaço de segurança e confiança entre seus membros, em comparação a experiências já vividas com outros coletivos. Há um reconhecimento por parte delas de bem estar na vida rural, no consumo de sua alimentação natural e a paz vinculada ao ambiente e aos animais. Percebeu-se uma exclusão social provocada pela mídia sobre o estereótipo lançado às pessoas na luta pela terra como “vagabundos”, o que afeta negativamente o movimento. E expuseram sobre a negligência na saúde, no âmbito governamental, com a falta de acesso a recursos para o monitoramento e cuidado sobre a sua saúde.
Conclusões/Considerações
O desgaste na saúde provocado pelo modo de vida vulnerável e sem suporte material ou financeiro foram indicadores expressados no impacto ao cuidado para a saúde delas. Vale ressaltar o cuidado com a saúde mental e investigar mais esta população em seu estado de extrema vulnerabilidade e traçar estratégias para acompanhar e tornar melhor acessível às práticas das políticas públicas para o monitoramento desta população.
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM MANAUS, AM: UM RETRATO DA VULNERABILIDADE
Pôster Eletrônico
1 UEA
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua enfrenta obstáculos para atender suas necessidades materiais mais fundamentais, como alimentação, higiene e saúde, o que expõe as pessoas a diversos problemas. Esses desafios podem ser exacerbados pela ação do Estado, que, por meio de políticas higienistas, busca afastar essas pessoas dos espaços urbanos.
Objetivos
Este estudo tem por objetivo descrever as condições sociais e econômicas de pessoas de situação de rua atendidas no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Manaus, AM.
Metodologia
Foi conduzido um estudo observacional descritivo quantitativo com as pessoas em situação de rua atendidas no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Manaus, AM, sendo utilizada uma amostra de conveniência. A coleta de dados foi realizada de forma presencial sendo utilizado um questionário para a caracterização socioeconômica dos participantes composto por 10 questões elaborado pela pesquisadora. Os dados foram analisados de forma descritiva por meio do programa IBM SPSS 20.0. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade do estado do Amazonas processo n° 7.417.811.
Resultados
Participaram deste estudo 96 pessoas, sendo 99% do sexo masculino e 37,59% com idade entre 40 a 49 anos. Quanto a localidade de origem dos participantes, 52,08% são provenientes de Manaus e 27,08% são de outros estados do país; ainda, mesmo percentual de pessoas estão em situação de rua há menos de 1 ano. Em relação aos motivos para estar em situação de rua, 36,45% relataram questões familiares e/ou conjugais e 33,33% relataram consumo de álcool e/ou outras drogas. Quanto à escolaridade, 43,75% tinham ensino fundamental incompleto e 36,45% ensino médio completo; 59,38% relataram não ter uma ocupação e 64,58% não recebem auxílio governamental.
Conclusões/Considerações
Este estudo evidenciou a complexidade da situação das pessoas em situação de rua, salientando a ausência de ocupação formal e o baixo acesso a axílios governamentais. Este cenário reforça a necessidade de ações intersetoriais que considerem as especificidades desse grupo, respeitando sua dignidade e promovendo o acesso pleno a direitos fundamentais.
INTERSETORIALIDADE NA AMÉRICA LATINA: EM BUSCA DE UM CORPUS TEMÁTICO E AUTORAL
Pôster Eletrônico
1 FSP/USP e CEPEDOC Cidades Saudáveis
2 FSP/USP; MS - Brasil Saudável
Apresentação/Introdução
A América Latina é reconhecida como um dos continentes com maior grau de desigualdades o mundo. A gestão intersetorial de políticas públicas pode ser um instrumento para a promoção da equidade. Reconhecer autores e temas sobre intersetorialidade na América Latina pode revelar interesses, intencionalidades e prioridades na gestão de políticas públicas.
Objetivos
Identificar autores que publicam sobre intersetorialidade na América Latina, apontando temas de interesse, para promover uma rede de diálogos com vias à produção e edição coletiva de um livro sobre “Intersetorialidade na América Latina”.
Metodologia
Revisão de escopo conduzida por dois pesquisadores, conforme metodologia da JBI. A busca, sem recorte temporal, foi realizada nas bases PUBMED, Scielo, Web of Science, Scopus e Jstor, incluindo literatura cinzenta. Foram incluídos estudos com participação governamental e foco na América Latina. Após triagem por títulos e resumos, 100 estudos foram selecionados para leitura completa. Os dados extraídos incluíram autor, tema em foco, achados sobre a intersetorialidade, país dos autores, ano da publicação e macrotema sendo organizados em planilha para análise.
Resultados
Predominam autores brasileiros (41), a seguir Cuba (9) e Colômbia (7). Presentes os macrotemas de Nutrição e Alimentação (12); Saúde da Criança e do Adolescente (8), Equidade (7), Doenças Endêmicas e Negligenciadas (6); Proteção Social (6), Meio-Ambiente (5), Saúde da Mulher (5), COVID-19 (5), Saúde Mental (4). Aparecem, com menor frequência, gestão intersetorial de políticas públicas nos seguintes macrotemas: idosos, trabalhadores, APS, saúde bucal, segurança pública, PSE, Cidades Saudáveis. As ênfases de cada macrotema são distintas, o que amplia o corpus temático para o livro. Há evidências de que a gestão intersetorial contribui com maior efetividade para múltiplas políticas públicas.
Conclusões/Considerações
O termo de referência para a elaboração dos capítulos do livro a ser produzido - “Intersetorialidade na América Latina - será enviado para autores dos 95 materiais analisados. Cada autor terá seu respectivo tema especificado, e uma pergunta disparadora como analisador para a escrita do seu capítulo: “Que arranjos intersetoriais podem ser implementados para aumentar a efetividade de políticas públicas relacionados com a sua temática?”.
O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO COMO AGENTE TRANSFORMADOR DE SAÚDE EM COMUNIDADES RURAIS DO BAIXO SUL DA BAHIA.
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO PODE FORTALECER REDES LOCAIS POR MEIO DOS VÍNCULOS CONSTRUÍDOS ENTRE FAMÍLIAS, COLETIVOS E COMUNIDADES, CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE. ESTE ESTUDO NÃO BUSCA FIXAR UMA DEFINIÇÃO ÚNICA DO CONCEITO, MAS SIM EXPLORAR MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES À LUZ DE UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA EM UM PROJETO VOLTADO PARA A SAÚDE.
Objetivos
BUSCA COMPREENDER OS DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO EM UMA EXPERIÊNCIA CONCRETA DE PESQUISA PARTICIPATIVA.
Metodologia
O ECLIPSE (EMPOWERING PEOPLE WITH CUTANEOUS LEISHMANIASIS: INTERVENTION PROGRAMME TO IMPROVE PATIENT JOURNEY AND REDUCE STIGMA VIA COMMUNITY EDUCATION) FOI UM PROJETO DE BASE ETNOGRÁFICA COM METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS EM COMUNIDADES RURAIS NO BAIXO SUL DA BAHIA, A PARTIR DO QUAL AS IMERSÕES EM CAMPO POSSIBILITARAM A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E PRODUÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS ATRAVÉS DE ENTREVISTAS INDIVIDUAIS E RODAS DE CONVERSA.
Resultados
NAS IMERSÕES DE CAMPO, CONVERSAS CORPO A CORPO E ANÁLISES DAS ENTREVISTAS, FOI POSSÍVEL COMPREENDER QUE O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO É UM PROCESSO DINÂMICO E DIVERSO, QUE SE ARTICULA COM A CONJUNTURA DO TERRITÓRIO, A CULTURA LOCAL E AS RELAÇÕES DE PODER, TENSÕES E ALIANÇAS HISTÓRICAS PRESENTES NAS COMUNIDADES. ALÉM DISSO, FOI POSSÍVEL PERCEBER COMO ELE PRODUZ MUDANÇAS DENTRO DOS TERRITÓRIOS, TRAZENDO BENEFÍCIOS E ARTICULANDO A RESISTÊNCIA DA COMUNIDADE E A BUSCA PELOS SEUS DIREITOS. OUTRO PONTO A SER DESTACADO É A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA PRESERVAR AS IDENTIDADES CULTURAIS, PERFORMANDO UM RECONHECIMENTO PRÓPRIO DA SUA POTÊNCIA, DESENCADEANDO EFEITOS POSITIVOS PARA TODOS OS ATORES DA COMUNIDADE.
Conclusões/Considerações
DIANTE DO EXPOSTO, PODE-SE AFIRMAR QUE O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO DESEMPENHA UM PAPEL RELEVANTE NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR COLETIVO, ULTRAPASSANDO OS LIMITES DAS QUESTÕES ESTRITAMENTE RELACIONADAS À SAÚDE. NESSE CONTEXTO, A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA COMUNIDADE MOSTRA-SE ESSENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE INTERVENÇÕES MAIS EFICAZES, SENDO A SAÚDE UMA DAS ÁREAS MAIS BENEFICIADAS POR ESSA DINÂMICA.
CULTURA POPULAR E INOVAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE DO BALLET MANGUINHOS
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Puc-Rio
Apresentação/Introdução
A cultura popular reflete as vivências de grupos vulneráveis e ajuda a entender dinâmicas de poder. O Ballet Manguinhos surge como resposta à falta de oportunidades culturais e educacionais no Complexo de Manguinhos, uma comunidade marcada pela pobreza. Este artigo aborda a atuação do BM na promoção da equidade, construção de identidade coletiva e as inovações sociais geradas pela cultura popular.
Objetivos
Este artigo tem como objetivo discutir a atuação do Ballet Manguinhos, explorando suas contribuições para a promoção da equidade e a construção de uma identidade coletiva, além de sua capacidade de gerar inovações sociais a partir da cultura popular.
Metodologia
A pesquisa foi realizada por meio da análise de dados qualitativos obtidos em entrevistas, observação participante e documentos sobre o BM. O foco incluiu narrativas, saberes e práticas na produção dos espetáculos, além das histórias de vida dos trabalhadores, e da produção iconográfica e literária relacionada. O Método de Design de Histórias empregado articula História (campo do conhecimento) e histórias (narrativas cotidianas), explorando a relação entre fato e ficção. Essa abordagem constrói um acervo técnico que registra os processos do BM, ajudando a compreender sua atuação na preservação da memória e cultura local, refletindo também sobre sua função social e impacto na comunidade.
Resultados
Os resultados da pesquisa indicam que o Ballet Manguinhos não apenas promove o aprendizado da dança, mas também atua como um agente de transformação social. Através de seus espetáculos e atividades, a instituição proporciona visibilidade à cultura local, ressignificando a imagem da favela e afirmando a dignidade de seus moradores. O repertório cultural apresentado nos espetáculos do Ballet Manguinhos é um mix de elementos eruditos e populares, refletindo a diversidade e a riqueza da cultura local.
Conclusões/Considerações
O Ballet Manguinhos é um espaço de resistência na cultura popular, que une elementos eruditos e tradicionais para empoderar jovens e combater a pobreza e a exclusão. Seus espetáculos vão além do entretenimento, abordando temas sociais como desigualdade de gênero e estigmas das favelas. Assim, o ballet promove inclusão, identidade coletiva e é uma ferramenta importante para a justiça social em comunidades vulneráveis.
HEALTH INEQUALITIES IN THE MATERNAL AND NEWBORN HEALTH COMPOSITE INDICATOR IN LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES (2010-2022)
Pôster Eletrônico
1 International Center for Equity in Health, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brazil
2 Centre for Global Child Health, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
Apresentação/Introdução
Despite the global decline in stillbirths and neonatal and maternal mortality over the last two decades, stark regional disparities persist. Most deaths still occur in low- and middle-income countries (LMICs), especially in Sub-Saharan Africa and South Asia. Limited access to antenatal, delivery, and postnatal care continues to hinder progress in preventing maternal and newborn deaths.
Objetivos
We aimed to conduct a global analysis of socioeconomic inequalities in terms of wealth and place of residence using the Maternal and Newborn Health composite indicator (MNHci) with data from national surveys done in LMICs.
Metodologia
We included the most recent survey since 2010 for each country. We estimated the MNHci, which measures receipt of three key interventions: at least four antenatal care visits, institutional delivery, and postnatal care for the woman or baby within two days of birth. The MNHci ranges from 0 to 3 and was used as the proportion of women-baby dyads who received all three interventions. We analyzed the distribution of MNHci at the national level and stratified by household wealth, place of residence, and women’s education.
Resultados
We included data from surveys conducted in 97 countries between 2010 and 2022. Among these, 29 had over 80% of woman-baby dyads receiving all three interventions, and 15 countries had more than 20% of dyads receiving no intervention. Coverage was consistently higher among wealthier, urban, and more educated groups, compared to poorer, rural, and less educated ones. A wide gap was observed, 83% of dyads in the richest decile received all three interventions, compared to only 44% in the poorest. A clear, monotonic increase in coverage was observed across wealth quintiles and education level.
Conclusões/Considerações
Global MNH coverage has expanded, but even in progressing countries, it is often suboptimal. This highlights the need for sustained investment and robust monitoring. Prioritizing interventions that address social determinants of health and is crucial. By prioritizing these efforts, we can more effectively prevent and minimize perinatal complications, significantly reduce neonatal mortality, and better manage maternal health issues.
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DAS VIVÊNCIAS DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL COM RECORTE DE RAÇA DAS FUTURAS TRABALHADORAS DO SUS NA ZONA SUL DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 UNASP
2 SMS/SP
Apresentação/Introdução
Desafios como o assédio moral e sexual persistem nos espaços de formação e trabalho, impactando a trajetória profissional de mulheres, especialmente aquelas pertencentes a grupos racializados. Nesse contexto, a pesquisa buscou compreender essas formas de violência em estagiárias do SUS, contribuindo para ambientes de ensino e trabalho mais seguros e inclusivos.
Objetivos
implementar o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das trabalhadoras do SUS, em consonância a Política Nacional de Humanização, na região Sul do Município de São Paulo
Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório, de caráter descritivo e natureza mista. Foram aplicados questionários Questionário Sociodemográfico, Instrumento de avaliação de assédio moral e sexual em 164 alunas da área da saúde, em seus diversos níveis de formação (auxiliar, técnico, graduação e residência multiprofissional e de área profissional em saúde), que estavam realizando estágios/residências nos diversos equipamentos de saúde do SUS da região Sul do Município de São Paulo, que mais recebem alunos de estágio e residência através do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES). Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva e análise de conteúdo.
Resultados
A maioria das respondentes são mulheres cisgênero (95,7%) heterossexual (85,9%) brancas (68,1%), pretas e pardas (25,2%), solteiras (73%), casadas (23,9%) baixa renda (36,2%), média (21,5%) e alta (19,6%). 44,2% estagiarias relatam ter sofrido assédio moral, 23,3% sofreram assédio sexual. O assédio moral é praticado principalmente por preceptores (34,8%), trabalhadores das unidades (30,4%) e supervisor (13%). 6,1% sofreram algum tipo de assédio sexual por parte de profissionais durante o campo de estágio. A compreensão do que é considerado assédio moral ou sexual é difusa. Já se sentiram incomodadas mediante insinuações verbais, gestos, contato físico, olhar inapropriado no campo do estágio.
Conclusões/Considerações
O campo de estágio foi considerado um ambiente profícuo à ocorrência de assédio moral e sexual. Há dificuldades em identificá-lo, o que impede o combate de tal crime. São necessárias ações efetivas no combate ao assédio, além de estratégias de acolhimento às vítimas, de forma a gerar maior empoderamento feminino no enfrentamento às iniquidades que comprometem a trajetória profissional de mulheres.
CONTRIBUIÇÕES DE UM SERVIÇO ESCOLA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: A UNIVERSIDADE FORTALECENDO A RAPS SUS
Pôster Eletrônico
1 UNASP
Apresentação/Introdução
O tema saúde mental deve fazer parte desde a formação na graduação de todos os profissionais de saúde. A universidade, a partir de um serviço-escola, deve contribuir no atendimento e direcionamento do cuidado em saúde mental. Com a formação de profissionais sensíveis ao tema, a universidade pode contribuir para diminuição dos dados de adoecimento mental e assim, fortalecer a RAPS no SUS.
Objetivos
Analisar barreiras e potencialidades no cuidado em saúde mental, a partir das percepções de profissionais de saúde de um serviço-escola de uma universidade na região do Capão Redondo, zona Sul do município de São Paulo
Metodologia
Estudo exploratório, de caráter descritivo e natureza mista: quantitativo e qualitativo. A amostra foi composta por 36 profissionais de saúde do serviço-escola da universidade, com especialidades: de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Foram utilizados como instrumento de coleta de dados uma ficha relacional, um Questionário de percepção de saúde mental e grupos focais. Toda coleta foi presencial. Os dados foram analisados por estatística descritiva e análise de conteúdo. A coleta ocorreu após aprovação do CEP.
Resultados
A maioria das respondentes são mulheres (72,2%), brancos (42%7) pretos e pardos (40%) com pós-graduação (55,6%) com graduação (19,4%) formação com mais de 5 anos (64,7%). Há dificuldades em compreender o que seja tema de saúde mental. O encaminhamento para profissionais psis é prioridade. O encaminhamento é feito apenas dando informação ao usuário (52,8%) sem contato com outro serviço. Sente-se inseguros e despreparados para atender usuários em sofrimento psíquico (66,6%). Entendem que a universidade pode contribuir no fortalecimento do SUS, mas faltam recursos como educação permanente, diálogos e vínculos com outros equipamentos, além da falta de cuidado com a saúde mental deles mesmos.
Conclusões/Considerações
O tema saúde mental ainda é um desafio no equipamento, desconhecem os equipamentos da RAPS, consequentemente os encaminhamentos são falhos. A universidade, via clínica escola, pode contribuir para o fortalecimento da RAPS, desde que oferte aos profissionais ferramentas para tal, como cursos de educação permanente, cuidados da própria saúde mental e canais de diálogos com os serviços do território
REALIDADE DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS ZONAS RURAIS E RIBEIRINHAS DE UMA CAPITAL AMAZÔNICA
Pôster Eletrônico
1 UNIFAP
Apresentação/Introdução
A assistência em saúde em localidades rurais e ribeirinhos esbarra em desafios de cunho técnico-estrutural e populacional. Enquanto os locais contam com baixo número de profissionais e serviços de saúde, sua população é caracterizada pela vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, esses territórios são afetados por fenômenos naturais que impactam diretamente na qualidade de vida da população.
Objetivos
descrever os serviços da atenção básica das localidades rurais e ribeirinhas de uma capital amazônica.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. O local de estudo foi uma capital da região amazônica. O local tem 34 unidades básicas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Foram realizadas visitas em 19 unidades urbanas, 6 rurais e 1 ribeirinha. A coleta de dados ocorreu em diários de campo da equipe de pesquisadores e entrevistas com os enfermeiros das unidades básicas de saúde. Foi utilizada análise categorial de Bardin para tratamento dos dados. O projeto foi aprovado pelo CEP Unifap, número do parecer: 5.440.561, CAAE: 37153220.9.0000.0003. As atividades foram realizadas de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.
Resultados
Os serviços dessas localidades são, na maioria, postos de saúde, com a presença de um técnico de enfermagem e/ou agente comunitário de saúde, são pontos de apoio de uma Unidade Básica. Na zona rural, esses postos são distribuídos pelo território que possui vasta extensão territorial e vias não pavimentadas. Já as comunidades ribeirinhas, a maioria não dispõe de um espaço físico de atendimento, sendo necessário o deslocamento à área urbana ou atendimento por uma equipe de saúde itinerante, o acesso a esses locais é realizado exclusivamente por transporte fluvial, o qual sofre influência das marés. Esses locais não dispõem de serviços de média e alta complexidade, públicos ou privados.
Conclusões/Considerações
A realidade encontrada dos serviços desses territórios é de um vazio assistencial, que necessita com urgência de políticas de saúde direcionadas para suas fragilidades estruturais e de força humana, sendo necessário ponderar as suas características geográficas para alcançar uma mudança nesse cenário assistencial.
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS TOTAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA (RMBS) NO PERIODO DE 2014 A 2024
Pôster Eletrônico
1 UNISANTOS
Apresentação/Introdução
As doenças respiratórias estão entre as principais causas de mortalidade no Brasil, agravadas por desigualdades socioambientais. Na Baixada Santista, fatores como o envelhecimento, poluição e vulnerabilidades sociais intensificam os riscos. A pandemia de COVID-19 ampliou essas disparidades, exigindo análises que articulem determinantes sociais, ambientais e interseccionais da saúde.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por doenças respiratórias na Região Metropolitana da Baixada Santista entre 2014 e 2024, considerando marcadores sociais e impactos da pandemia.
Metodologia
Estudo descritivo, de abordagem quantitativa e epidemiológica, com dados secundários extraídos do SIM/DATASUS (2014–2024). Foram analisadas causas de óbito por doenças respiratórias (CID-10: J00-J99), considerando faixa etária, sexo, município de residência, cor/raça e ano. Os dados foram organizados em planilhas Excel® e analisados por estatística descritiva (frequências absolutas e relativas). A análise foi orientada por referenciais da epidemiologia crítica e dos determinantes sociais da saúde, com ênfase na interseccionalidade de marcadores como gênero, raça/cor, idade e território. A área de estudo abrangeu os nove municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Resultados
Foram registrados 34.690 óbitos por doenças respiratórias na RMBS (2014–2024). A maior concentração ocorreu entre idosos (45,7%), especialmente mulheres com 80 anos ou mais. Municípios como Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão apresentaram as maiores incidências, relacionados à densidade populacional, industrialização e desigualdades territoriais. A população negra (pretos e pardos) teve sobrecarga proporcional de óbitos. Durante a pandemia (2020–2022), observou-se aumento de 31,7% nas mortes respiratórias, agravando vulnerabilidades pré-existentes. A análise interseccional entre idade, raça, sexo e território revelou padrões de risco acumulado e desigual acesso à prevenção e cuidados.
Conclusões/Considerações
A mortalidade respiratória na RMBS reflete desigualdades estruturais, com impactos intensificados pela pandemia. Populações idosas, negras e residentes em áreas industrializadas enfrentam maior risco. Urge fortalecer a vigilância interseccional, ampliar a atenção básica e implementar políticas públicas integradas que considerem justiça ambiental, equidade e determinantes sociais da saúde.
EFEITO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE NA MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO: UM ESTUDO ECOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 UNESP
2 UPE
3 FOSP
Apresentação/Introdução
No Brasil, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente nas mulheres. Para os anos de 2023 e 2022, foram estimados 73.610 casos novos (41,9/100 mil) e 19.103 óbitos (12,3/100 mil) por câncer de mama no país, respectivamente. Além das disparidades socioeconômicas, o risco de adoecimento e morte também pode variar de acordo com a disponibilidade e acesso aos serviços de saúde.
Objetivos
Investigar o efeito de indicadores socioeconômicos e de acesso a serviços de saúde na mortalidade por câncer de mama em mulheres no estado de São Paulo.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, cujas unidades de análise foram os 645 municípios do estado de São Paulo. A amostra foi composta por mulheres residentes no estado de São Paulo em 2017. A variável dependente foi a taxa ajustada de mortalidade por câncer de mama entre 2015-2019. As variáveis independentes foram agrupadas em socioeconômicas e oferta de serviços de saúde. Os dados foram coletados de bancos de dados públicos. Foi avaliada a autocorrelação espacial entre as variáveis por meio do Índice de Moran Global e Índice Local de Associação Espacial (LISA). Na análise multivariada, foi utilizado o Spatial Error Model. As análises estatísticas foram realizadas no software GeoDa 1.14.
Resultados
A média da taxa ajustada de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial padrão, foi de 17,40 óbitos a cada 100 mil mulheres (DP: 10,89). As maiores taxas foram encontradas em Santana da Ponte Pensa (86,51/100 mil), Flora Rica (68,15/100 mil) e Santa Maria da Serra (60,14/100 mil). Na análise multivariada, a mortalidade por câncer de mama apresentou correlação espacial positiva com o Índice Brasileiro de Privação (p: 0,004) e com a densidade de médicos ginecologistas (p: 0,028) e negativa com a cobertura de Equipes de Saúde da Família (p: 0,039). O resíduo do modelo final apresentou distribuição normal e o Índice de Moran Global foi de 0,000 (p: 0,500).
Conclusões/Considerações
As condições socioeconômicas da população e o acesso aos serviços de saúde a nível local foram determinantes na mortalidade por câncer de mama em mulheres no estado de São Paulo. Estes resultados podem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de controle do câncer de mama, direcionadas às áreas de maior vulnerabilidade e risco.
DETERMINANTES SOCIAIS, COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E MORTALIDADE POR COVID-19 NOS 119 BAIRROS DE FORTALEZA (2020-2022)
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
Apresentação/Introdução
As mortes por COVID-19 em Fortaleza concentraram-se nos territórios socialmente mais vulneráveis, evidenciando desigualdades históricas de renda, escolaridade, saneamento e acesso à Atenção Primária à Saúde (APS).
Objetivos
Avaliar a associação entre determinantes sociais da saúde (DSS), cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e mortalidade por COVID-19 nos bairros de Fortaleza, identificando áreas de alto risco.
Metodologia
Estudo ecológico envolvendo 119 bairros. Óbitos confirmados (2020-2022) foram obtidos dos boletins da Secretaria Municipal da Saúde; populações-base, do Censo 2022. Indicadores socioeconômicos (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, renda média domiciliar, densidade >3 moradores/cômodo, esgotamento sanitário) vieram do IPLANFOR/IBGE. Calculou-se a razão padronizada de mortalidade por idade; aplicaram-se correlações de Spearman, regressão binomial negativa multivariável e varredura espacial (SaTScan). Mapas temáticos foram produzidos no QGIS. Nível de significância: 5 %.
Resultados
Foram registrados 11 246 óbitos (460/100 000 hab.). O IDH correlacionou-se negativamente com mortalidade (ρ = -0,52). Bairros no quartil de menor IDH apresentaram razão de mortalidade 1,9 em relação aos de maior IDH. Cobertura ESF ≥ 80 % reduziu o risco em 25 % após ajuste por idade e densidade domiciliar. Três clusters de alto risco foram detectados nas zonas Oeste e Sul, coincidindo com piores indicadores de saneamento.
Conclusões/Considerações
Desigualdades socioeconômicas e baixa cobertura da APS amplificaram a letalidade da COVID-19 em Fortaleza. Políticas intersetoriais que melhorem condições de vida e consolidem a ESF são essenciais para tornar o sistema de saúde mais resiliente em futuras emergências.
SAÚDE E AMBIENTE: UM OLHAR SOBRE OS ESPAÇOS QUE PRODUZEM VIDA
Pôster Eletrônico
1 UFF
Apresentação/Introdução
A Promoção da Saúde propõe a articulação entre saberes científicos, técnicos e populares, além da mobilização de recursos institucionais para o bem viver. Passados 10 anos da divulgação da Carta de Okanagan, observa-se que o movimento das Universidade Promotoras da Saúde é crescente e busca soluções sustentáveis, além do compromisso social.
Objetivos
Identificar Políticas de Promoção da Saúde, desenvolvidas e implementadas, no contexto das Instituições de Ensino Superior do Brasil.
Metodologia
Pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva realizada por meio da análise documental de politicas confeccionadas e compartilhadas pelas universidades públicas do Brasil ou de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). Inicialmente, procedemos a um levantamento nos sites das IPES, de junho de 2023 a junho de 2024. O recorte temporal se deve pela ocorrência dos Congressos da Rede Ibero-americana de Universidades Promotoras da Saúde. Na sequência, processamos uma pré-análise dos documentos encontrados, cuja consulta de acervo estava livre na internet.
Resultados
No Brasil, há 14 IPES afiliadas à Rede Ibero-americana de Universidades Promotoras da Saúde. Nas buscas não foram encontradas Políticas de Promoção da Saúde voltadas para a comunidade acadêmica e seu entorno. Foram encontradas menções, eventos e debates sobre o desenvolvimento de uma política institucional e três políticas direcionadas para a Saúde Mental dos estudantes. Cabe ressaltar ainda, que ações e práticas promotoras da saúde, nas diversas IPES, não são estruturadas na forma de uma Política, são indicadas como guias e/ou diretrizes.
Conclusões/Considerações
Os dados apresentados tiveram a finalidade de contribuir com o debate relativo a incorporação de Politicas de Promoção da Saúde nas IES favorecendo o bem viver da comunidade acadêmica e seu entorno. A criação de uma Política de Promoção da Saúde universitária é um desafio, que favorece a transparência e continuidade das ações e dos programas que são invisibilizados.
CO-COBERTURA DE INTERVENÇÕES PRÉ-NATAIS E DE PARTO NO BRASIL: DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS - DESIGUALDADES POR ESCOLARIDADE E RAÇA/COR DA PELE
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Pelotas/Centro Internacional de Equidade em Saúde
Apresentação/Introdução
O monitoramento da cobertura de intervenções pré-natais e de parto é um pilar fundamental para garantir melhores desfechos de saúde materna e infantil. Indicadores de co-cobertura reúnem intervenções preventivas recomendadas para cada mulher, sendo fundamental avaliar a assistência prestada e compreender as iniquidades no seu acesso.
Objetivos
Descrever as desigualdades por escolaridade e raça/cor da pele materna na co-cobertura de intervenções pré-natais e de parto no Brasil em 2023.
Metodologia
Utilizando dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos de 2023, foi criado um escore de co-cobertura a partir da soma de quatro intervenções: (1) início do pré-natal no primeiro trimestre; (2) sete ou mais consultas de pré-natal; (3) parto institucional; e (4) assistência ao parto por profissional de saúde qualificado. Cada variável adicionou um ponto a mais no escore, que variou entre 0 e 4 pontos. Foi realizada uma análise descritiva das frequências de cada intervenção recebida e do escore de co-cobertura, segundo escolaridade (nenhuma; 1-3; 4-7; 8-11; 12 anos ou mais de estudos) e raça/cor da pele materna (branca; preta; amarela; parda; indígena).
Resultados
Das 2.441.639 gestantes, 85,3% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, 78,8% realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, 99,2% tiveram parto institucional e 99,2% foram assistidas por profissional de saúde qualificado durante o parto. Em relação à co-cobertura, apenas 38,4% das gestantes sem escolaridade tiveram um escore igual a quatro, e 9,7% escore zero. Entre as mulheres com 12 anos ou mais de estudo, 82,0% tiveram o escore quatro, e 0,1% tiveram escore zero. Apenas 39,6% e 68,6% das indígenas, pretas e pardas, apresentaram escore quatro e 8,1%, 0,1% e 0,2%, escore zero, respectivamente. Em contraste, 78,9% das gestantes brancas tiveram escore quatro e 0,1%, escore zero.
Conclusões/Considerações
Intervenções de pré-natal e parto, de forma isolada, apresentaram ampla cobertura no Brasil. No entanto, ao considerar a co-cobertura, observam-se importantes desigualdades segundo escolaridade e raça/cor da pele materna, com destaque para as menores coberturas entre mulheres sem escolaridade e indígenas.
CONVIVÊNCIA EM CRISE: ANÁLISE DOS CECCOS COMO DISPOSITIVOS CLÍNICO-POLÍTICOS DA RAPS DIANTE DO ISOLAMENTO E DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA CIDADE DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 PUC-SP
Apresentação/Introdução
Os Centros de Convivência e Cooperativa (CECCOs) são dispositivos da RAPS criados em São Paulo em 1989. Idealizados para promover saúde por meio da convivência, arte e trabalho cooperado, hoje enfrentam desinvestimento e fragilidade institucional. Esta pesquisa analisa sua trajetória, atualidade e relevância diante de desafios contemporâneos.
Objetivos
Analisar os fatores históricos e macropolíticos que contribuíram para o atual desinvestimento nos CECCOs e discutir sua relevância clínica e política no enfrentamento do sofrimento psíquico contemporâneo ligado ao isolamento e à precarização do trabalho.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter teórico-metodológico. Foram analisadas portarias, políticas públicas, dissertações e normas técnicas relativas aos CECCOs. A investigação incluiu o mapeamento dos CECCOs e CAPS, além da análise do perfil profissional das equipes com base no CNES. Assumiu-se uma perspectiva implicada do pesquisador, articulando vivências pessoais ao objeto de estudo. O trabalho recupera a história do dispositivo e problematiza as condições atuais de sua implementação na RAPS, com foco na precarização institucional, vínculos de trabalho e esvaziamento do projeto clínico-político.
Resultados
A criação dos CECCOs marcou um avanço da Reforma Psiquiátrica ao propor cuidado psicossocial baseado em convivência, arte e trabalho. No entanto, enfrentam desde sua origem instabilidades institucionais, agravadas pela EC 95 e flutuações nos governos municipais. O mapeamento revelou baixa expansão da rede (23 unidades em 36 anos) e precarização das equipes, com escassez de profissionais estáveis e oficineiros sem direitos trabalhistas. Apesar disso, o CECCO mantém potência clínica ao suspender rótulos e favorecer vínculos coletivos. É também alternativa concreta à crise contemporânea da alteridade e à lógica neoliberal de isolamento e competição.
Conclusões/Considerações
Os CECCOs seguem sendo dispositivos relevantes frente ao sofrimento contemporâneo, articulando saúde, cultura e economia solidária. No entanto, seu esvaziamento institucional compromete essa potência. É urgente fortalecer politicamente esses espaços e ampliar pesquisas implicadas, que articulem teoria e prática, como a cartografia de experiências e escuta de trabalhadores, gestores e usuários, visando a reinvenção da clínica e da convivência.
CORPOS, AFETOS E TERRITÓRIOS: ETNOGRAFIA DAS RELAÇÕES DE PESSOAS NEGRAS SEXO-GÊNERO-DIVERSAS NA CIDADE DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 URCA
Apresentação/Introdução
Nas últimas três décadas, observa-se a emergência da categoria território como um importante operador teórico para a aproximação entre os campos da saúde e da geografia. No contexto nacional, tal aproximação tem sido valorizada devido às formulações iniciais que recorreram ao conceito de espaço para compreender o estado de saúde das populações, eclipsando, assim, outras dimensões da categoria.
Objetivos
Analisar as formas como pessoas negras sexo gênero-diversas produzem, vivenciam e constroem suas relações afetivas em espaços-territórios da cidade de São Paulo.
Metodologia
O referencial teórico-metodológico etnográfico foi empregado a partir de uma perspectiva engajada, na qual o etnógrafo produz descrições resultantes das afetações e de suas observações do mundo. O trabalho de campo ocorreu entre 2021-2023 na cidade de São Paulo e o material etnográfico foi produzido a partir de imersões com as pessoas interlocutoras, notoriamente, negras sexo-gênero-diversas e que fossem maiores de 18 anos. A observação-participante e diário de campo, clássicos da tradição Antropológica, foram utilizados produção dos dados etnográficos. A pesquisa seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução CNS nº 510/2016 e foi aprovada no Comitê de Ética sob o n. 5.383.013
Resultados
Os dados etnográficos demonstraram que as relações produzidas e vivenciadas pelas pessoas interlocutoras estão intrinsicamente relacionadas com os territórios por elas frequentados. Estes territórios, neste trabalho, são agentes que participam e modelam a materialidade das experiências das pessoas interlocutoras, sendo ele mesmo um ator, destacando os complexos vínculos que são formados nesses espaços. Essa perspectiva permite adensar etnograficamente a compreensão de território enquanto relação vivida, dinâmica e ancestral, de modo que possibilita tensionar conceitos tão comuns na área da saúde, como rede social de apoio e territorialidades em saúde.
Conclusões/Considerações
As relações vividas pelas pessoas nos territórios funcionam como catalisadores afetivos, acionando pertencimentos coletivos e formas outras de pensar saúde e cuidado. Há envolvimento intencional e não intencional, com produção simbólica e relacional de saúde. Territórios e pessoas se co-implicam, ativando direções não-hegemônicas na construção do cuidado.
PERCEPÇÃO DE MULHERES MIGRANTES VENEZUELANAS SOBRE SAÚDE COMO DIREITO
Pôster Eletrônico
1 UFMA
2 Universidad CES
Apresentação/Introdução
As interfaces entre migração, saúde e direitos humanos apresentam desafios complexos, pois migrantes estão inseridos em situações de vulnerabilidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a saúde como direito universal e a Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado. Muitas mulheres migrantes vêm para o Brasil em busca de cuidados de saúde
Objetivos
Analisar a percepção de mulheres migrantes venezuelanas sobre o direito à saúde
Metodologia
Pesquisa qualitativa, parte do estudo Redressing Gendered Health Inequalities of Displaced Women and Girls in contexts of Protracted Crisis in Central and South America (ReGHID), realizado em Boa Vista e Manaus, cidades que abrigam o maior número de migrantes venezuelanos no Brasil. As participantes foram mulheres migrantes venezuelanas na faixa etária de 14 a 49 anos, considerada como idade reprodutiva. As técnicas utilizadas foram entrevista estruturada e semi estruturada. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas integralmente. Foi utilizado o software NVivo para o processamento dos dados e a Análise de Conteúdo na modalidade Temática.
Resultados
Participaram da pesquisa 75 mulheres. A maioria reconheceu saúde como direito universal:“a saúde deve ser gratuita em todos os países porque é um direito nosso, seres humanos”. No entanto algumas mulheres desconheciam que no Brasil a saúde é um direito fundamental para todas as pessoas Algumas relataram que a exigência de CPF e “cartão de saúde” era uma barreira para acessar esse direito.. Referiram, ainda, que existem organizações internacionais encarregadas de difundir informações relacionadas ao direito à saúde de migrantes, além de dar suporte nos processos para acesso aos serviços de saúde no Brasil.
Conclusões/Considerações
Ainda que a saúde seja concebida como direito universal por órgãos e leis nacionais e internacionais, pessoas de grupos vulneráveis, como mulheres migrantes venezuelanas, podem ainda não ter acesso a essa informação, o que permite uma reflexão sobre interseccionalidade na saúde a partir das desigualdades que acometem esse grupo em geral mas que afetam a saúde de forma particular.
LITERACIA EM SAÚDE E FATORES ASSOCIADOS AO ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DOS REFUGIADOS EM JUNDIAÍ
Pôster Eletrônico
1 FMJ
Apresentação/Introdução
As migrações tem se intensificado nas últimas décadas e são comuns barreiras no acesso aos serviços de saúde. A literacia em saúde, que é a capacidade de obter, compreender, avaliar e aplicar informações relacionadas à saúde, desempenha um papel essencial nesse contexto.
Objetivos
O objetivo do estudo foi analisar a literacia em saúde de refugiados em Jundiaí e os fatores associados ao uso dos serviços de saúde, visando identificar barreiras e propor melhorias na assistência prestada a essa população vulnerável.
Metodologia
Estudo transversal que avaliou 50 refugiados/imigrantes com 18 anos ou mais, vinculados ao Centro de Serviço à População Migrante (CESPROM) de Jundiaí-SP. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário estruturado, contendo questões sociodemográficas, comportamentais e de saúde, além da Escala de Literacia em Saúde (HLS-14). Foram realizadas análises descritivas das variáveis, utilizando o software SPSS 20.0.
Resultados
A maioria dos indivíduos é do Haiti (86%, n=43), com idade entre 25 e 50 anos, 68% (n=34), 82% (n=41) se declarou cor da pele preta, 48% (n=24) ensino fundamental II, 90% (n=45) até dois salários-mínimos e 10% (n=5) recebem auxílio governamental. O acesso a Unidade Básica de Saúde foi 88% (n=44). Dificuldade com a linguagem dos profissionais foi relatada por 56% (n=28) e 48% (n=24) disseram que a forma como se expressam não é bem entendida. Na literacia, 54% (n=27) relataram dificuldade para ler ou interpretar informações de saúde e 34% (n=17) verificam se as informações são confiáveis e 60% (n=30) precisam de ajuda para entender instruções médicas.
Conclusões/Considerações
Os dados analisados evidenciam que houve acesso ao serviço, porém a barreira relatada foi a comunicação e comprometimento da literacia em saúde, torna o processo de cuidado mais frágil e vulnerável a falhas. Para garantir um cuidado integral e equitativo aos refugiados e imigrantes, é essencial investir em ações na saúde, educação, assistência social e direitos humanos.
PÓS-COVID-19 NAS FAVELAS DE PORTO ALEGRE: RESILIÊNCIA, RESISTÊNCIA E AÇÕES COLETIVAS
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
Apresentação/Introdução
O Brasil, graças ao Sistema Único de Saúde, conseguiu passar com êxito considerável os desafios postos por diversas epidemias. Contudo, o país se tornou um dos epicentros da Covid-19. Ao expor as desigualdades, o contexto da pandemia demanda respostas mais justas e equitativas nas políticas sociais e de saúde. As sequelas sociais no período Pós-Covid representam um novo desafio para a Saúde Pública.
Objetivos
Este trabalho pretende apresentar os resultados preliminares do mapeamento de campo e levantamentos iniciais de referências bibliográficas, sendo parte de uma pesquisa maior que investigará os efeitos da pandemia de Covid-19 em doze favelas do país.
Metodologia
Estudo de caráter qualitativo com análises quantitativas complementares. O projeto tem como população alvo as favelas pertencentes ao território da “Grande Cruzeiro” (oficialmente denominado como Vila Cruzeiro) no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A pesquisa tem como escopo inicial a realização de uma revisão sistemática da literatura sobre Pós-Covid-19 e as favelas brasileiras, seguido de um mapeamento dos atores envolvidos com o enfrentamento da Covid-19. Serão realizados Grupos Focais com coletivos e membros da comunidade e incluídas entrevistas do tipo história de vida com informantes-chaves. Os dados serão examinados por meio da análise de conteúdo.
Resultados
Os dados do Censo 2022 indicam que o número de pessoas vivendo em aglomerados subnormais no Brasil cresceu 40% em relação a 2010. A Vila Cruzeiro é a maior favela do Estado do Rio Grande do Sul. É um local que apresenta riqueza cultural, social e política, com várias associações comunitárias e valioso histórico de participação. Foram mapeados 202 materiais que versam sobre o tema na cidade, com base nos bancos de dados de repositórios de universidades locais (UFRGS, PUCRS, UFCSPA, UNISINOS e UERGS). Para a busca, foram usados os descritores ‘favela’, ‘vila’ e ‘periferia’. Como limitação, muitos materiais encontrados abordavam as favelas sob perspectivas distintas da proposta desta pesquisa.
Conclusões/Considerações
As favelas expressam as contradições e conflitos da urbanização e nos desafiam a repensar as nossas abordagens metodológicas, a reprodução das desigualdades sociais e o direito ao território. Desenvolver estudos científicos, diretamente conectados com a proposição de políticas públicas, para essas populações, significa contribuir para a elevação da qualidade de uma vasta quantidade de brasileiros que acumulam os piores índices sociais e de saúde.
POLÍTICA NACIONAL DO CUIDADO E SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A JOVEM E NECESSÁRIA POLÍTICA A PARTIR DO COTIDIANO
Pôster Eletrônico
1 UFJF
Apresentação/Introdução
Instaurada a partir da pandemia da Covid-19, a “crise do cuidado” provocou urgente revisão das agendas públicas. Sobrecarregadas e pouco amparadas, são as mulheres as principais cuidadoras, em sua maioria negras. Em 2023 instituiu-se o marco conceitual da Política Nacional do Cuidado no Brasil, que lançou esperança quanto ao fortalecimento dos sistemas de cuidado e superação da mencionada crise.
Objetivos
Compreender a realidade cotidiana de mulheres que atuam na provisão do cuidado informal no âmbito doméstico, atentando-se aos arranjos necessários e possíveis para a sustentação de seus trabalhos e cargas de sofrimento mental associadas.
Metodologia
Compreendida por facilitar processos comunitários, as caminhadas comunitárias serão utilizadas na aproximação junto às cuidadoras e seus territórios. Por meio desta ferramenta, pretende-se a captura de cenas cotidianas e testemunhos das mulheres que exercem o trabalho do cuidado informal. O Diário de Campo também será utilizado, em sua função de captura de diferentes expressões das experiências de pesquisa. Os dados durante o mergulho no cotidiano da comunidade, através da captura das falas e vivências tecidas ao longo do processo serão revisitadas e alinhavadas, desdobrando-se em categorias de análise.
Resultados
Espera-se que o presente trabalho tenha como resultados a catalogação de testemunhos e experiências destas mulheres, ofertando portanto, direções norteadoras para a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades reais que se impõem em suas vidas e determinam seus quadros de saúde e condições de existência. Além de agregar elementos de qualidade à literatura da área, esta investigação pretende construir com novas perspectivas para a incipiente política nacional de cuidados que vem sendo estruturada no Brasil, assentada em noções ampliadas e contextualizadas de cuidado e saúde mental.
Conclusões/Considerações
Buscamos contribuir com a construção de políticas públicas que possam apoiar estas mulheres em todo o país, tornando cada vez mais visível um trabalho mal pago, desvalorizado e realizado, em sua maioria, em condições de extrema precariedade e vulnerabilidade social. A presente pesquisa faz parte de projeto de pesquisa de doutorado em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Juiz de Fora e que o contato com o campo ainda não foi iniciado.
POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL E AS INIQUIDADES DO ACESSO AO CUIDADO: UM ESTUDO DE CASO DE BLUMENAU (SC) A PARTIR DO MODELO DE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE DE SOLAR E IRWIN.
Pôster Eletrônico
1 FURB
Apresentação/Introdução
O cuidado em Saúde Mental transformou-se, romperam-se as barreiras dos manicômios e objetivou-se um novo olhar para o sofrimento psíquico. A partir de políticas nacionais de saúde foram possíveis novas práticas no campo de atenção psicossocial. Portanto, é necessário constante avaliação das redes locais, para ser possível ofertar estratégias alinhadas com as características dos territórios.
Objetivos
1. Mapear a RAPS em Blumenau através do Mapa Falante desenvolvido pelo PET-Saúde e dados secundários sobre a política de Saúde Mental. 2. Evidenciar e analisar a estrutura da RAPS em Blumenau com base no modelo proposto por Solar e Irwin.
Metodologia
Trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo e exploratório, que utilizou a técnica da pesquisa documental para analisar a RAPS de Blumenau (SC), sob o olhar do Modelo de Determinantes Sociais da Saúde de Solar e Irwin (2010). Os indicadores analisados incluem os Determinantes Estruturais da cultura local e políticas públicas municipais. Também serão considerados dados sobre a posição socioeconômica, raça/etnia, ocupação e renda da população. Sobre os Determinantes Intermediários, para este trabalho serão evidenciadas as circunstâncias materiais e fatores psicossociais, a fim de analisar como se dá o acesso ao cuidado em Saúde Mental no Sistema Público de Saúde pela população local.
Resultados
Blumenau conta com três CAPS: 01 CAPSi, 01 CAPS II e 01 CAPS AD III. São 51 ESFs e 7AGs, 3 dispositivos de CAPS (IJ, II e III) que oferecem apoio psicológico para a população. Como forma de estratégia de desinstitucionalização, existe apenas a Associação Enloucrescer (iniciativa de geração de trabalho e renda). A partir da análise das políticas nacionais (Lei n.1.216 e Portaria 3.088) e da realidade local (Mapa Falante da RAPS), é possível perceber que a maioria dos serviços de atenção especializada possuem apenas um dispositivo, demonstra que a população não está totalmente desassistida, porém é pertinente analisar se esses números são suficientes para atender à demanda do município.
Conclusões/Considerações
Torna-se urgente analisar a suportabilidade e efetividade dos dispositivos de atenção com bases epistemológicas que suportem análises de interseccionalidade. Faz-se necessário fortalecer a RAPS com serviços territorializados, fortalecer o matriciamento, a intersetorialidade e o compromisso político por um cuidado inclusivo, ético e baseado nos direitos humanos.
FATORES ESPACIAIS, SOCIAIS E SOROLÓGICOS NA PREVALÊNCIA E RISCO DE ADOECIMENTO POR HANSENÍASE
Pôster Eletrônico
1 UFMG; SES-MG
2 UFMG
3 SES-MG
Apresentação/Introdução
A hanseníase persiste como problema de saúde pública em cenários de alta vulnerabilidade. Sua dinâmica envolve múltiplos determinantes, incluindo aspectos espaciais, socioeconômicos e biológicos. A aplicação de análises espaciais, integradas a tecnologias sorológicas e teorias sobre determinantes sociais, é fundamental para compreender e enfrentar essa doença negligenciada.
Objetivos
Identificar, analisar e sintetizar evidências sobre como fatores espaciais, sociais e sorológicos se relacionam com a prevalência da hanseníase e o risco de adoecimento.
Metodologia
Trata-se de revisão integrativa baseada em análise de dados espaciais, sociais e sorológicos da hanseníase. Utilizou-se artigos publicados entre 2010 e 2024 nas bases BVS, Scopus e Medline. A busca utilizou descritores relacionados à hanseníase, sorologia, análise espacial e determinantes sociais. Os estudos foram selecionados, analisados e classificados segundo critérios metodológicos do Protocolo PRISMA, focando na aplicação de tecnologias como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), análise de clusters e uso de marcadores sorológicos (Anti-PGL-1). A análise explorou a heterogeneidade espacial da hanseníase e a influência dos determinantes sociais no risco de adoecimento.
Resultados
Foram recuperados 187 estudos e destes 7 foram selecionados. Todos demonstraram que a distribuição da hanseníase apresenta forte dependência de padrões espaciais, socioeconômicos e sorológicos. Foram identificados clusters em áreas com alta densidade populacional, pobreza e infraestrutura precária. A vigilância sorológica, aplicada em contatos e populações específicas, revelou elevada carga de infecções subclínicas, sugerindo transmissão silenciosa. A combinação de dados espaciais e sorológicos permitiu mapear com precisão áreas de risco, otimizando intervenções. A ausência de integração plena entre vigilância sorológica, geoespacial e abordagens sociais limita o controle efetivo da doença.
Conclusões/Considerações
A integração entre fatores espaciais, sorológicos e sociais permite intervenções mais precisas na hanseníase. O uso de SIG e sorologia é essencial para identificar a transmissão oculta. Contudo, é necessário fortalecer políticas públicas que considerem os determinantes sociais e priorizem a vigilância ativa em territórios vulneráveis.
PROJETO OUTRAS HISTÓRIAS: UM ESTUDO SOBRE O CUIDADO DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA EM FLORIANÓPOLIS/SC
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Santa Catarina
2 Consultório na Rua / Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
3 UNISUL
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua enfrenta múltiplas vulnerabilidades e forte estigmatização, estando à margem das políticas públicas de saúde. Ainda, a concepção biomedicalizada do cuidado se ocupa de normalizar os modos de vida e, no que tange à população de rua, as intervenções de saúde são guiadas, majoritariamente, por condutas de controle e coerção, carregadas de hostilidade e discriminação.
Objetivos
Relatar uma pesquisa científica em andamento que busca compreender como se constitui a produção do cuidado entre pessoas em situação de rua em Florianópolis, considerando suas estratégias de resistência e os agenciamentos cotidianos.
Metodologia
A pesquisa em questão encontra-se na etapa de produção dos dados e possui abordagem qualitativa baseada no construcionismo social, utilizando como estratégias a cartografia dos territórios existenciais e a produção de narrativas. O estudo está sendo desenvolvido em Florianópolis, Santa Catarina, com inserção em campo semanal por meio do acompanhamento da equipe do Consultório na Rua. A produção dos dados incluirá observação participante registrada em diários cartográficos e entrevistas em profundidade com pessoas em situação de rua, profissionais da Atenção Primária, CAPS e gestores do SUS. A análise dos dados será feita por meio da técnica de Análise de Narrativas.
Resultados
Espera-se que os resultados revelem dimensões invisibilizadas da vida nas ruas, como afetos, redes de solidariedade e formas próprias de cuidado. A pesquisa deve evidenciar estratégias de resistência frente às violências institucionais e sociais, além das fragilidades e potências da RAPS no cuidado a esse grupo. Pretende-se, ainda, identificar barreiras de acesso e produzir conhecimento que reconheça a autonomia dos sujeitos, suas singularidades e os modos próprios de produzir saúde. Os achados poderão subsidiar políticas públicas mais efetivas e alinhadas aos direitos humanos, desnaturalizando discursos estigmatizantes e práticas coercitivas.
Conclusões/Considerações
A pesquisa aposta na potência das narrativas e na cartografia como métodos implicados e sensíveis às experiências de vida nas ruas. Ao deslocar o foco do risco para o cuidado, propõe-se uma abordagem ética e política que reconhece a produção de vida nas margens. O estudo poderá fortalecer práticas em saúde coletiva mais inclusivas e humanas, contribuindo com estratégias de cuidado mais amplas e com o enfrentamento das desigualdades sociais.
A PRODUÇÃO DO CUIDADO DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL: UMA REVISÃO NARRATIVA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Santa Catarina
2 Consultório na Rua / Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua enfrenta estigma, exclusão e barreiras de acesso ao SUS, em contexto marcado por modelos biomédicos e coercitivos. Ao mesmo tempo, constrói redes de afeto, cuidado mútuo e estratégias de resistência.
Objetivos
Analisar como a produção do cuidado entre pessoas em situação de rua vem sendo abordada em estudos realizados no Brasil.
Metodologia
Realizou-se revisão narrativa nas bases SciELO, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico, com descritores “população em situação de rua”, “cuidado”, “saúde” e “vulnerabilidade”, incluindo artigos de 2009 a 2024. Selecionaram-se estudos que abordam práticas de cuidado, redes solidárias, discursos e interações com serviços de saúde. A análise foi orientada pela técnica da Análise Crítica, identificando temas centrais como formas de cuidado de si, estigma e atuação da RAPS (Atenção Primária, CAPS e Consultório na Rua).
Resultados
A literatura revela que, apesar da precariedade e da violência institucional, emergem nos estudos experiências de cuidado coletivo, sustentadas por afeto, troca de saberes e suporte mútuo. Há relatos sobre o Consultório na Rua como um espaço de vínculo e acolhimento, embora a fragmentação da RAPS e práticas biomédicas dificultem o acesso e a continuidade do cuidado. Os estudos destacam também estratégias de resistência e narrativas que apontam o protagonismo dessas pessoas como agentes ativos na produção de saúde.
Conclusões/Considerações
O cuidado entre pessoas em situação de rua é um fenômeno multifacetado, que envolve dimensões políticas, afetivas e territoriais. Tornar essas práticas visíveis nas políticas públicas e nos serviços de saúde é essencial para inserir a escuta qualificada, afirmar direitos e fortalecer o protagonismo desse grupo. Essa mudança de foco, do risco para o cuidado, pode contribuir para políticas mais inclusivas, equitativas e sensíveis às pluralidades da vida.
PROMOÇÃO DA SAÚDE E A DETERMINAÇÃO SOCIAL: DESAFIOS E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Santa Catarina
Apresentação/Introdução
Aprofunda a compreensão das práticas de promoção da saúde e sua relação com a determinação social, conforme implementadas na atenção primária. Buscamos entender como essas ações transformam as condições de vida para uma saúde equitativa. É crucial reconhecer a saúde e o bem-estar para o desenvolvimento sustentável, focando nos determinantes sociais que impactam o campo da Saúde Coletiva.
Objetivos
Elaborar estratégias, metodologias e tecnologias inovadoras que integrem as práticas de promoção da saúde à determinação social, desenvolvidas por coordenadores e profissionais da atenção primária em um município de Santa Catarina.
Metodologia
Pesquisa ação participante, articulada com o Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, que consiste em três etapas dialéticas e interligadas entre si: investigação temática; codificação e descodificação; desvelamento crítico. As etapas foram desenvolvidas por meio de círculos de cultura, com uma coordenadora e 20 profissionais de equipes de saúde atuantes no contexto da atenção primária de um município representante da mesorregião de Santa Catarina. Os aspectos éticos definidos pela Resolução n. 466/12 sobre Pesquisa com Seres Humanos foram seguidos, com o projeto submetido ao comitê de pesquisa local, em total conformidade com a regulamentação vigente no Brasil.
Resultados
Durante os círculos de cultura os principais temas dialogados foram a baixa participação da comunidade nas atividades oferecidas pela Unidade Básica de Saúde, a resistência cultural e a importância da educação em saúde. Também foi evidente a falta de recursos e o desafio de obter maior comprometimento e adesão dos usuários. Um tema recorrente foi a necessidade de um modelo de saúde mais integrado, que priorize a prevenção e promoção da saúde em vez de focar apenas na doença. Este estudo revelou, de forma crítica, que a construção de sistemas de saúde resilientes e equitativos, que promovam a saúde e atuem sobre seus determinantes sociais, é a chave para reduzir as iniquidades.
Conclusões/Considerações
A necessidade de um modelo de saúde integrado e focado na prevenção e promoção da saúde, e não apenas no tratamento de doenças, tornou-se inegável. A baixa participação da comunidade nas ações da Unidade Básica aponta para as deficiências do sistema atual, reforçando que, para aprimorar significativamente a qualidade de vida, é fundamental conceber e implementar práticas de promoção da saúde que considerem e atuem sobre os determinantes sociais.
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ÓBITOS FETAIS E INFANTIS POR SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL, ENTRE OS ANOS 2010 E 2019
Pôster Eletrônico
1 ICICT/Fiocruz
Apresentação/Introdução
A sífilis é uma infecção sistêmica, crônica, tratável, evitável e exclusiva do ser humano. A taxa de transmissão vertical é de até 80% dos casos, se tratamento materno inadequado ou não realizado. Está associado à mortalidade perinatal. A incidência de até 0,5 casos/mil nascidos vivos (NV) até 2015 não foi alcançada (meta da OMS), reforçando a necessidade de estratégias para sua redução no mundo.
Objetivos
Analisar a distribuição espacial dos óbitos fetais e infantis por sífilis congênita (SC) nas regiões brasileiras e unidades da federação (UF), entre 2010 e 2019, além de avaliar a qualidade do SIM para os óbitos estudados.
Metodologia
Estudo transversal de óbitos por SC entre natimortos e crianças menores de um ano, no período de 2010 a 2019. Utilizados os bancos de óbitos fetais, infantis e de completude dos campos de dados da mãe, extraídos do SIM (DATASUS). Calculadas as proporções de óbitos por SC sobre o total de óbitos dos dois grupos populacionais e o coeficiente de mortalidade específica por SC por mil NV para natimortos e crianças menores de um ano. População de NV extraída do Sinasc (DATASUS). Elaborados mapas temáticos com a malha cartográfica do Brasil no QGIS, versão 3.34. Variáveis sociodemográficas da mãe incluíram: idade, escolaridade, ocupação, duração da gestação, tipo de gravidez e peso ao nascer.
Resultados
Registrados no país 312.516 óbitos fetais e 377.338 óbitos infantis. Entre os óbitos por SC, o primeiro grupo superou o segundo, sendo a mortalidade específica entre natimortos 2,4 vezes maior que a dos óbitos infantis. O Sudeste teve as maiores proporções entre óbitos fetais (1,71%) e infantis (0,57%). O Rio de Janeiro foi a UF que mais se destacou em ambos grupos, respectivamente 5,52% e 1,52%. Para a completude de campos do SIM, notou-se melhor qualidade de preenchimento para os óbitos fetais. A ocupação da mãe foi a variável de pior qualidade para ambos grupos, resultando no país uma média de 24,99% (fetais) e 25,59% (infantis). O Sul teve as menores proporções de incompletude em geral.
Conclusões/Considerações
Diante do cenário de mortalidade por SC no país, conclui-se que é preciso revisar as estratégias de diagnóstico, tratamento e vigilância do agravo. Recomenda-se a incorporação na prática assistencial de nova cultura de registro, com qualidade nos sistemas de informação em saúde e visando a produção de diagnóstico do problema que subsidie a formulação de agendas políticas com compromissos reais para o enfrentamento da sífilis no país.
POLÍTICAS PROMOTORAS DE EQUIDADE EM PAÍSES COM SISTEMAS UNIVERSAIS DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UVA - CE
2 UVA-CE
3 UNINASSAU - Sobral
4 FIOCRUZ-CE
Apresentação/Introdução
INTRODUÇÃO:
É imperativo reconhecer que formas de opressão, expressas, por vezes, em marcadores sociais (raça, classe e gênero), potencializam desigualdades. As interseccionalidades destas precisam ser enfrentadas nas políticas públicas. Assim, países com sistemas universais de saúde devem reconhecer as múltiplas dimensões da determinação social da saúde e apresentar políticas de enfrentamento.
Objetivos
Objetivos: Mapear a distribuição espacial das produções sobre políticas e estratégias de promoção da equidade em países com cobertura universal de saúde; Identificar marcadores sociais para os quais as políticas e estratégias se direcionam.
Metodologia
Metodologia: Estudo de Revisão de escopo com busca realizada na Biblioteca Virtual da Saúde, Scopus, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Embase, Cinahl e Web of Science, no período de abril a maio de 2024. Os critérios de elegibilidade foram: produções que apresentem políticas e/ou estratégias consonantes com a promoção da equidade; produções acadêmicas (artigos, dissertações e teses) e técnicas. Não foram adotados recortes temporais, restrições de idiomas e nem inseridos cartas, resenhas, resumos de evento e editoriais. Foram analisadas 26 produções.
Resultados
Resultados: Distribuição espacial das produções em 3 continentes: 18 na América (Brasil, n=15, Canadá n=2 e Interpaíses n=1), 4 na Europa (França n=1, Reino Unido n=1 e Espanha n=2), 2 na Oceania (Austrália, n=2) e 2 contextos diversos (Revisões). Nestes identificou-se 30 políticas e/ou estratégias de governo com intencionalidade de assegurar equidade para efetivação de direitos. Estas são prioritariamente dirigidas ao enfrentamento dos marcadores: gênero (n=16), classe (n=10) e raça (n=7), sintonizadas com enfrentamentos políticos e sociais, com atuação mais direta na exclusão social (n=6), discriminação (n=9) e pobreza (n=6). Destacam-se experiências que se ocupam de mais de um marcador.
Conclusões/Considerações
Considerações Finais: Políticas públicas de promoção de equidade são contraponto a inflexão que atravessa a saúde global. As iniciativas visam enfrentamento de uma realidade complexa de marcadores sociais que historicamente conformam vulnerabilidades. O Brasil se destaca com políticas e produção do conhecimento relativo, contudo faz-se advocacy de seguirmos atentos a sustentabilidade e ampliação destas políticas de promoção da justiça social.
RACISMO, CONSERVADORISMO E O TRABALHO DE ACS
Pôster Eletrônico
1 EPSJV/Fiocruz
2 Autônomo
3 UFRRJ
Apresentação/Introdução
O direito à saúde avançou, mas estamos longe de um SUS antirracista. Destaca-se o caso das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) – majoritariamente mulheres, negras, trabalhadoras e moradoras em regiões vulnerabilizadas – cuja experiência expressa marcas de racismo representativas do conservadorismo, articulado à modernização capitalista, da qual resulta a determinação social da saúde e da doença.
Objetivos
Objetivamos investigar as expressões do racismo e do conservadorismo no trabalho de ACS.
Metodologia
O estudo, submetido ao CEP, realizou Revisão Integrativa (RI) e Grupo Focal (GF). A RI, em sites de acesso aberto (BDTD, BVS Fiocruz e Scielo), com os termos da busca: [ACS ou “Agente Comunitário de Saúde” ou “Agentes Comunitários de Saúde”] e [racismo ou “desigualdade racial em saúde” ou “desigualdade racial” ou discriminação ou “discriminação racial” ou “preconceito racial” ou racialismo ou “viés racial”] ou [conservadorismo ou conservantismo]. Seguindo critério de seleção, excluindo repetições, ficaram 10 textos.
O GF contou com 6 ACS negras de 2 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, entre 31 e 57 anos, e tempo de atuação entre 12 e 23 anos (exceto 1 há apenas 1 ano).
Resultados
A lacuna de trabalhos encontrada na RI contrastou com o GF, repleto de vivências de racismo-conservadorismo no trabalho de ACS:
“aí falou que devia fazer ligaduras nas mulheres, porque elas têm muitos filhos, e tem por causa do Bolsa Família. [...]Aí eu falei: [...]se nós formos fazer isso, quem são as pessoas que são mais afetadas com isso? Quem tem mais filhos? Quem é mais vulnerável? População negra! [...]Quando falamos das coisas, temos que falar da história” (ACSx).
Na vivência das ACS, à hierarquização racial somam-se várias características do conservadorismo, como “desistoricização” do presente, apagamento das mediações econômicas e políticas e autoproclamada neutralidade.
Conclusões/Considerações
As ACS ocupam lugar de subalternidade nas equipes, por conta do baixo salário, da dificuldade de formação técnica adequada, do constrangimento à realização de funções subdimensionadas e subqualificadas em relação aos seus saberes e da sobrecarga de tarefas burocráticas.
O racismo é estrutural na determinação social da saúde e é expressão de conservadorismo. Se este desistoriciza a teoria, esta discussão precisa estar na pauta da saúde coletiva.
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E IMPACTOS NA MORTALIDADE NO BRASIL: ANÁLISE CONTRAFACTUAL E PROJEÇÕES DE 2020 A 2030 COM DADOS DO CENSO 2010
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 ISGlobal - Barcelona
Apresentação/Introdução
A pobreza é um determinante social central da saúde. No Brasil, a renda influencia fortemente a mortalidade. Avaliar o impacto da erradicação da pobreza na mortalidade nacional pode orientar políticas públicas. Este estudo usa dados do Censo 2010 para simular cenários futuros, considerando ampliação de políticas de transferência de renda até 2030.
Objetivos
Analisar e projetar os efeitos da erradicação da pobreza e políticas de transferência de renda na mortalidade geral no Brasil, utilizando dados sociodemográficos do Censo 2010 e microssimulações para o período 2020-2030.
Metodologia
Estudo quase-experimental em duas etapas. Na primeira, foram aplicados modelos logísticos aos microdados do Censo 2010 (n > 190 milhões), estimando a associação entre renda per capita familiar após benefícios sociais e a probabilidade de óbito (1 = sim, 0 = não), ajustando por fatores sociodemográficos individuais e características municipais. Na segunda etapa, os coeficientes obtidos alimentaram modelos de microssimulação dinâmica a nível de indivíduos/pessoas, objetivando projetar a mortalidade brasileira até 2030 em cenários de ampliação dos programas de transferência de renda e consequente erradicação da pobreza.
Resultados
A renda per capita pós-benefícios mostrou forte associação com menor mortalidade, mesmo após ajuste por idade, escolaridade, sexo, área urbana/rural e saneamento, confirmando seu papel como determinante social da saúde. A proporção real de óbitos foi 0,544% e a estimada, 0,542%, indicando alta precisão do modelo. As microssimulações projetam que a erradicação da pobreza pode reduzir significativamente a mortalidade nacional até 2030. Análises de sensibilidade com modelos Poisson e ajustes como splines e remoção de renda zero reforçam a robustez dos achados.
Conclusões/Considerações
A erradicação da pobreza pode salvar milhares de vidas até 2030. Os achados reforçam a importância das transferências de renda como estratégia de saúde pública. Os resultados dialogam com a Agenda 2030 e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, destacando a necessidade de políticas redistributivas para reduzir desigualdades e mortalidade no Brasil.
REVISÃO DE ESCOPO SOBRE ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE RELATIVA A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DE CABELO SINTÉTICO E EXTENSÕES.
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
2 UNIFESP
3 FFCLRP-USP
4 Drexel University
5 FCM UNICAMP
6 EERP USP
Apresentação/Introdução
Cabelos sintéticos (CS) e extensões de cabelo (EC) possuem importância cultural e estética, sendo usados também para camuflar a perda capilar, como em casos de quimioterapia e alopecia. No Brasil, existe a orientação para sua remoção antes de procedimentos de saúde, podendo gerar impactos negativos, sobretudo em pacientes negros, o que desafia a equidade na assistência à saúde para essa população.
Objetivos
Esta revisão de escopo (RE) tem por objetivo mapear a literatura disponível que aborda orientações direcionadas a profissionais de saúde no cuidado de usuários de CS e EC no contexto da prática assistencial.
Metodologia
Seguiram-se diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) para RE. A busca foi realizada nas bases MEDLINE, EMBASE, Scopus, Web of Science, BVS e literatura cinzenta, com estratégias específicas para cada base, utilizando palavras-chave aplicadas a títulos, resumos e descritores. Dois revisores independentes realizaram triagem e extração dos dados. Foram incluídas publicações com orientações fornecidas para os profissionais de saúde relativas à assistência aos usuários de CS e EC, excluindo-se aquelas voltadas a implantes capilares, perucas, laces e estética. Títulos e resumos foram triados e textos completos avaliados
O Protocolo da RE está registrada no OSF: DOI10.17605/OSF.IO/TWRN6
Resultados
Resultados preliminares. A RE encontra-se em fase de screening dos textos, a busca em 12 bases de dados identificou 5.371 trabalhos, dos quais 2.039 eram duplicatas, resultando em 3.332 estudos para análise. Durante esse processo, emergiram desafios relacionados a temáticas pertinentes à população negra. Observou-se que a problematização do uso desses adornos no contexto da assistência à saúde é aparente apenas no Brasil, baseado também na divergência entre diretrizes de sociedades de anestesiologia do Brasil e dos Estados Unidos da América, em que apenas o documento brasileiro levanta problemática em torno dos CS e EC.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que contradições foram encontradas entre as recomendações assistenciais que envolvem a retirada de CS e EC e as lacunas nas evidências que abordam tais recomendações. Este estudo possui grande relevância para a promoção da equidade no cuidado prestado aos usuários de CS e EC. Especialmente entre pacientes negros, que são os mais impactados por essas condutas, frequentemente caracterizadas por abordagens constrangedoras e desrespeitosas.
PROMOÇÃO DE FELICIDADE ENTRE TRABALHADORES DA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Goiás - UFG
2 Instituto de Saúde - SES/SP; Universidade Federal de Goiás - UFG
Apresentação/Introdução
Estudos demonstram alto índice de insatisfação e baixo bem-estar entre profissionais de saúde. Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST) considera o trabalho como um fator determinante no processo de saúde e doença. Já a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) refere a necessidade de se promover saúde no ambiente de trabalho.
Objetivos
Investigar, por meio de uma revisão sistemática, evidências atuais de intervenções para promover a felicidade entre trabalhadores da saúde.
Metodologia
A diretriz para realização de revisões sistemáticas do Ministério da Saúde foi utilizada como base na condução do presente estudo nos anos de 2023 e 2024, bem como foram consultados guias complementares e diretrizes internacionais. Foram elegíveis Ensaios Clínicos Randomizados, escritos em inglês, de livre acesso e originais. As seguintes bases de dados foram consultadas: MEDLINE, Embase, LILACS e PsycINFO. Os descritores utilizados foram: termos "Felicidade", "Bem-estar" e "Profissional da saúde" que possuem como descritores, respectivamente, "Happiness", "Psychological Well-Being" e "Health Personnel".
Resultados
No total, foram encontrados 697 registros e incluídos nesta pesquisa dez artigos. Dos dez, quatro foram realizadas exclusivamente com enfermeiros, totalizando 495 participantes. Um estudo foi realizado com médicos com um total de 40 profissionais e os demais estudos incluíram diversos profissionais da saúde. Nos estudos analisados comumente contemplou-se apenas um dos aspectos envolvidos na felicidade, sendo este focado no indivíduo. Em consequência, essa concepção limitada implicou na promoção de intervenções com caráter meramente individualista em detrimento de ações ambientais e coletivas. O risco geral de viés dos estudos foi considerado alto e a certeza da evidência muito baixa.
Conclusões/Considerações
As intervenções para promoção da felicidade têm sido direcionadas ao indivíduo em detrimento de ações coletivas que possam ter como resultado a promoção de ambientes saudáveis para o desenvolvimento humano e o bem-viver da população. Assim, destaca-se a necessidade de ampliação de práticas coletivas e de diretrizes baseadas em evidências que possam ser utilizadas no contexto da saúde coletiva.
HTLV, TERRITÓRIOS E RESISTÊNCIA: A VOZ DE MENTORES COMO DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO CRÍTICA EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Escola Bahiana de Medicina e Saude Publica
Apresentação/Introdução
O Brasil apresenta desigualdades históricas marcadas pelo racismo estrutural, refletidas em doenças como a infecção pelo HTLV, prevalente entre pessoas negras e pobres. Em Salvador, epicentro nacional do HTLV, pacientes se tornam mentores, compartilhando suas experiências em territórios marcados por vulnerabilidades sociais.
Objetivos
Apresentar os sentidos construídos por mentores que vivem com HTLV sobre os determinantes sociais que atravessam seus territórios e como esses saberes constituem práticas pedagógicas no campo da saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo vinculado ao Programa de Mentores em Saúde, uma parceria entre a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e a University of British Columbia. Foram realizados encontros pedagógicos nos territórios dos mentores, que vivem com HTLV. A coleta incluiu observação participante e entrevistas semiestruturadas com os mentores e estudantes. A análise se deu por meio da hermenêutica dialética, considerando as dimensões histórico-sociais e subjetivas dos participantes na construção de sentidos.
Resultados
Os encontros revelaram como o racismo estrutural, a pobreza e a desinformação perpetuam a transmissão do HTLV. Os mentores apontam a negligência histórica do sistema de saúde e o estigma associado à doença. Ao narrar suas vivências, transformam experiências de dor em instrumentos de ensino e cuidado. A troca afetiva com os estudantes fortalece vínculos e possibilita uma escuta sensível às realidades dos territórios periféricos.
Conclusões/Considerações
O programa valoriza saberes locais e promove aprendizagem horizontal, ao reconhecer o mentor como sujeito pedagógico. A escuta de experiências marcadas por desigualdades revela os determinantes sociais da saúde e desafia modelos tradicionais de ensino em saúde, abrindo espaço para práticas mais comprometidas com a equidade.
SABERES E PRÁTICAS NA AGRICULTURA URBANA AGROECOLÓGICA: CUIDADO EM SAÚDE E A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DE AGRICULTORAS(ES) EM BELO HORIZONTE
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
Os sistemas de produção agroecológica em áreas de vulnerabilidade social de Belo Horizonte integram ações voltadas à garantia da Segurança Alimentar e Nutricional no município. A participação de agricultoras(es) de maneira voluntária e resiliente nessa política destaca-se pelo potencial de promover cuidados em saúde, alimentação saudável e a relação com os territórios.
Objetivos
Compreender como agricultoras(es) dos Centros de Vivência Agroecológica (CEVAEs), em vulnerabilidade social, constroem práticas de cuidado e proteção à saúde por meio da agricultura urbana e os processos que vulnerabilizam sua saúde e seu bem-estar.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo realizado em dois Centros de Vivência Agroecológica, que integrou observação participante, revisão bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas com doze agricultores e gestores envolvidos nas iniciativas. Essas estratégias permitiram identificar dinâmicas relacionais e práticas que, articuladas no cotidiano dos centros, conformam modos coletivos de produção do cuidado em saúde e da segurança alimentar e nutricional. A análise das entrevistas foi orientada pela Análise Temática Reflexiva com enfoque da interseccionalidade aplicada à saúde.
Resultados
Os resultados destacam o protagonismo de mulheres negras na AU agroecológica e efeitos na melhoria da saúde e na alimentação das pessoas diretamente envolvidas. Entre esses, ressalta-se a melhoria da saúde mental, ampliação da produção local de alimentos adequados ao consumo humano e o cultivo e uso de plantas medicinais. Além disso, as análises revelam ainda diferentes modos de lidar com o adoecimento e a necessidade de formação em agroecologia. Verificou-se a necessidade de apoio efetivo para melhorar a produção e comercialização dos produtos, com garantias de acesso e de continuidade de produção, formação em agroecologia, no uso de plantas medicinais e sobre práticas de cuidado em saúde.
Conclusões/Considerações
A pesquisa destaca a centralidade das hortas urbanas como espaços de cuidado, inclusão e transformação socioambiental. Ressalta-se a importância de incluir vozes invisibilizadas nas políticas públicas, a atuação das mulheres e a importância de uma análise interseccional para compreender como experiências diversas de agricultura urbana ampliam o acesso à alimentação saudável e cuidado em saúde em territórios vulnerabilizados.
ACOLHIMENTO À SAÚDE E SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO LGBTI+ NA ENCHENTE DE 2024 EM PORTO ALEGRE: INTERSECÇÕES ENTRE CRISE CLIMÁTICA E DESIGUALDADES SOCIAIS
Pôster Eletrônico
1 UFRGS e ONG SOMOS - Comunicação, Saúde e Sexualidade
2 ONG SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade
3 UFRGS
Apresentação/Introdução
Os efeitos da crise climática em Porto Alegre em 2024 expuseram os impactos desproporcionais da emergência climática sobre a população LGBTI+, aprofundando barreiras no acesso à saúde e saúde bucal. O projeto investiga essas vivências, evidenciando a urgência de práticas inclusivas que considerem desigualdades estruturais e interseccionalidades em contextos emergenciais.
Objetivos
Analisar interseccionalidades e iniquidades sociais no acolhimento às demandas de saúde e saúde bucal da população LGBTI+ atingida pela crise climática de 2024, identificando experiências, formas de enfrentamento e redes de apoio formal e informal.
Metodologia
Estudo de caso do tipo único e integrado, com abordagem qualitativa e quantitativa. A produção de dados ocorre em duas etapas: (1) etapa quantitativa: aplicação de formulário on-line com 22 questões fechadas enviadas a pessoas LGBTI+ cadastradas na ONG SOMOS; (2) entrevistas semiestruturadas individuais, a partir de roteiro com cinco dimensões temáticas. Os dados quantitativos serão analisados de forma descritiva. Os dados qualitativos serão categorizados com auxílio do software NVivo®, realizada pré-análise e análise Textual Discursiva do material transcrito. Serão respeitados os critérios éticos previstos na Resolução CNS 466/2012.
Resultados
As desigualdades estruturais, sociais, muitas vezes econômicas e certamente políticas agravaram o acesso à saúde e saúde bucal da população LGBTI+ durante a crise climática de 2024 na capital do RS, evidenciando discriminações institucionais, perdas materiais e simbólicas. Destacam-se as estratégias de resistência e redes de apoio ativadas pelos participantes para o enfrentamento do período específico estudado. Os resultados reforçam a necessidade do desenvolvimento de materiais educativos voltados a profissionais de saúde e da assistência social como forma de promover acolhimento qualificado em emergências sociais e climáticas, com base nas necessidades específicas dessa população.
Conclusões/Considerações
Compreender as condições enfrentadas pela população LGBTI+ na crise climática de 2024 é essencial para a formulação de ações institucionais e educativas que fortaleçam o cuidado integral, com sensibilidade às interseccionalidades. Ao evidenciar barreiras e estratégias de enfrentamento, o estudo contribui para políticas públicas que garantam equidade no acesso à saúde e à assistência social.
A (IN)VISIBILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ACESSO AOS SERVIÇOS DE CUIDADOS PALIATIVOS
Pôster Eletrônico
1 CEUB
Apresentação/Introdução
Os cuidados paliativos constituem uma abordagem voltada à promoção da dignidade e da qualidade de vida diante de doenças ameaçadoras da vida. Em contextos de extrema vulnerabilidade, como o da população em situação de rua, essa abordagem mostra-se especialmente relevante por contemplar demandas complexas de assistência e contribuir para a efetivação do direito à saúde.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo compreender as possibilidades e desafios do acesso existente (ou inexistente) da população em situação de rua aos serviços de cuidados paliativos.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas individuais, conduzidas de forma online, com abrangência nacional. Participaram dois profissionais envolvidos na assistência à população em situação de rua, duas representantes da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, além de um representante do Movimento Nacional de População de Rua. Os dados foram analisados com base na Análise de Conteúdo Temática de Bardin, resultando em três categorias.
Resultados
Os resultados evidenciam a pluralidade de necessidades de saúde da população em situação de rua, atravessadas por condições precárias e marcadas por processos de adoecimento e morte frequentemente desumanizados. Identificou-se os entraves e lacunas na assistência disponibilizada atualmente pelos sistemas de garantia de direitos, que comprometem a oferta de cuidados adequados a essas necessidades. Constatou-se ainda a reprodução da invisibilidade desse grupo no acesso aos cuidados paliativos, além da presença de práticas de mistanásia e necropolítica que configuram uma grave violação de direitos.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que o cenário investigado evidencia desafios estruturais de gestão pública e barreiras culturais, como a invisibilização e a banalização do sofrimento da população em situação de rua. Ressalta-se a urgência de estratégias intersetoriais que ampliem o acesso a cuidados paliativos nesse contexto, com vistas à redução das iniquidades e à garantia de dignidade nos processos de adoecimento e fim de vida.
ALEITAMENTO MATERNO E SOFRIMENTO MENTAL: UMA ANÁLISE CONSIDERANDO A INFLUÊNCIA TERRITORIAL
Pôster Eletrônico
1 USP
2 UFBA
Apresentação/Introdução
Estudos apontam que o aleitamento materno contribui para a redução da mortalidade infantil e favorece o desenvolvimento saudável. Contudo, na literatura científica há controvérsias sobre os efeitos dessa prática na saúde mental materna. A dinâmica entre mãe e criança é influenciada pelo território, que além de espaço geográfico, abrange condições socioeconômicas e culturais específicas.
Objetivos
Verificar a associação entre o aleitamento materno, saúde mental materna e características dos territórios em diferentes distritos sanitários.
Metodologia
Estudo quantitativo, baseado em dados secundários de uma pesquisa maior coordenada pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. A coleta foi realizada entre fevereiro e maio de 2023, com 504 crianças menores de seis anos e suas famílias, cadastradas em Unidades Básicas de Saúde dos 12 distritos sanitários de Salvador (BA). Os distritos foram agrupados conforme o índice Bairros Amigos da Primeira Infância (BAPI).Os com maiores pontuações, mais favoráveis ao desenvolvimento infantil, compõem o Grupo A. Neste estudo foram analisados dados de 191 crianças com até 2 anos, contemplando variáveis relacionadas à caracterização da amamentação, da saúde mental materna e do território.
Resultados
O Grupo A é composto por 109 crianças e o B, por 107. Ambos são semelhantes em perfil demográfico (mais de 90% das mães são negras) e condições de vida (escolaridade básica e recebimento de benefícios sociais). Apenas 23 mães relataram visitas domiciliares e 2 não fizeram pré-natal. Em ambos os grupos, mais de 90% iniciaram a amamentação e cerca de 75% na primeira hora. No grupo A, 77 mães negaram todos os quatro sintomas mentais graves, e, no B, 73- entre elas, mais da metade amamentou na primeira hora. No momento da entrevista, das que ainda amamentavam (151), 23 (15,2%) tinham 2 ou mais sintomas; entre as que interromperam(58), apenas 5 (8,6%).
Conclusões/Considerações
As pontuações BAPI evidenciam fragilidades territoriais. Há alta incidência de famílias em vulnerabilidade, com baixa escolaridade materna e dependência de programas sociais. Iniciar a amamentação atua como fator protetivo à saúde mental materna, porém sua manutenção prolongada pode associar-se ao surgimento/agravamento de sintomas mentais. É necessário implementar políticas para enfrentamento das desigualdades e oferta de apoio psíquico.
INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES RESIDENTES EM VITÓRIA-ES
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
O bem-estar físico, psicológico e social reflete a qualidade de vida. Para mulheres, esse equilíbrio é mais vulnerável devido às múltiplas demandas cotidianas, como tarefas domésticas, responsabilidades familiares e obrigações profissionais. Fatores socioeconômicos e comportamentais também influenciam, tornando essencial políticas que promovam equidade e saúde integral das mulheres.
Objetivos
Verificar a associação entre a qualidade de vida e as características socioeconômicas, comportamentais, clínicas e reprodutivas de saúde.
Metodologia
Estudo transversal, com dados de uma base populacional, realizado no município de Vitória no Espírito Santo em 2022, com 1086 mulheres com idade entre 18 anos ou mais. A qualidade de vida foi avaliada pelo resumo do componente físico e mental do “Short Form Health Survey 36”. A faixa-etária, raça-cor, escolaridade, renda familiar por tercil, situação conjugal, trabalho remunerado, excesso de peso, tabagismo, multimorbidade, infecções sexualmente transmissíveis, aborto, primeira relação sexual forçada e possuir filhos foram avaliados. Mediana e intervalo interquartil, teste Mann-Whitney e Kruskal-wallis, e, modelos de regressão quantílicas bruta e ajustadas com booststrap foram avaliados.
Resultados
Mulheres mais velhas apresentaram redução de 6,25 pontos na qualidade de vida física, enquanto menores níveis econômicos reduziram tanto a qualidade de vida física (-6) quanto mental (-8,5). Ser tabagista associou-se à piores escores de qualidade de vida física (-2,5). Em contraste, a atividade física aumentou o escore físico (+9,25) e mental (+11,25). A multimorbidade levou a expressivas reduções no resumo mental (-16,25), enquanto históricos reprodutivos adversos (infecções sexualmente transmissíveis, abortos e relações forçadas) impactaram negativamente a saúde mental feminina (-15,25).
Conclusões/Considerações
O resumo do componente físico e mental das mulheres é significativamente influenciada por fatores sociodemográficos, econômicos e de saúde, revelando uma complexa interação entre determinantes sociais, comportamentais e biológicos no bem-estar das mulheres. Dessa forma, a compreensão desses fatores fornece subsídios significativos para estratégias que melhorem de maneira integral a vida da mulher.
ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Universidade de São Paulo (USP)
2 Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ)
Apresentação/Introdução
Introdução: A população em situação de rua enfrenta diversas barreiras no acesso aos serviços de saúde, agravadas por vulnerabilidades sociais, estigmas e preconceitos. Apesar da existência de dispositivos como o Consultório na Rua, podem persistirem obstáculos à entrada, permanência e continuidade do cuidado, exigindo investigação aprofundada sobre as formas reais de acesso.
Objetivos
Objetivo: Desse modo, este estudo buscou analisar o acesso aos serviços de saúde pela população em situação de rua em Jundiaí, no estado de São Paulo, identificando as barreiras, formas de uso e fatores associados à frequência de uso de serviços de saúde.
Metodologia
Metodologia: Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e transversal com pessoas em situação de rua entrevistadas entre 2022 e 2023. O desfecho foi a frequência do uso de serviços. Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado e analisados com uso de estatística descritiva e bivariada. Razão de chances (odds ratio, OR) com intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram calculados por regressão logística binária múltipla. O estudo foi aprovado pelo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí (CEP/FMJ), sob o parecer nº 4.915.622.
Resultados
Resultados: Entre os 270 participantes, predominaram homens, média de 39 anos, autodeclarados negros, heterossexuais, com baixa escolaridade e mais de cinco anos em situação de rua. O acesso à saúde é restrito: 66,6% nunca consultaram profissionais regularmente. O pronto-socorro é o mais procurado (52,2%) e dor é a queixa mais comum (32,6%). Houve associação entre frequência de uso, gênero e saúde pós-rua. A regressão evidenciou que houve associação entre usar o serviço nunca ou raramente entre os que tiveram percepção de piora da saúde após ir para a rua (OR=2,523; IC95%: 1,133–5,617) e receber auxílio do governo foi inversamente associado a usar raramente o serviço (OR=0,447; IC95%: 0,206–0,972).
Conclusões/Considerações
Considerações finais: Os achados revelam desigualdades no acesso à saúde por parte da população em situação de rua, marcadas por barreiras estruturais, sociais e subjetivas. Fatores como ausência de auxílio governamental e percepção de piora da saúde influenciam no uso de serviços de saúde. Políticas públicas intersetoriais, equitativas e contínuas são urgentes para garantir o cuidado efetivo e a inclusão dessa população no Sistema Único de Saúde.
RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PORTE HOSPITALAR COM A PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM MINAS GERAIS
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
2 UFSC
Apresentação/Introdução
O acompanhamento do indicador de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) configura-se como importante para o monitoramento e avaliação da qualidade da atenção primária à saúde e para análise da gestão hospitalar e do sistema de saúde. Ademais, do ponto da equidade em saúde, há estudos que relacionam o ICSAP às condições socioeconômicas dos municípios e populações.
Objetivos
Analisar a relação entre as internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) e variáveis socioeconômicas dos municípios e do perfil dos hospitais de Minas Gerais, no período de 2015 a 2019.
Metodologia
Estudo quantitativo, analítico, observacional e ecológico, com análise de dados secundários de domínio público. A proporção de ICSAP foi utilizada como variável de interesse e faixa etária, município de residência e de ocorrência, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), porte e perfil hospitalar como explicativas. Foram analisadas as internações pelo Sistema Único de Saúde em Minas Gerais de 2015-19. Realizaram-se medidas de tendência central, dispersão, proporção e testes de associação entre ICSAP e as demais variáveis, por meio do teste do qui quadrado. Para análise de correlação, verificou-se a normalidade da distribuição pelo teste de Shapiro-Wilk e aplicou-se teste de Spearman.
Resultados
Foi encontrada uma tendência de redução de ICSAP no estado durante o período analisado. Os dados descritivos permitiram caracterizar as ICSAP em Minas Gerais, sendo mais frequentes entre indivíduos maiores de 70 anos ou menores de 5 anos, em municípios de residência com menor IDH e instituições hospitalares de menor porte. A análise estatística demonstrou correlação negativa e estatisticamente significativa entre as variáveis número de leitos SUS e IDH dos municípios de residência em relação à taxa de ICSAP.
Conclusões/Considerações
O estudo reforça que a organização das redes de atenção à saúde e o enfrentamento das desigualdades sociais continuam sendo imperativos para o Sistema Único de Saúde na busca por eficiência. Há necessidade de outras pesquisas que considerem indicadores de qualidade da atenção básica, em conjunto com a análise de cobertura; assim como estudos com outros níveis de agregação territorial.
HESITAÇÃO VACINAL E DETERMINANTES ESTRUTURAIS DE RAÇA E GÊNERO: RESULTADOS DE UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 NIESP/CEE- Fiocruz
2 UFPE e NIESP/CEE- Fiocruz
3 PPGBIOS e NIESP/CEE- Fiocruz
Apresentação/Introdução
A hesitação vacinal é um desafio crescente para os sistemas de saúde. No Brasil, a queda nas coberturas vacinais desde 2016 se intensificou com a pandemia. Estudos em Saúde Coletiva ressaltam a importância de considerar determinantes estruturais, como raça/etnia e gênero, e adotar uma perspectiva interseccional na análise e formulação de políticas mais justas e eficazes.
Objetivos
Apresentar os resultados da revisão de escopo que buscou analisar como a literatura científica incorpora os determinantes estruturais de gênero e raça/cor/etnia na abordagem sobre hesitação vacinal.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo com base nos critérios PRISMA-ScR e nas orientações do Joana Brigges Institute. A busca pela literatura científica ocorreu em quatro bases de dados eletrônicas. Foram incluídos estudos qualitativos, quantitativos, de métodos mistos e revisões que abordassem hesitação vacinal com análise das categorias raça/cor/etnia e/ou gênero, publicados entre 2019 e setembro de 2024. Foram excluídos editoriais, matérias jornalísticas, media briefings e estudos em desenvolvimento. Os dados foram extraídos em planilha de caracterização dos estudos e também organizados em uma matriz temática para análise dos conteúdos e abordagens utilizadas nas publicações identificadas.
Resultados
A revisão selecionou 78 artigos, majoritariamente observacionais e oriundos do Norte Global. A partir de 2020, crescem estudos que relacionam hesitação vacinal com raça/etnia e gênero. No Brasil, há escassez de análises interseccionais. A maioria dos estudos incluídos na pesquisa trata as categorias de raça/etnia e gênero de forma descritiva, sem abordar iniquidades estruturais. Estudos interseccionais apontam medo de efeitos colaterais e sobrecarga de trabalho entre mulheres; discriminação e barreiras de acesso para LGBTQIA+; e racismo estrutural, desconfiança no sistema e histórico de abusos com negros, latinos e indígenas.
Conclusões/Considerações
Diante da queda na cobertura vacinal e do aumento da hesitação vacinal, é fundamental adotar abordagens que considerem os determinantes sociais da saúde, como raça/etnia e gênero, a partir de uma perspectiva interseccional, para evidenciar lacunas e barreiras que afetam o acesso e a confiança na vacinação, subsidiando políticas públicas mais equânimes e eficazes.
20 ANOS DE ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER NA CIDADE DE SÃO PAULO: AVANÇOS E PERSISTÊNCIAS DAS DESIGUALDADES
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
2 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
3 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
O cumprimento das recomendações de atividade física é fundamental para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e para a atenuação dos seus efeitos quando essas doenças já estão presentes. Porém, a inatividade física ainda é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças e para mortalidade por todas as causas.
Objetivos
Comparar as prevalências de atividade física no lazer na cidade de São Paulo entre 2003 e 2024, segundo faixa etária, sexo e escolaridade.
Metodologia
Estudo transversal, de base populacional, com dados do ISA-Capital de 2003, 2008, 2015 e 2024. A atividade física no lazer foi avaliada, de 2003 a 2015, pelo IPAQ longo em 2024 por questões específicas. Escores foram calculados em min/sem, somando o tempo de caminhadas e atividades moderadas, mais o dobro de atividades vigorosas. Foram considerados fisicamente ativos os adolescentes que realizaram 420 min/sem ou mais, e os adultos e idosos que atingiram 150 min/sem. Estimativas de prevalência e intervalos de confiança de 95% foram calculados, segundo faixa etária, sexo e escolaridade. Diferenças estatisticamente significativas foram identificadas pela ausência de sobreposição dos IC95%.
Resultados
Maiores prevalências de ativos foram observadas nos homens e nos mais escolarizados. Em 2024, as diferenças por sexo permaneceram apenas nos adolescentes. A partir de 2015, houve aumento dos ativos no lazer em todas faixas etárias. Em adolescentes, a prevalência aumentou entre 2015 e 2024 de 20,7% para 29,4% no total e de 8,2% para 17,4% nas meninas. Nos meninos, o aumento foi de 25,9% para 40,8% entre 2008 e 2024. Em adultos, o aumento entre 2015 e 2024 foi de 22,3% para 34,2% no total, de 27% para 38,2% nos homens e de 18% para 30,5% nas mulheres. Em idosos, o aumento entre 2015 e 2024 foi de 15,9% para 26,3% no total, de 18,7% para 29,7% nos homens e de 14% para 23,9% nas mulheres.
Conclusões/Considerações
A prática de atividade física no lazer aumentou em todas as faixas etárias, embora as desigualdades por sexo e escolaridade ainda persistam. Atualmente, a diferença entre homens e mulheres está restrita aos adolescentes. Políticas públicas que considerem os determinantes sociais da saúde e as desigualdades são fundamentais para a ampliação do acesso à promoção da atividade física no lazer.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: ANÁLISE A PARTIR DOS GOVERNOS DO BRASIL E DA ARGENTINA
Pôster Eletrônico
1 UFC
Apresentação/Introdução
A situação de rua é um fenômeno multicausal, marcado pela extrema pobreza, rompimento de vínculos e dificuldade no acesso às políticas públicas. A situação demanda intervenções estatais que considerem os marcadores excludentes na formulação de políticas mais equitativas. Embora a diferença em números absolutos, Brasil e Argentina apresentam uma crescente de pessoas vivendo nessa situação.
Objetivos
Comparar a abordagem do Estado, no contexto dos governos de Brasil e Argentina, na formulação das políticas públicas e políticas de saúde para população em situação de rua (PSR).
Metodologia
Pesquisa comparativa de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental em portarias, decretos, documentos oficiais e documentos elaborados por organizações sociais dos dois países. Realizou-se análise à luz dos discursos e práticas de atores políticos e sistemas de governança implicados na formulação e implementação de políticas para a PSR. Foram consideradas variáveis de análise: a existência de uma política nacional e política de saúde para PSR, a existência de órgãos de controle social e o nível de participação da sociedade civil organizada. Esta discussão é um recorte das pesquisas de mestrado em Saúde Pública das autoras.
Resultados
Embora não haja no Brasil uma política de saúde específica para PSR, o país tem avançado na formulação de políticas públicas direcionadas. Apesar dos desafios na implementação, as estratégias de governo admitem forte intersetorialidade entre saúde, assistência social, organizações religiosas e sociedade civil com participação estratégica dos movimentos sociais em seu monitoramento. No caso da Argentina, as intervenções governamentais são incipientes, enquanto que a atuação de atores sociais não estatais, formados pela população em situação de rua, organizações sociais e religiosas e universidades públicas continua a dar visibilidade à situação e a reivindicar a plena implementação da lei.
Conclusões/Considerações
A formulação e a implementação de políticas públicas para PSR é influenciada por diferentes atores e perfis de governo, progressistas e de ultradireita, através de discursos higienistas e práticas focalizadas. As marcas de subordinação, compreendidas de modo fragmentado, impõem barreiras no acesso da PSR aos serviços públicos, sobretudo de saúde. Em contrapartida, os órgãos de controle social exercem papel importante no monitoramento das ações.
ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE VULNERABILIDADE SOCIAL E MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL: UMA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO DESPERTAR EM 2023
Pôster Eletrônico
1 UFRN
2 IBGE
Apresentação/Introdução
A razão de mortalidade materna é um indicador de iniquidade em saúde. O Projeto Despertar, investigou a associação entre o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) e a taxa de mortalidade materna no Brasil, em uma perspectiva regional. Este estudo integra uma linha de avaliação baseada em dados secundários que visa subsidiar políticas para redução de desigualdades em saúde reprodutiva e perinatal.
Objetivos
Avaliar a distribuição da mortalidade materna por região do Brasil e sua associação com níveis de vulnerabilidade social em 2023. Estimar estatísticas descritivas com intervalos de confiança e analisar o efeito do IVS sobre a mortalidade materna.
Metodologia
Estudo ecológico quantitativo, utilizando dados secundários de fontes públicas consolidadas (SIM, SINASC, IPEA, IBGE).Apoiado pelo CNPq/Decit-MS. Foram incluídas 28 observações agregadas por região do Brasil, com indicadores de mortalidade materna, infantil, neonatal precoce, neonatal tardia, pós-neonatal, número de enfermeiros e pediatras e o índice de Gini.Para a inferência estatística, foram ajustados modelos de regressão linear, sendo o desfecho taxa de mortalidade materna e a principal variável explanatória o IVS. Os modelos múltiplos incorporaram variáveis de estrutura demográfica e acesso aos serviços de saúde. A significância foi avaliada ao nível de 5%, utilizando o software R.
Resultados
Os maiores valores de mortalidade materna ocorreram no Norte e os menores no Sul. A regressão linear demonstrou forte associação entre IVS e mortalidade materna com coeficiente de regressão negativo em IVS baixos e positivo em IVS altos. O modelo múltiplo, apresentou sinais de multicolinearidade e singularidades em seis variáveis, sugerindo redundância informacional entre os preditores. A análise demonstrou que, isoladamente, o IVS possui forte poder explicativo, mas ao ser controlado por fatores como presença de profissionais e indicadores infantis, os resultados tornam-se estatisticamente instáveis. A implicação é que o IVS capta uma dimensão ampla das desigualdades sociais e territoriais
Conclusões/Considerações
Confirmou-se forte associação entre vulnerabilidade social e mortalidade materna nas regiões brasileiras em 2023, reforçando a importância de políticas públicas direcionadas à equidade em saúde. O Projeto Despertar contribui, assim, para a vigilância em saúde materna com base em dados secundários de qualidade, e reforça a necessidade de monitoramento contínuo das desigualdades como estratégia para a redução da mortalidade materna no Brasil.
IMPACTO INTERSECCIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE RENDA NA AIDS ENTRE 12,3 MILHÕES DE MULHERES BRASILEIRAS
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA, CIDACS/FIOCRUZ
2 UEFS
3 ISC/UFBA
4 CIDACS/FIOCRUZ
5 UCLA
6 ISC/UFBA, CIDACS/FIOCRUZ, ISGlobal
Apresentação/Introdução
A pobreza é um determinante social reconhecido como um dos principais fatores de risco para uma ampla gama de doenças e problemas de saúde, incluindo o HIV/Aids. Este estudo avaliou o impacto e a efetividade interseccional do Programa Bolsa Família (PBF) sobre desfechos sequenciais relacionados à Aids, utilizando dados de uma coorte nacional composta pelas pessoas mais pobres do Brasil.
Objetivos
Avaliar o impacto do Programa Bolsa Família na incidência e mortalidade por Aids entre mulheres brasileiras de baixa renda (filhas e mães), considerando vulnerabilidades interseccionais como renda per capita, idade, raça/cor e escolaridade.
Metodologia
Foi analisada uma coorte de 12,3 milhões de mulheres brasileiras de baixa renda, entre 2007 e 2015, comparando beneficiárias e não beneficiárias do PBF. Utilizou-se um desenho de avaliação de impacto quase-experimental. Para ajustar a seleção à condição de beneficiária, aplicou-se a Ponderação de Probabilidade Inversa do Tratamento (IPTW). Foram ajustadas regressões de Poisson multivariadas, controlando para variáveis socioeconômicas, demográficas e relacionadas à saúde, nos níveis individual e municipal. Também foram avaliados os efeitos do programa em subgrupos populacionais segundo renda per capita, idade, raça/cor e escolaridade.
Resultados
Entre as filhas, o PBF foi associado à redução da incidência de Aids (RR: 0,53; IC95%: 0,42–0,66) e da mortalidade por Aids (RR: 0,45; IC95%: 0,27–0,74). Entre as mães, o PBF também foi associado à redução da incidência (RR: 0,58; IC95%: 0,55–0,61) e da mortalidade por Aids (RR: 0,57; IC95%: 0,53–0,63). O efeito do programa foi mais forte entre mães com uma vulnerabilidade e ainda maior na presença de duas vulnerabilidades interseccionadas, especialmente para incidência de Aids entre mulheres pardas/pretas e extremamente pobres (RR: 0,47; IC95%: 0,44–0,49). O maior impacto foi observado entre mães pretas/pardas, extremamente pobres e com maior escolaridade (RR: 0,44; IC95%: 0,38–0,53).
Conclusões/Considerações
Programas de transferência condicionada de renda (TCR) podem reduzir significativamente a morbimortalidade por Aids entre mulheres beneficiárias, sobretudo entre as extremamente pobres. Diante do aumento dramático da pobreza global após a pandemia de COVID-19, investimentos em TCR podem ajudar a prevenir aumentos futuros na carga de HIV/Aids e contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados à Aids.
ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES INTERSECCIONAIS DE SAÚDE ALICERÇADO NO FRAMEWORK PRECEED-PROCEDE: RELATO DE PESQUISA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual do Ceará
2 Unichristus
Apresentação/Introdução
A discussão sobre os Determinantes Sociais da Saúde surge em meio à crítica aos paradigmas da medicina preventiva, comunitária e saúde pública em resposta aos problemas de saúde direcionado aos multifatores. No Brasil, estudos passam a compreender o processo saúde-doença como socialmente determinado, sendo analisado por áreas como Epidemiologia, Planejamento e Ciências Sociais na Saúde Coletiva.
Objetivos
Relatar o processo de elaboração de uma ferramenta para a construção de Indicadores Interseccionais de Saúde discente realizado por meio do framework preceed-procede.
Metodologia
Elaborado para a saúde pública, o framework preceed-procede apoia-se em princípios aplicáveis à intervenção comunitária discente reconhecendo a influência de fatores individuais, coletivos e ambientais para a promoção da saúde. Estrutura-se em fases diagnósticas. Para construir o instrumento, realizou-se pesquisa e adaptação de questionários validados, resultando em um instrumento que abrange dimensões interseccionais de saúde, agrupadas em quatro diagnósticos: Diagnóstico Social; Diagnóstico Epidemiológico; Diagnóstico Educacional e Ecológico; e Programas de Saúde e Políticas de Desenvolvimento. A validação do instrumento será conduzida por um comitê com representantes de vários segmentos sociais.
Resultados
A pesquisa resultou na elaboração de instrumento com indicadores interseccionais de saúde discente, voltado ao contexto universitário. O instrumento será submetido à validação de conteúdo e usabilidade, considerando aspectos formais como formatação, instruções, domínios, escores e ordem das perguntas. Os itens seguirão uma lógica de complexidade crescente, partindo de questões gerais até os temas sensíveis. As respostas serão categóricas e em escala Likert de 4 pontos. A concordância será considerada satisfatória com índice ≥ 90%. O Índice de Validade de Conteúdo será calculado com base nas respostas 3 e 4, sendo aceitos itens com IVC ≥ 0,78; os demais serão revisados ou excluídos.
Conclusões/Considerações
Os indicadores criados poderão ser incorporados às políticas públicas de acompanhamento discente, subsidiando o monitoramento das vulnerabilidades em saúde ao longo do tempo. Ao serem analisados sob a ótica da interseccionalidade e da saúde coletiva, ampliam-se as possibilidades de resposta aos agravos, promovendo ações integradas orientadas por saúde, com abordagens sistêmicas de equidade e justiça social.
INTERSETORIALIDADE NO ENFRENTAMENTO DAS INIQUIDADES: SAÚDE E MOBILIDADE URBANA EM UMA ABORDAGEM BASEADA NA DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UnB
Apresentação/Introdução
A pesquisa apresenta uma análise que busca ultrapassar as aparências dos fenômenos para alcançar as estruturas subjacentes que moldam as iniquidades existentes em nossa sociedade. Para tanto, procura compreender como a intersetorialidade em políticas públicas pode contribuir para a redução de iniquidades em saúde determinadas pela mobilidade urbana.
Objetivos
Apresentar possibilidades, no âmbito das políticas públicas, de enfrentamento e redução das iniquidades em saúde por meio da intersetorialidade entre saúde e mobilidade urbana, compreendendo esta como determinação social da saúde.
Metodologia
A abordagem qualitativa exploratória teve foco na análise integrada da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), orientada pelos conceitos dialéticos de Totalidade e Reificação. Assumiu-se que, quanto maior o alinhamento das políticas ao conceito de Totalidade, maior o potencial intersetorial no enfrentamento das iniquidades em saúde. Já a prevalência da Reificação tende a gerar ações fragmentadas, com menor alcance. A análise foi realizada em duas etapas: (1) aplicação de dez macrocategorias guiadas pelas categorias críticas mencionadas; (2) uso de sete microcategorias sobre riscos à saúde associados à mobilidade urbana.
Resultados
A análise revelou que políticas públicas, como a de mobilidade urbana, ao serem concebidas de forma reificada, contribuem para aprofundar iniquidades em saúde nos territórios. Identificou-se que ações intersetoriais tornam-se efetivamente estruturantes quando as políticas se alinham à categoria de Totalidade, permitindo articulações multidimensionais e enfrentamento estrutural das desigualdades. Por outro lado, políticas pautadas na Reificação tendem a reforçar soluções isoladas e tecnocráticas. A aplicação das macrocategorias e microcategorias demonstrou a potencialidade da metodologia proposta para subsidiar processos participativos de elaboração e implementação de políticas públicas.
Conclusões/Considerações
A abordagem metodológica proposta tem potencial para reduzir fragmentações setoriais e obstáculos que impedem a operacionalização da intersetorialidade crítica na prática. Para enfrentar as iniquidades em saúde relacionadas a determinações sociais como a mobilidade, é necessário que as ações intersetoriais se alinhem à superação do modelo hegemônico de produção e reprodução dos territórios e de mercantilização da vida.
ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS FEDERAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA O ODS 3 E AS DOENÇAS DETERMINADAS SOCIALMENTE CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BRASIL SAUDÁVEL
Pôster Eletrônico
1 MS
2 FIOCRUZ BRASILIA
Apresentação/Introdução
Este estudo investiga a contribuição do legislativo para o cumprimento da meta 3.3 do objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), que busca eliminar como problema de saúde doenças e infecções socialmente determinadas até 2030 e que estão contempladas no Programa Brasil Saudável (PBS) – Unir para cuidar criado através do Decreto nº 11.908 de fevereiro de 2024.
Objetivos
O objetivo gera é conhecer a contribuição do legislativo para a meta 3.3 dos ODS. Identificar proposições sobre doenças no PBS (2016-2023) e classifica-las, bem como, analisar a contribuição para eliminar as doenças como problema de saúde pública.
Metodologia
O estudo foi realizado no período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 e baseou-se em uma abordagem documental com dados secundários. A análise das proposições legislativas sobre doenças no PBS (2016-2023) foi realizada a partir do banco de dados da Câmara dos Deputados. Utilizou-se a metodologia de Bardin para interpretar dados textuais, envolvendo pré-análise, análise do material e tratamento dos resultados. A organização dos temas permitiu a criação de um banco de dados para análises estatísticas, utilizando o SPSS v.27 e o teste de correlação de Spearman para verificar relações entre conteúdos que foram coletados e sistematizados.
Resultados
Foram identificadas 774 proposições legislativas, destas foram selecionadas 421 categorizadas em 22 temas sobre doenças e infecções relacionadas ao PBS e à meta 3.3 dos ODS. O tema "Acesso à saúde e cuidado" foi o mais recorrente, destacando-se pela sua correlação com "Enfrentamento do Racismo Institucional" e "Proteção Social". A análise revelou que a interdependência entre acesso ao tratamento e proteção social é relevante para populações em situação de vulnerabilidade social. A articulação intersetorial é necessária para enfrentar desigualdades. Iniciativas voltadas a doenças negligenciadas foram observadas, ressaltando a necessidade de políticas públicas eficazes e acesso equitativo à saúde.
Conclusões/Considerações
O legislativo contribuiu para a eliminação de doenças e infecções conforme a meta 3.3 dos ODS. Embora Acesso à saúde e cuidado foi o tema predominante, correlações com Enfrentamento do Racismo Institucional e Proteção Social demostram a necessidade de uma abordagem intersetorial. A mobilização social é fundamentais para manter esses temas como prioridades. A atuação intersetorial pode qualificar as políticas públicas de saúde.
SÍFILIS GESTACIONAL E EFEITOS ADVERSOS AO NASCER: DADOS DE UMA COORTE NACIONAL DE NASCIDOS ENTRE 2011-2020 NO BRASIL.
Pôster Eletrônico
1 Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde (CIDACS), Fundação Oswaldo Cruz, Salvador, Brasil
2 Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK
Apresentação/Introdução
A sífilis gestacional é uma infecção sexualmente transmissível de grande relevância epidemiológica, sobretudo em populações com baixa renda, escolaridade, e acesso limitado ao pré-natal adequado. Quando não tratada, pode causar desfechos perinatais adversos, como prematuridade e baixo peso ao nascer. A limitação no acesso ao diagnóstico e tratamento contribui para a persistência desses desfechos.
Objetivos
Avaliar os determinantes da sífilis gestacional e sua associação com a prematuridade e o baixo peso ao nascer entre os nascidos vivos no período de 2011 a 2020.
Metodologia
Trata-se de um estudo longitudinal que utilizou dados do Sistema Nacional de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) vinculado aos casos de sífilis gestacional do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) entre os anos de 2011 a 2020. Baixo peso ao nascer (peso < 2500 g) e prematuridade (idade gestacional < 37 semanas) foram analisadas em relação à presença de sífilis gestacional. Análises descritivas e regressão logística ajustada por características sociodemográficas maternas e das crianças foram utilizadas para comparar os efeitos adversos ao nascimento de nascidos vivos de gestantes com e sem sífilis. O estudo obteve aprovação do comitê de ética do IGM- FIOCRUZ/BA.
Resultados
Foram analisados 13.225.611 nascidos vivos, sendo 96.019 expostos à sífilis durante a gestação. A prevalência de sífilis gestacional no período foi de 0,66%. Observou-se que mulheres com sífilis gestacional apresentaram piores indicadores obstétricos, socioecnoômicos e neonatais: maior prevalência de baixo peso ao nascer, menores pontuações no Apgar, menor assistência pré-natal (< 6 visitas), além de menorescolaridade, quando comparadas às gestantes sem a infecção. A presença de sífilis gestacional esteve associada ao aumento de 19% na chance de parto prematuro (OR = 1,19, IC95% 1,14 – 1,23) e de 42% na chance de baixo peso ao nascer (OR = 1,42, IC95% 1,35 – 1,48).
Conclusões/Considerações
Tais achados indicam maior risco de comprometimento neonatal e reforçam os efeitos adversos da sífilis gestacional. A detecção e a intervenção precoce são essenciais, mas ainda limitadas pelo acesso desigual aos serviços de saúde e ao pré-natal de qualidade, e perpetua desfechos evitáveis, sobretudo entre mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Esses resultados reforçam a necessidade de políticas públicas que ampliem o cuidado e equidade.
O CLIMATÉRIO NA CONCEPÇÃO DE TRABALHADORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE NA PERSPECTIVA DA ECOLOGIA DE SABERES
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Apresentação/Introdução
O climatério é reconhecido como uma fase biológica e não um processo patológico, que pode ter início com a alteração de ciclos menstruais e outros sintomas de experiências individuais, que dependem de vários fatores incluindo nível de escolaridade e condição socioeconômica, podendo estar associados à deterioração da saúde física, mental e sexual, diminuindo a qualidade de vida das mulheres.
Objetivos
Discutir a concepção de climatério com trabalhadoras da Atenção Primária à Saúde (APS) do Rio de Janeiro, à luz da ecologia de saberes.
Metodologia
Recorte da pesquisa “Cuidado e ecologia integral como perspectivas para um agir pedagógico na Atenção Básica à Saúde”, aprovada no comitê de ética e atendida as exigências cabíveis. Como subprojeto, trata-se de um estudo participativo, exploratório e de abordagem qualitativa, realizado no período entre agosto e outubro de 2024, em um Centro Municipal de Saúde da Área Programática 2.2, no município do Rio de Janeiro. O público-alvo foram trabalhadoras da saúde, as quais em rodas de conversa com a participação ativa de 9 mulheres, entre agentes comunitárias e enfermeiras, e pela observação participante, produziram os dados do estudo. A análise se deu a partir da hermenêutica dialética.
Resultados
Sob um diálogo ecológico que atravessou o contexto de vida e trabalho das mulheres que vivenciam esse processo duplamente, pessoal e profissionalmente, sobressaíram as expressões do olhar biomédico, em detrimento da concepção biopsicossocial, considerada pelo grupo como a concepção ideal. Todos os movimentos direcionavam aos sinais e sintomas físicos sentidos e relacionados as taxas hormonais, primariamente. Daí, as agentes traziam os impactos da fase na vida íntima e social, influenciando diretamente na vida conjugal, e, consequentemente, em outras dimensões. Já as enfermeiras enfatizavam as possibilidades terapêuticas que possivelmente contribuem para a redução dos sinais e sintomas.
Conclusões/Considerações
De modo geral, as mulheres trabalhadoras da APS e participantes do estudo, perceberam o climatério como uma fase fisiológica desafiadora e complexa, reconhecendo este nível de atenção como privilegiado para a sua abordagem integral. Apesar do foco ainda centrado na dimensão biológica, o contexto psicológico e sociocultural recebeu destaque na reordenação do debate, no bojo da ecologia de saberes, implicando na determinação da saúde feminina.
MAPEAMENTO DE INIQUIDADES NA ATIVIDADE FÍSICA: ESTIMATIVAS LOCAIS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM BELO HORIZONTE (2009–2018)
Pôster Eletrônico
1 UFMG
2 UFS
Apresentação/Introdução
A atividade física no tempo livre contribui para a redução da mortalidade, prevenção de doenças crônicas e melhora da saúde mental. Ainda assim, persistem desigualdades no acesso e na prática, especialmente em áreas urbanas vulneráveis, exigindo estratégias mais sensíveis às diferenças territoriais.
Objetivos
Estimar a prevalência de atividade física no lazer em áreas pequenas de Belo Horizonte, Brasil, e analisar iniquidades entre regiões e dois períodos: 2009–2013 e 2014–2018, utilizando técnicas de aprendizado de máquina.
Metodologia
Trata-se de estudo transversal com dados do Vigitel (2009–2018) em Belo Horizonte. As entrevistas foram georreferenciadas e vinculadas aos setores censitários (n=3.830), classificados pelo IVS. Utilizou-se aprendizado de máquina (k-means) para agrupar os setores em nove clusters socioespacialmente homogêneos. A prevalência de atividade física no lazer foi estimada por método direto com pesos pós-estratificados e teste t de Student. Foram analisadas as diferenças absolutas e relativas entre períodos e entre clusters. As análises consideraram a estrutura amostral da pesquisa e foram realizadas no Stata 15.1.
Resultados
Entre 2009–2013, a prevalência de atividade física no lazer variou de 23,7% (cluster VH-1) a 45,6% (cluster LO-1). No período 2014–2018, os valores oscilaram entre 31,4% (HI-0) e 52,8% (LO-1). As maiores diferenças absolutas ocorreram entre os clusters de menor e maior vulnerabilidade, com variações de até 21,9 pontos percentuais no primeiro período e 21,0 no segundo. Houve aumento significativo da prática em quatro dos nove clusters, incluindo LO-0 (+7,7 p.p.), LO-1 (+7,3 p.p.) e HI-2 (+6,8 p.p.). Apesar das melhorias em áreas de maior risco, as desigualdades se mantêm acentuadas, especialmente entre os extremos socioeconômicos, apontando para a urgência de estratégias locais de intervenção.
Conclusões/Considerações
As estimativas em pequenas áreas evidenciaram desigualdades persistentes na prática de atividade física no lazer em Belo Horizonte. Apesar de melhorias em regiões mais vulneráveis, as disparidades permanecem marcantes. O uso de inteligência artificial aprimora a vigilância em saúde e pode orientar políticas públicas mais equitativas e específicas às realidades locais.
A INADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PRÉ-NATAL SEGUNDO NÍVEL DE INSTRUÇÃO EM ANOS DE ESTUDO NO BRASIL E REGIÕES (2014–2022)
Pôster Eletrônico
1 UFMT
Apresentação/Introdução
O número de consultas pré-natais está diretamente relacionado ao nível de instrução materna, sendo ambos indicadores que influenciam na mortalidade perinatal. Além disso, desafios socioeconômicos e estruturais impactam consideravelmente no acesso à assistência de saúde, como a disponibilidade de instalações adequadas, oferta de consultas, cobertura de pré-natal ofertada e barreiras geográficas.
Objetivos
Descrever a inadequação do pré-natal segundo escolaridade em anos de estudo do Brasil e regiões entre 2014 e 2022 e suas tendências temporais.
Metodologia
Estudo ecológico com dados do SINASC (2014–2022), analisando a escolaridade, em anos de estudo, categorizada em: nenhuma instrução, de 1 a 3 anos, de 4 a 7 anos, de 8 a 11 anos e mais de 12 anos, considerando as variáveis: mulheres que não realizaram o pré-natal, ou que iniciaram o pré-natal após o terceiro mês de gestação e/ou que fizeram menos de 3 consultas durante o pré-natal iniciado até o terceiro mês de gestação. Foram aplicadas análises descritivas e regressão de Prais-Winsten para tendência temporal com IC95%. Por utilizar dados de domínio público, a pesquisa dispensa análise e aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme a resolução Nº 674, de 6 de maio de 2022.
Resultados
No Brasil, em mulheres com 8 a 11 anos de instrução, foi identificada uma média de 61,16% dos casos de inadequação, com tendência crescente em todas as regiões. As maiores proporções de inadequação de pré-natal, para essa mesma categoria, ocorreram nas regiões Sudeste com 67,66%, Centro-Oeste com 62,42% seguido da região Sul com 62,03%, com tendência crescente em todas as regiões. As faixas de menor escolaridade mostraram tendência decrescente de inadequação ao pré-natal no Brasil e regiões, com exceção da Região Norte, em que a categoria nenhuma escolaridade, teve tendência estacionária.
Conclusões/Considerações
A inadequação do pré-natal prevaleceu em todas as regiões brasileiras entre mulheres com escolaridade entre 8 a 11 anos de instrução. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul respectivamente tiveram médias acima da nacional em inadequação, o que sugere que apenas a conclusão do ensino médio não assegura acesso oportuno, já que o acesso sofre influência multifatorial, anteriormente citados, necessitando ampliar e diversificar as formas de acesso.
PERFIL SOCIOECONÔMICO E EDUCACIONAL DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE: ESTUDO TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Ceará
Apresentação/Introdução
Segundo o relatório Global Prison Trends 2024, cerca de 741 mil mulheres estão presas no mundo, sendo a população carcerária feminina a que mais cresce desde 2000. Compreender o perfil socioeconômico e educacional dessas mulheres é fundamental para subsidiar políticas intersetoriais que promovam equidade em saúde e favoreçam a ressocialização.
Objetivos
Analisar o perfil socioeconômico e educacional de mulheres em situação de privação de liberdade.
Metodologia
Trata-se de estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 57107722.6.0000.5054), realizado em todas as unidades penitenciárias femininas do Ceará (Aquiraz, Sobral e Crato), entre julho e novembro de 2022. A amostra compreendeu 387 mulheres privadas de liberdade, independentemente do regime prisional ou tempo restante de pena. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as participantes responderam ao Questionário de Avaliação do Estado Geral Social e de Saúde (QAEGSS), contendo 118 questões objetivas. O estudo seguiu as normas éticas para pesquisa com seres humanos (Resolução nº 466/2012).
Resultados
Foram avaliadas 387 mulheres privadas de liberdade. Predominaram residentes do interior (56,6%), pardas (78,3%), cisgênero (96,1%), heterossexuais (64,1%) e solteiras (66,4%), com idade média entre 32 e 34 anos. Quanto à religião, destacaram-se católicas (47,3%) e evangélicas (40,6%). Antes da prisão, 47,5% possuíam casa própria e 3,1% estavam em situação de rua. A mediana de filhos foi três e a média de escolaridade, entre 8 e 9 anos. Observou-se heterogeneidade nas variáveis renda, participação em cursos e trabalho na prisão.
Conclusões/Considerações
O perfil identificado aponta que a maioria das mulheres privadas de liberdade no Ceará é jovem, parda, cisgênero, heterossexual, solteira, com filhos, oriunda do interior, com vínculos religiosos e moradia fixa. Os dados evidenciam a necessidade de ações intersetoriais voltadas à promoção da saúde integral, incluindo saúde mental, sexual e reprodutiva, além do fortalecimento dos vínculos familiares.
PRODUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EQUIDADE: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
Pôster Eletrônico
1 UVA - CE
2 UECE
3 FIOCRUZ-CE
4 UECE-CE
Apresentação/Introdução
Políticas Públicas de enfrentamento de marcadores sociais visam reduzir desigualdades e promover inclusão de grupos específicos na garantia de direitos. Consoante, a pesquisa na pós-graduação tem relevância na redução das injustiças sociais, ao gerar conhecimento sobre as causas das desigualdades, avaliar políticas, desenvolver inovações à inclusão e formar profissionais com consciência social.
Objetivos
Descrever a produção acadêmica disponível na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre Políticas de Promoção da Equidade.
Metodologia
Estudo descritivo conduzido com abordagem bibliométrica e de conteúdo. Os dados foram coletados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da CAPES no período de junho a setembro de 2024. Adotou-se a equação de busca: “populações vulneráveis” AND “políticas públicas” AND (“equidade” OR “promoção da equidade”), sem restrição de ano e excluiu-se estudos que não abordavam políticas de dirigidas a populações em situações de vulnerabilidades e que visavam a promoção da equidade. Como apoio para seleção dos estudos utilizou-se a plataforma Rayyan e as produções foram analisadas considerando ano, tipo, área de concentração, esfera de governo e grupo populacional beneficiário.
Resultados
Identificou-se 70 produções acadêmicas, sendo 51 dissertações (72,86%) e 19 teses (27,14%). As publicações ocorreram entre 2005 e 2023, com predomínio no ano 2014 (N=09; 12,85%), nas áreas de concentração de: Ciências Sociais Aplicadas (N=25;35,71%), Ciências Humanas (N=19;27,14%), Ciências Agrárias (N=11;15,71%), Ciências da Saúde (N=7;10%). Nesta última, 2 teses são de Programa na área Saúde Coletiva. Predominaram análise de políticas municipal (N=29, 41,42%) e que se direcionam aos povos indígenas e comunidades tradicionais, população negra e quilombolas, populações rurais, do campo, floresta e água, com predomínio da população quilombola (46, 65,71%) e da população rural (14, 20%).
Conclusões/Considerações
A produção acadêmica sobre políticas de promoção da equidade apresenta-se limitada quando se toma em consideração as produções acadêmicas no Brasil. Algumas populações vulnerabilizadas seguem invisibilizadas na produção acadêmica. O predomínio das produções no âmbito municipal sublinha a relevância da ação local na mitigação das iniquidades. Ressente-se da limitada produção na pós-graduação na Saúde Coletiva sobre temática tão sensível a esta área.
DESIGUALDADE DE RENDA E CONSUMO ALIMENTAR EM ADULTOS COM DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
2 UFMG
Apresentação/Introdução
Pessoas com deficiência enfrentam diversas barreiras sociais que podem dificultar o acesso a uma alimentação adequada. A renda é um fator importante, pois esse grupo frequentemente têm gastos extras com saúde, transporte, dietas, assistência, adaptações e cuidados. Tais condições podem impactar a frequência e a qualidade do consumo de alimentos saudáveis, variando conforme o tipo de deficiência.
Objetivos
Descrever a frequência semanal de consumo de frutas, legumes e verduras em adultos com deficiência, segundo a renda familiar e o tipo de deficiência no Brasil.
Metodologia
Estudo transversal com dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, incluindo adultos de 18 a 59 anos. Pessoas com deficiência foram identificadas por autorrelato de deficiência auditiva, visual, física, mental/intelectual e/ou múltipla. A renda familiar per capita foi categorizada em faixas de salário mínimo (SM). Analisou-se a frequência semanal de consumo de frutas, legumes e verduras, classificada em: nenhum dia (não consome), 1 a 4 dias/semana (consumo irregular) e 5 a 7 dias/semana (consumo regular). Foram calculados intervalos de confiança de 95% (IC95%) e teste do qui-quadrado (p<0,05), considerando o desenho amostral complexo (survey) no Stata 16.0.
Resultados
Dos 10.600 adultos com deficiência (3,7% da população), 37,7% tinham deficiência visual, 7,3% auditiva, 31,5% física, 8,6% mental/intelectual e 14,9% múltipla. Observou-se aumento do consumo regular de frutas, legumes e verduras com o aumento da renda em todos os tipos de deficiência. Entre pessoas com deficiência visual, o consumo regular de legumes e verduras aumentou de 34,6% (até ½ SM) para 63,5% (>2 SM), e o de frutas, de 26,2% para 45,2%. Para aqueles com deficiência física, os percentuais passaram de 39,0% para 69,9% (legumes e verduras) e de 29,6% para 70,1% (frutas). Na deficiência múltipla, o consumo regular de frutas variou de 31,1% a 78,1%, conforme o aumento da renda.
Conclusões/Considerações
A maior renda esteve associada ao consumo regular de alimentos saudáveis, independentemente do tipo de deficiência. Considerando que pessoas com deficiência compõem um dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, políticas públicas voltadas ao aumento da renda podem contribuir positivamente para a melhoria da qualidade da alimentação e, consequentemente, da saúde dessa população.
EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA ANÁLISE DA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA EM DEZ MUNICÍPIOS BRASILEIROS DE GRANDE PORTE (2015-2022)
Pôster Eletrônico
1 UFSC
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua (PSR) vem crescendo no Brasil e enfrenta obstáculos no acesso a políticas públicas. A Portaria nº 2/2017 do MS recomenda 1 equipe de Consultório na Rua (eCR) para cada 500 PSR. No entanto, os dados sugerem subdimensionamento e a dessa razão em municípios com alta concentração dessa população.
Objetivos
Analisar a desatualização da razão entre número de equipes eCR e o total de pessoas em situação de rua nos 10 municípios brasileiros com maior PSR no período de 2015 a 2022.
Metodologia
Trata-se de estudo ecológico descritivo com dados secundários públicos. Selecionaram-se os 10 municípios com maior número de PSR, segundo relatório do MDHC (2023). Foram utilizados dados do CadÚnico (PSR) e do CNES/DATASUS (eCR). Calculou-se a razão entre o número de PSR por equipe eCR (PSR/eCR), comparando com a recomendação de uma equipe para cada 500 PSR. Para os anos com ausência de dados (2020–2022), manteve-se a quantidade de equipes do último ano registrado (2019) como estimativa.
Resultados
Em 2022, todos os municípios, exceto Curitiba, apresentaram razão superior a 1, indicando mais PSR por equipe do que o recomendado. Fortaleza liderou com razão de 10,58 (10 vezes acima do ideal). Salvador teve a maior variação, passando de 0,21 em 2015 para 4,19 em 2022, um aumento de 19,6 vezes. Houve ausência de dados CNES entre 2020 e 2022 para a maioria dos municípios, comprometendo o acompanhamento atualizado e dificultando a resposta das políticas públicas. Os achados apontam desatualização sistêmica e subdimensionamento estrutural das equipes eCR diante do crescimento da PSR.
Conclusões/Considerações
A proporção de equipes eCR por PSR está desatualizada frente ao aumento expressivo da população em situação de rua. A ausência de dados recentes e a defasagem na cobertura das eCR comprometem o cuidado e a efetividade das políticas públicas. É urgente revisar os critérios de financiamento, ampliar equipes e garantir sistemas de informação contínuos para enfrentar as vulnerabilidades da PSR com equidade.
REFLEXÃO E AÇÃO SOBRE INIQUIDADES CONSIDERANDO RAÇA, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Fenf Unicamp
2 EERP USP
3 PUC Campinas
Apresentação/Introdução
Iniquidade em saúde é uma desigualdade evitável, injusta e desnecessária. É preciso identificar e desvelar as vulnerabilidades, a fim de criar estratégias efetivas de atenção à saúde para garantir o direito universal, integral e equânime. Neste contexto, a Educação Permanente em Saúde é uma estratégia para modificação da prática a partir do processo de reflexão-ação no trabalho.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi qualificar o cuidado de grupos vulnerabilizados por raça, gênero e condição sexual, a partir da estratégia educativa problematizadora dos círculos de cultura, com trabalhadores da saúde, no contexto da Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
O estudo propôs abordagem metodológica qualitativa do tipo pesquisa participativa, apoiada no referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. Foram realizados Círculos de Cultura sobre vulnerabilidades e o cuidado à saúde de grupos minorizados combinada com a aplicação de questionário que busca identificar saberes prévios e perspectivas da população do estudo sobre as políticas de equidade e as formas de opressão. Foi realizado em dois serviços de atenção primária de uma cidade no interior de São Paulo, selecionados considerando os piores indicadores de saúde e vulnerabilidade. Os sujeitos do estudo foram os trabalhadores das equipes multiprofissionais destes serviços.
Resultados
O círculo de cultura mostrou-se uma estratégia adequada para o desenvolvimento de uma Educação Permanente em Saúde transformadora. As categorias oriundas de sua análise foram: Reconhecimento das vulnerabilidades e a necessidade de superar análises superficiais; Violência de gênero e sexual: a opressão invisibilizada de geração em geração; Racismo: uma realidade apagada; Quem cuida da população LGBTQIAPN+?; Círculos de Cultura e Educação Permanente em Saúde para o cuidado de grupos vulnerabilizados: do Reconhecimento à Reparação.
Conclusões/Considerações
Sugere-se que a estratégia seja reproduzida nas diferentes esferas do trabalho em saúde a fim de conduzir ao reconhecimento, rompimento, resistência e reparação de opressões. Dinâmicas estruturais que produzem dominações de consciência exigem métodos que rompam com os tradicionais e contribuam para a libertação do oprimido, construindo estratégias deles, com eles e não para eles.
EVOLUÇÃO DO ACESSO AO PRÉ-NATAL EM PERNAMBUCO: A ESCOLARIDADE MATERNA COMO MARCADOR DAS INIQUIDADES EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz-PE
2 UFPE
3 Fiocruz PE
Apresentação/Introdução
Acesso oportuno e adequado ao pré-natal é direito garantido e pilar da equidade em saúde. A persistência de iniquidades nesse cuidado reflete barreiras estruturais associadas aos determinantes sociais. A escolaridade materna constitui importante marcador dessas desigualdades e orienta a análise proposta neste estudo.
Objetivos
Analisar a evolução do acesso a sete ou mais consultas de pré-natal em Pernambuco entre 2011 e 2020, segundo a escolaridade materna, e identificar padrões de desigualdades associadas a esse determinante social da saúde.
Metodologia
Estudo ecológico com dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), abrangendo nascimentos de gestantes residentes em Pernambuco entre 2011 e 2020. O desfecho foi a realização de sete ou mais consultas de pré-natal. A tendência temporal foi avaliada por regressão por pontos de inflexão (Joinpoint). As desigualdades foram medidas por diferença, razão e Índice de Concentração (CIX), com representação gráfica por Equiplots. As análises foram realizadas nos softwares Joinpoint e Stata. A escolaridade materna foi utilizada como marcador da posição socioeconômica, permitindo avaliar a equidade no acesso ao cuidado pré-natal.
Resultados
Observou-se tendência crescente na realização de sete ou mais consultas de pré-natal em Pernambuco entre 2011 e 2020, com incremento anual médio de +3,6% (p<0,001). Apesar da expansão da cobertura, persistem desigualdades marcantes: mulheres sem escolaridade apresentaram 47,85% de cobertura, enquanto aquelas com 12 anos ou mais atingiram 78,15%. O Índice de Concentração (CIX=0,0979; p<0,001) indica que 9,79% do acesso concentra-se entre as mulheres com maior escolaridade. Os Equiplots evidenciam estabilidade das desigualdades ao longo do período analisado, sugerindo que os avanços no acesso não foram suficientes para reduzir as iniquidades estruturais associadas à escolaridade materna.
Conclusões/Considerações
As iniquidades educacionais no acesso ao pré-natal em Pernambuco evidenciam a persistência de barreiras estruturais que afetam a justiça social em saúde. A análise reforça a importância da incorporação sistemática de indicadores de equidade nos sistemas de monitoramento e formulação de políticas. É urgente fortalecer estratégias intersetoriais que promovam cuidado integral com base em direitos.
A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA BRASILEIRA: REFLEXÕES A PARTIR DO DECLÍNIO DE NASCIMENTOS NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Pôster Eletrônico
1 ICICT/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A transição demográfica no Brasil vem alcançando estabilidade no número de nascimentos e óbitos, mudando a estrutura etária social. Em duas décadas observou-se tendência de redução dos nascimentos, mas também o incremento de gestantes com maior número de consultas de pré-natal realizadas desde 2001. A implementação de políticas públicas estruturantes pode ter influenciado esse cenário?
Objetivos
Comparar a evolução de nascimentos nas duas últimas décadas com o número de consultas de pré-natal realizadas no país, considerando-se esse um dos modelos de atenção à saúde, e refletir sobre a influência de políticas estruturantes.
Metodologia
Estudo transversal do período de 2001 a 2023 para observação dos números de nascimentos no Brasil, ano a ano, e número de consultas de pré-natal. Para avaliação do acesso ao pré-natal, foram observadas as proporções nas seguintes categorias: nenhuma consulta, de uma a três consultas, de quatro a seis consultas, sete consultas ou mais e ignorado, quando não houvesse informação. Calculada a taxa de natalidade expressando o número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes. Dados obtidos na extração dos relatórios do Tabnet (DATASUS), atualizados em dezembro de 2024 e organizados em planilhas de cálculo com resultados demonstrados em gráficos.
Resultados
foram registrados mais de 66,5 milhões de nascimentos no país, variando de 3.115.474 (2001) a 2.537.576 (2023). A taxa de natalidade por 1.000 habitantes sofreu queda de 17,60 (2001) para 14,72 (2023), mostrando o decréscimo de 1,2 vezes. A categoria “nenhuma consulta de pré-natal” apresentou redução ao longo dos anos, variando de 4,37% (2001) a 1,40% (2023), enquanto a categoria “sete consultas ou mais” aumentou de 45,55% F2001) para 77,18% (2023). A proporção de ignorados evoluiu de forma positiva, diminuindo de 3,77% (2001) para 0,41% (2023).
Conclusões/Considerações
Os resultados ratificaram a percepção de queda no número de nascimentos no país e reafirmaram a ampliação de acesso à atenção pré-natal nos últimos 20 anos. A análise pode indicar melhorias na estrutura social quanto a serviços básicos mas apresenta limites quanto ao mapeamento das desigualdades no acesso, por exemplo, requerendo novos parâmetros de seleção e permitindo novas análises que colaborem para o entendimento desse fenômeno.
AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME NO BRASIL: AVANÇO E DESAFIOS PARA A EQUIDADE NO SUS
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
A trajetória da Doença Falciforme (DF) no Sistema Único de Saúde (SUS) expressa a interação entre lutas sociais, formulação de políticas públicas e o enfrentamento ao racismo como determinante social das iniquidades em saúde. A criação do SUS, embora tenha representado um marco de universalização, não resultou de imediato em políticas específicas para esta população, majoritariamente negra.
Objetivos
Mapear as principais ações institucionais voltadas à doença falciforme no SUS.
Metodologia
Com base em pesquisa bibliográfica e documental na Biblioteca Virtual em Saúde e na plataforma Gov.br do Ministério da Saúde, foi realizada a busca orientada pela pergunta: quais as principais ações institucionais no contexto do SUS que marcaram a luta pelo direito à saúde das pessoas com DF no Brasil?
Resultados
A partir dos anos 2001 a 2005, destacam-se avanços como a inclusão da DF no Programa Nacional de Triagem Neonatal, criação da SEPPIR e aprovação da hidroxiureia; além da instituição da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Entre 2006 e 2015, consolidou-se diretrizes clínicas e tecnologias como a criação de Conselho Técnico; reconhecimento da data de luta; inclusão da eletroforese de hemoglobina ao pré-natal e o ecodoppler transcraniano pelo SUS e manual de linha de cuidado. A partir de 2016, mesmo com retrocessos políticos, houve avanços como o transplante, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, notificação compulsória e atualização do Protocolo.
Conclusões/Considerações
Apesar dos avanços técnicos e normativos, permanecem desigualdades estruturais no acesso ao diagnóstico e à atenção especializada. O avanço técnico-científico não garante equidade sem o compromisso político, fortalecimento institucional e combate ao racismo. A efetividade das políticas voltadas à DF reafirma a importância da intersetorialidade, do investimento contínuo e participação social na promoção da saúde com justiça social e racial.
IMPACTO DO BOLSA FAMÍLIA SOBRE MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÕES NO BRASIL: RESULTADOS DE DUAS DÉCADAS DO PROGRAMA E PROJEÇÕES ATÉ 2030
Pôster Eletrônico
1 ISC-UFBA
2 FIOCRUZ
3 BNDES
Apresentação/Introdução
Em 2024, o Brasil comemorou o 20º aniversário do Programa Bolsa Família (PBF), um dos maiores e mais antigos programas de transferência condicionada de renda (PTC) do mundo, que abrange mais de 50 milhões de brasileiros. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de longo prazo do PBF e prever os potenciais efeitos da expansão deste programa até 2030.
Objetivos
Avaliar os efeitos do PBF nas taxas de mortalidade e hospitalização entre 2000 e 2019 e projetar os possíveis impactos na saúde até 2030, considerando cenários de expansão ou redução do programa.
Metodologia
Estudo quase-experimental em dois estágios, conduzido em 3.671—5.570 municípios brasileiros entre 2000–2030. No primeiro estágio (2000–2019), utilizamos modelos de Poisson com efeitos fixos e erros robustos, ajustados por diversos fatores, para estimar o impacto nas taxas de mortalidade e hospitalizações padronizadas por idade. As exposições foram cobertura do PBF, valor médio do benefício e sua interação. Análises de sensibilidade e triangulações—incluindo modelos de diferença-em-diferenças com pareamento por escore de propensão—foram conduzidos. No segundo estágio, integraram-se os resultados a modelos de microsimulação para estimar cenários de expansão do PBF até 2030.
Resultados
A alta cobertura do PBF foi associada a reduções significativas de 18% nas taxas gerais de mortalidade padronizadas por idade (razão de risco [RR]:0,82; intervalo de confiança [IC]95%:0,81–0,84). A alta adequação do PBF foi associada à redução na mortalidade geral de 15%(RR:0,85, IC 95%:0,83–0,87). Estima-se que o PBF preveniu mais de 8,2 milhões de hospitalizações (IC95%:8.192.730–8.257.014) e 713 mil mortes (IC95%:702.949–723.310) em 2004-19. Os maiores efeitos ocorreram na mortalidade infantil (33%) e hospitalizações em idosos (48%). A expansão do PBF até 2030 poderia evitar 8.046.079 hospitalizações e 683.721 mortes, em comparação com cenários de cobertura reduzida.
Conclusões/Considerações
O Bolsa Família contribuiu significativamente para a redução da morbimortalidade no Brasil, tendo prevenido milhões de hospitalizações e mortes nas últimas duas décadas. Em um contexto de múltiplas crises, ampliar a cobertura e os benefícios do PBF pode evitar milhões de mortes e hospitalizações adicionais, sendo uma estratégia central para alcançar a Meta 3 dos ODS da ONU.
IMPACTO DAS DESIGUALDADES RACIAIS EM INTERNAÇÕES POR DOENÇAS SOCIALMENTE DETERMINADAS NOS BIOMAS BRASILEIROS
Pôster Eletrônico
1 FURG
2 UFFS
3 UFAL
Apresentação/Introdução
As doenças socialmente determinadas atingem desproporcionalmente populações não brancas e podem ter distribuição desigual conforme biomas brasileiros, devido a suas características específicas. Investigar essas desigualdades permite revelar padrões regionais e étnico-raciais e apontar fatores que orientem políticas públicas mais eficazes.
Objetivos
Analisar as disparidades raciais nas internações por doenças socialmente determinadas nos biomas brasileiros, correlacionando raça/etnia, bioma e indicadores socioeconômicos.
Metodologia
Estudo ecológico com dados secundários do DATASUS (2018-2022). Foram analisadas internações por HIV, sífilis, tuberculose, hanseníase, hepatite B, malária e leishmaniose nas capitais agrupadas por biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. As internações foram estratificadas por raça/etnia (brancos e não brancos) e correlacionadas ao IDH das regiões. Foram calculados percentuais e riscos relativos (RR). Mapas temáticos foram elaborados com o QGIS 3.28.10 usando base cartográfica oficial.
Resultados
HIV, sífilis e tuberculose concentraram-se na Mata Atlântica; hanseníase e leishmaniose na Amazônia; malária na Amazônia e Cerrado. Pessoas não brancas apresentaram riscos relativos mais elevados em quase todas as doenças e biomas, com destaque para tuberculose na Caatinga (RR=109,90) e leishmaniose (RR=116,11). A Caatinga e a Amazônia mostraram os maiores RRs, refletindo graves iniquidades sociais e raciais associadas aos contextos ambientais e econômicos locais.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam disparidades raciais marcantes nas internações por doenças socialmente determinadas, associadas às condições ambientais e socioeconômicas dos biomas. Se faz urgente e necessário implementar políticas públicas que integrem ações em saúde, infraestrutura e combate às desigualdades raciais para reduzir essas iniquidades e mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre populações vulneráveis.
BARREIRAS DE ACESSO À VACINAÇÃO CONTRA O HPV EM POPULAÇÕES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E DE GÊNERO: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Pôster Eletrônico
1 UNISANTOS
Apresentação/Introdução
O papilomavírus humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes, com mais de 200 tipos, dos quais ao menos 12 são oncogênicos. Apesar da vacina eficaz, populações em situação de vulnerabilidade social e de gênero enfrentam barreiras históricas no acesso à imunização, expressas na negligência institucional, ausência de dados e invisibilidade nas políticas.
Objetivos
Analisar as barreiras enfrentadas por populações socialmente vulnerabilizadas no acesso à vacinação contra o HPV, com ênfase em identidades de gênero dissidentes e desigualdades estruturais.
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Foram selecionados 10 artigos nacionais e internacionais, publicados entre 2014 e 2024, em português e inglês, nas bases SciELO, PubMed e BIREME. A seleção considerou estudos sobre vacinação contra o HPV, populações vulnerabilizadas e fatores estruturais de acesso à saúde. A análise seguiu leitura crítica e sistematização de aspectos relacionados a estigmas de gênero, acesso desigual aos serviços de saúde e lacunas nos dados epidemiológicos.
Resultados
Estudos apontam que pessoas em vulnerabilidade social e com identidades de gênero dissidentes enfrentam obstáculos significativos no acesso à vacina contra o HPV. Embora o Programa Nacional de Imunização inclua grupos prioritários, como adolescentes de 9 a 14 anos, pessoas imunocomprometidas, vítimas de violência sexual e usuárias de PrEP, a baixa cobertura revela invisibilidade, ausência de políticas específicas, despreparo dos serviços e estigmas institucionais, o que reforça as iniquidades e dificulta o enfrentamento da infecção.
Conclusões/Considerações
As desigualdades sociais e de gênero limitam o acesso à imunização contra o HPV em grupos historicamente marginalizados. É urgente fortalecer políticas públicas inclusivas, estratégias intersetoriais e formação profissional voltada à equidade. A ampliação do acesso a imunização deste grupo é essencial para reduzir os impactos do HPV e avançar no enfrentamento do câncer relacionado ao vírus.
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS MATERNAS ASSOCIADAS A UM ATENDIMENTO PRÉ-NATAL ADEQUADO - PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE (PNS) DE 2019
Pôster Eletrônico
1 UNIRIO
2
Apresentação/Introdução
O pré-natal adequado é essencial para a saúde materno-infantil, mas sua implementação é influenciada por determinantes sociodemográficos. Embora o SUS assegure o acesso universal à saúde, persistem iniquidades na qualidade desse acompanhamento, especialmente entre populações vulneráveis. Entender os determinantes que caracterizam está vulnerabilidade pode subsidiar e orientar políticas públicas.
Objetivos
Analisar as características sociodemográficas maternas associadas à realização de um pré-natal adequado de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019.
Metodologia
Estudo transversal com dados da PNS 2019, incluindo mães que tiveram parto entre 28/07/2017 e a data da entrevista, com pelo menos uma consulta pré-natal. A variável resposta foi a adequação do pré-natal, considerando início até a 12ª semana, seis ou mais consultas, parto na maternidade indicada e realização dos exames essenciais, concomitantemente. As variáveis explicativas incluíram faixa etária, raça/cor, escolaridade, situação conjugal, região, trabalho remunerado e realização no SUS. Foi realizada análise descritiva por meio de tabelas de contingência e estimou-se razões de prevalência por modelo quasi-poisson, com ponderação e desenho amostral, utilizando o pacote survey do R.
Resultados
A prevalência de pré-natal adequado foi de 46,08%, sendo significativamente maior entre gestantes de 20 a 34 anos (RP = 2,19) e de 35 anos ou mais (RP = 2,58), em comparação àquelas menos de 20 anos, Brancas ou Amarelas (RP = 1,20), em relação à Pretas, Pardas e Indígenas, com maior escolaridade (Ensino Médio – RP = 3,53; Ensino Superior – RP = 5,20), em comparação às que tinham até o Ensino Fundamental completo, entre gestantes com companheiro (RP = 1,38), que não realizaram consultas pré-natal no SUS (RP = 1,43), com trabalho remunerado (RP=1,24) e residentes nas regiões no Sul (RP=1,37) e Sudeste (RP=1,38) em comparação ao Nordeste.
Conclusões/Considerações
O pré-natal adequado está associado a fatores sociodemográficos que influenciam o acesso a uma atenção de qualidade. É essencial elaborar estratégias que garantam o acompanhamento apropriado de gestantes em situação de vulnerabilidade, promovendo a integralidade e a equidade no cuidado gestacional no país.
STATUS DAS DIMENSÕES ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DAS POLÍTICAS PRÓ ODS-2030 SEGUNDO CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO BRASIL (2017–2024)
Pôster Eletrônico
1 Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP-USP)
2 Curso de Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP-USP)
3 Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo (Saúde-PMSP)
Apresentação/Introdução
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) reúnem um conjunto de 17 metas e 169 indicadores, até 2030, com a finalidade de reduzir desigualdades e promover desenvolvimento amplo e sustentável intra e entre países. As dimensões econômicas, sociais e ambientais representam eixos virtuais embutidos nos ODS e são aspectos relevantes para a análise do desempenho das gestões municipais no Brasil
Objetivos
Analisar os efeitos das políticas públicas alinhadas aos ODS, estratificados por dimensões virtuais econômicas, sociais e ambientais, segundo a orientação política observada na gestão municipal no período entre 2017 e 2024
Metodologia
Agregamos dados do Índice de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis (IDCS), que estima o desempenho das políticas públicas pró ODS; da pesquisa MUNIC e do Censo 2021, do IBGE; e do resultado das eleições municipais, do TSE. Elaboramos a trajetória composta das gestões municipais entre 2017 e 2024 com base na classificação ideológica do partido do prefeito. Calculamos os valores do IDSC entre as dimensões econômica (DE), social (DS) e ambiental (DA) e estratificamos os resultados de cada dimensão segundo a classificação política integrada da gestão municipal. Em 2024, espera-se que o IDSC esteja em 60% da meta ODS 2030. As análises foram realizadas no pacote estatístico Stata®, versão 15.1
Resultados
No Brasil, o escore médio global de implementação das políticas pró ODS 2030 atingiu 48,5%. Em 2024, a implementação das políticas públicas pró ODS alcançou 45,4%, 43,6%, 55,8%, nas dimensões econômica, social e ambiental, respectivamente. A região Norte tem seu melhor desempenho na DE (43,4%); enquanto Nordeste (48,0%), Sudeste (63,1%), Sul (58,7%) e Centro-Oeste (59,5%), alcançaram o melhor desempenho na DA. No espectro ideológico, da extrema direita (ED) até a extrema esquerda (EE), o melhor desempenho foi observado na DA. Nesta dimensão, Direita e ED alcançaram aproximadamente 60% da meta. Nas DE e DS, o desempenho médio ficou abaixo de 47% entre todos os perfis do espectro ideológico
Conclusões/Considerações
As políticas públicas pró ODS objetivam reduzir desigualdades entre e intra países. No Brasil, o avanço dessas políticas está caracterizado pelo reforço do padrão de desigualdades regionais. Os valores elevados observados na DA sugerem baixa efetividade da implementação e desempenho das políticas de base econômica e social no período analisado. O aumento da coordenação nacional na implementação das ODS é fundamental para atingir as metas em 2030
DIRETRIZES DE EQUIDADE NOS PLANOS DE SAÚDE DOS ESTADOS BRASILEIROS NO PERÍODO DE 2020-2023: UM ESTUDO COMPARATIVO
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós - graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Juiz de Fora – PPgSC – UFJF
Apresentação/Introdução
Equidade é diretriz do SUS, deve estar presente nas políticas assegurando o direito à saúde, diante das persistentes desigualdades sociais. Planos de Saúde, nacional e estaduais, são instrumentos que explicitam compromissos de acesso aos serviços de saúde. Importante compreender como unidade federativa incorporam a equidade, considerando especificidades locais e demandas das populações.
Objetivos
Analisar comparativamente os planos de saúde estaduais e do Distrito Federal no período de 2020 a 2023, com foco nas diretrizes que tratam da promoção da equidade em saúde.
Metodologia
Pesquisa documental dos Planos de Saúde Estaduais (27) e Distrito Federal (2020–2023). Para análise e interpretação das diretrizes de equidade, tomou-se como critérios a literatura e o Plano Nacional de Saúde. Categorias definidas representativas da equidade: equidade racial, de gênero, populações vulneráveis, pessoas com HIV e ações de avaliação e monitoramento. Ajustes contínuos foram realizados à medida que novas categorias surgiram. Foi utilizada codificação axial e matriz comparativa entre os planos estaduais. Após codificação foi identificada a categoria pessoas com doenças raras. Os indicadores apresentados nos planos de saúde foram analisados e agrupados segundo as categorias.
Resultados
Diversidade de indicadores de equidade. Equidade de populações vulneráveis, gênero e HIV/doenças raras presentes na maioria dos planos. A PB maior número de indicadores de equidade, seguido por PE e RS. Já SC, PI, AP e MA focaram na equidade de gênero. PB se destacou em indicadores de equidade racial; PA em gênero; PE em populações vulneráveis; CE em pessoas com HIV e doenças raras. RJ e SP abordaram várias categorias. Apenas PR e PI previram avaliação e monitoramento. Equidade de gênero e populações vulneráveis foco em AL, BA, MT, DF, MG e ES. Equidade racial presente no PR, MS, PB, AC e RJ. Apenas equidade de gênero em SC, AP,MA e PI. Nenhum estado contemplou todas as categorias.
Conclusões/Considerações
Planos Estaduais de Saúde revelaram diversidade de abordagens da equidade com a definição de indicadores que avaliarão a promoção de políticas equitativas. No entanto, a falta de clareza de conceitos e aspectos que possam abarcar onde a equidade se manifesta, além de diretrizes específicas para os grupos, compromete a escolha dos indicadores e metas e, o efetivo monitoramento ações, embora alguns estados tenham se destacado.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA, NO BRASIL, NO PERÍODO DE 1990 A 2021
Pôster Eletrônico
1 IAM/Fiocruz-PE
2 Ministério da Saúde
3 ICICT/Fiocruz
Apresentação/Introdução
A produção científica sobre atividade física (AF) e saúde cresceu desde a década de 1950, quando surgiu os primeiros estudos epidemiológicos. Em relação ao comportamento sedentário (CS), a pesquisa ganhou destaque no final dos anos 1990, expandindo-se nas décadas seguintes. Ambos os comportamentos são fundamentais para a saúde pública, pela relevância na promoção da saúde e prevenção de doenças.
Objetivos
Analisar a evolução da produção científica sobre atividade física e comportamento sedentário no campo da saúde coletiva no Brasil, no período de 1990 a 2021.
Metodologia
Revisão sistematizada com análise de rede de citação, composta por quatro etapas: 1) identificação dos cinco autores mais produtivos na área de AF e saúde - sementes do estudo; 2) seleção dos artigos mais citados a partir das sementes, com quatro níveis de amostragem – escolha dos três artigos mais citados de cada referência do nível anterior; 3) classificação dos artigos em categorias temáticas da AF e/ou CS, e extração de informações sobre políticas públicas que inseriram a AF no Sistema Único de Saúde (SUS), com base em documentos oficiais do Ministério da Saúde e artigos disponíveis no Google Acadêmico; 4) realização de análises com os softwares Excel, RBD Analysis, NetDraw e Gephi 10.1.
Resultados
Ao todo, foram incluídos 403 artigos originais, dos quais cinco qualitativos não se enquadraram nas categorias temáticas de AF e/ou CS. Os 398 artigos restantes foram classificados em cinco categorias principais: determinantes (n=179), resultados para a saúde (n=101), níveis, medidas e tendências (n=91), intervenções (n=16) e políticas públicas (n=11). As linhas do tempo construídas a partir dos artigos e documentos governamentais evidenciaram uma evolução significativa do conhecimento científico sobre AF e CS no Brasil, acompanhada pelo desenvolvimento de ações, programas e políticas públicas voltadas à promoção da atividade física e à redução do comportamento sedentário no âmbito do SUS.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que, embora haja uma concentração de publicações em determinadas temáticas, ainda é evidente a necessidade de fortalecimento de estudos voltados às políticas públicas e às intervenções. Superar esse desafio é essencial para subsidiar a formulação de estratégias eficazes de promoção da AF e redução do CS, contribuindo para modos de vida mais saudáveis e para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.
ANÁLISE COMPARATIVA DA MORTALIDADE MATERNA ENTRE BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO, CAPITAL E MUNICÍPIO DE ARARAS DE 2013 A 2023: PERFIS E DESIGUALDADES
Pôster Eletrônico
1 Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
Apresentação/Introdução
A mortalidade materna refere-se ao falecimento de uma mulher durante a gravidez, no momento do parto ou até 42 dias após o encerramento da gestação, decorrente de causas relacionadas ou agravadas pela gravidez ou por intervenções realizadas em seu contexto. Compreender os fatores envolvidos nesses óbitos é fundamental para fortalecer as estratégias de prevenção e qualificar o cuidado materno.
Objetivos
Analisar as séries temporais de razão de mortalidade materna no Brasil, no estado e capital de São Paulo e no município Araras, no período entre 2013 a 2023.
Metodologia
Estudo ecológico de série temporal, analítico, sobre razão de mortalidade materna no Brasil, no estado e capital de São Paulo e no município Araras, no período entre 2013 a 2023. O cálculo da razão de mortalidade materna foi feito através das variáveis de óbito materno e nascidos vivos foram obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), repectivamente. Para análise temporal, utilizou-se o método Joinpoint. Por se tratar de dados secundários públicos, não foi necessário a aprovação do Comitê de Ética.
Resultados
De acordo com a análise de regressão, a série temporal da mortalidade materna no Brasil entre 2013 e 2023 indicou uma tendência estável, porém não significativa. No estado de São Paulo, identificou-se uma tendência ascendente (2013-2021)(APC = 6,49%; IC95%: 2,07–34,30), seguida por uma inflexão com redução expressiva (2021-2023)(APC = -24,78%; IC95%: -43,72 – -0,66). A cidade de São Paulo reproduziu esse comportamento, com elevação significativa de 6,14% (2013-2020)(IC95%: 1,60–15,27) e posterior queda de -20,70% (2020-2023)(IC95%: -36,55 – -8,36). Por outro lado, no município de Araras, a análise indicou um declínio médio de -26,36% ao ano ao longo de toda a série (IC95%: -62,45 – 45,62).
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou tendência estável da mortalidade materna no Brasil, com variações regionais importantes. O estado e a capital de São Paulo mostraram queda recente após anos de aumento. Em Araras, observou-se declínio, mas com alta imprecisão. Os achados reforçam a importância de políticas públicas direcionadas e vigilância contínua da saúde materna.
FORMAÇÃO DE CONGLOMERADOS MUNICIPAIS COM BASE NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALINHADAS AOS ODS 2030 NO BRASIL: UMA ABORDAGEM DE CLASSE LATENTE
Pôster Eletrônico
1 USP
2 Saúde-PMSP
Apresentação/Introdução
A Agenda 2030 propõe um modelo sustentável de desenvolvimento. No Brasil, a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) enfrentou a ausência inicial de coordenação nacional, refletindo desigualdades históricas, capacidade institucional desigual e ausência de articulação federativa. Tais disparidades comprometem a efetividade das metas no território nacional.
Objetivos
Descrever os perfis municipais de políticas públicas voltadas aos ODS no Brasil via análise de classes latentes, identificando agrupamentos virtuais de municípios com base na contiguidade da execução das políticas.
Metodologia
Estudo quantitativo com dados públicos do Índice de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis (IDCS). Foi aplicada Análise de Classes Latentes (LCA) para identificar conglomerados municipais com base na implementação dos 17 ODS. O número ótimo de classes foi determinado pela entropia (0,93). Os conglomerados virtuais foram georreferenciados para maior clareza da distribuição nacional de cada perfil. As análises foram conduzidas no software Stata® 15.1.
Resultados
Foram identificados seis conglomerados com distintas configurações regionais, socioeconômicas ou demográficas, segundo o perfil de políticas públicas implementadas. O conglomerado 6, presente em capitais e áreas mais desenvolvidas, apresentou o melhor desempenho no Escore Global do IDSC (EG-IDSC 55,6%) e maior diversidade de ODS implementadas, seguido pelo conglomerado 4 (EG-IDSC 54,3%), presente majoritariamente nos municípios da região Sul e Sudeste. Em contraste, o conglomerado 1, predominante na Região Norte, obteve o menor desempenho (EG-IDSC 38,3%). Os ODS 2, 5, 9, 15 e 17 não alcançaram 50% de cumprimento em nenhum conglomerado.
Conclusões/Considerações
O Brasil apresenta desigualdades marcantes na implementação dos ODS, com padrões associados à capacidade institucional e aos recursos dos municípios e regiões. A ausência de coordenação nacional e a priorização desigual entre metas compromete o objetivo de promover desenvolvimento com redução de desigualdades regionais. O alcance equitativo da Agenda 2030 exigirá a aceleração de políticas integradas e estratégias específicas por território.
CERVICAL CANCER KNOWLEDGE AND SCREENING PRACTICE IN AFRICAN SUB-SAHARAN WOMEN: SOCIOECONOMIC INEQUALITY AND DETERMINANTS.
Pôster Eletrônico
1 Gertrude H. Sergievsky Center, Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University Irving Medical Center, New York, USA
2 Deaprtment of Environmental Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA
3 Department of Epidemiology, School of Public Health, University of São Paulo, SP, Brazil
Apresentação/Introdução
Introduction: Cervical cancer is a major public health issue in Sub-Saharan Africa, with low screening adherence and limited knowledge about the disease. This study assesses socioeconomic inequalities in knowledge and practice of cervical cancer screening among women aged 30 to 49 in six countries in the region.
Objetivos
Objective: To evaluate socioeconomic inequalities in knowledge and practice of cervical cancer screening and identify associated determinants.
Metodologia
Methods: A cross-sectional study using data from Demographic and Health Surveys (DHS) conducted between 2017 and 2022 in Benin, Cameroon, Gabon, Madagascar, Mauritania, and Mozambique, including 24,063 women. The outcome combined knowledge and screening practice into four categories. The concentration index (CIX) assessed socioeconomic inequalities, and multinomial logistic regression estimated adjusted proportions for explanatory variables (education, income, HIV testing, media exposure, among others).
Resultados
Results: Gabon had the highest proportion of women with both knowledge and screening (20.3%), while Benin and Mauritania had the lowest (0.8% and 0.6%). Most women in Benin (90.1%), Madagascar (61.9%), and Mozambique (60.9%) had neither knowledge nor screening. Knowledge and screening were concentrated among wealthier, more educated, and HIV-tested women (positive CIX). Among women without knowledge but screened, 90% had undergone HIV testing.
Conclusões/Considerações
Conclusion: The high proportion of women lacking knowledge and unscreened highlights the need for targeted public health strategies, such as community education and integration with HIV programs, to reduce inequalities in screening access.
TECNOLOGIAS EM SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: REVISÃO NARRATIVA
Pôster Eletrônico
1 ESPDF
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua enfrenta múltiplas vulnerabilidades que dificultam o acesso à saúde, agravadas por desigualdades estruturais, uso de substâncias e escassez de políticas públicas efetivas. Diante do crescimento desse grupo no Brasil e da complexidade de suas necessidades, torna-se fundamental compreender como as tecnologias em saúde são mobilizadas para promover o cuidado integral.
Objetivos
Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre o uso das tecnologias no cuidado integral à população em situação de rua.
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa, com abordagem qualitativa, realizada nas bases PubMed, LILACS/BVS, EBSCO e CINAHL. Foram incluídos estudos originais, com acesso aberto, no período de 2009 a 2024. A busca utilizou os descritores “tecnologias em saúde” e “população em situação de rua” (DeCS/MeSH), com operadores booleanos. Após a análise de títulos, resumos e textos completos, foram selecionados 12 artigos. O referencial teórico adotado foi a concepção de tecnologias em saúde de Merhy que as classifica em leves, leve-duras e duras.
Resultados
A análise dos estudos revelou predominância de abordagens qualitativas, com diversidade metodológica. A partir da concepção de Merhy, os resultados foram agrupados em três dimensões: tecnologias leves, leve-duras e duras. As tecnologias leves, como escuta, acolhimento e vínculo, são fundamentais para o cuidado, mas carecem de sistematização e suporte institucional. As leve-duras envolvem planejamento, articulação intersetorial e protocolos que embora reconhecidos, são frágeis na prática. Já no campo das tecnologias duras são apontadas limitações estruturais, falta de insumos, transporte, baixo letramento digital, o que evidencia as iniquidades e compromete a continuidade do cuidado.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que a efetividade do cuidado à população em situação de rua depende da articulação entre diferentes tecnologias e da construção de políticas sensíveis às suas realidades e direitos. Destacam-se como potencialidades o fortalecimento dos vínculos e o planejamento intersetorial. Persistem como desafios as fragilidades na infraestrutura, a integração dos serviços, o investimento no letramento e na inclusão digital.
DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS EM SAÚDE: PADRÕES GLOBAIS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA (1994–2024)
Pôster Eletrônico
1 School of Public Health, University of São Paulo-Brazil, São Paulo, SP, Brazil
2 Faculdade de Medicina, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
3 Universidade Federal de Uberlândia: Uberlandia, MG, BR
4 Department of Environmental Medicine and Public Health, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, 10029,
Apresentação/Introdução
As desigualdades socioeconômicas em saúde são representam um desafio crítico para a saúde pública global, impactando a equidade e desenvolvimento sustentável. Análises cienciométricas abrangentes sobre tendências temporais, redes de colaboração e lacunas de conhecimento ainda são escassas.
Objetivos
Objetivo: mapear a produção científica global sobre desigualdades socioeconômicas em saúde entre 1994 e 2024.
Metodologia
Métodos: Estudo cienciométrico baseado nas diretrizes PRISMA, utilizando Web of Science, Scopus e PubMed. Foram incluídos 564 artigos originais após triagem. Análises bibliométricas, como redes de cocitação, Lei de Bradford e tendências temporais, foram realizadas com o software Bibliometrix (R).
Resultados
Resultados: A produção científica cresceu 14,6% ao ano (R² = 0,94), impulsionada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015) e pela pandemia de COVID-19. Colaborações internacionais (46% dos artigos) associaram-se a maior impacto (mediana de 24 citações vs. 13 em estudos nacionais). Periódicos como AIDS and Behavior e BMC Public Health concentraram 28,2% da produção. Predominaram quatro clusters temáticos: HIV/AIDS (32,1%), doenças crônicas (28,4%), COVID-19 (22,7%) e sistemas de saúde (17,8%). Autores de países de baixa e média renda (PBMR) representaram apenas 6,7% dos primeiros autores.
Conclusões/Considerações
Conclusão: A produção científica reflete desigualdades estruturais, com concentração em países de alta renda e sub-representação de PBMR. O foco em HIV/AIDS e COVID-19 diverge das necessidades de PBMR, onde doenças crônicas predominam. São necessárias reformas em financiamento, priorizando PBMR, infraestrutura de pesquisa local e políticas editoriais inclusivas.
HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL: AVANÇOS E RETROCESSOS
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ
2 Câmara dos Deputados
Apresentação/Introdução
A população negra no Brasil enfrenta históricas desigualdades em saúde, marcadas por fatores socioeconômicos e racismo (WERNECK, 2016). A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (2009) buscou mitigar essas disparidades (BRASIL, 2017). Este estudo analisa avanços e retrocessos dessas políticas desde o pós-abolição.
Objetivos
Analisar a evolução das políticas de saúde para a população negra no Brasil, com marcos históricos, avanços, desafios e retrocessos após o fim do ciclo progressista, focando na promoção da equidade racial no sistema de saúde
Metodologia
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, abrangendo documentos oficiais, artigos científicos e relatórios institucionais disponíveis em bases de dados acadêmicas e plataformas educacionais. A pesquisa incluiu fontes como o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), focalizando publicações relacionadas às políticas de saúde da população negra no Brasil.
Resultados
Apesar da criação da PNSIPN em 2009, sua efetivação enfrenta grandes desafios. Até 2018, apenas 30% dos municípios haviam incluído ações da política em seus planos de saúde (PAIM, 2018). Após o impeachment de Dilma Rousseff, o avanço de políticas neoliberais e conservadoras agravou o cenário, com cortes no orçamento da saúde, desmonte de programas sociais e enfraquecimento de espaços participativos (BATISTA et al., 2013). A população negra segue com piores indicadores de saúde que a população branca, evidenciando a permanência das desigualdades raciais (SANTOS, 2020).
Conclusões/Considerações
Apesar dos avanços com a PNSIPN, sua implementação segue limitada. A retração democrática e o desmonte de políticas públicas ampliaram desigualdades no acesso à saúde da população negra (OLIVEIRA, 2020). É urgente capacitar gestores, combater o racismo institucional e garantir recursos para uma atenção equânime.
DISPARIDADES NO CUIDADO PALIATIVO E INIQUIDADES RACIAIS E DE GÊNERO NA ONCOLOGIA: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA
Pôster Eletrônico
1 ENSP-FIOCRUZ
2 INCA-Instituto Nacional do Cancer e Ensp-Fiocruz
Apresentação/Introdução
A transição epidemiológica ampliou a carga de doenças crônicas como o câncer. Apesar de sua alta incidência, o acesso ao diagnóstico e tratamento é desigual, afetando sobretudo grupos socialmente vulnerabilizados, com destaque para a população negra. As barreiras estruturais agravam as iniquidades em saúde.
Objetivos
Analisar referencial teórico que aborda as disparidades raciais e de gênero no cuidado paliativo oncológico, evidenciando os impactos do racismo estrutural na assistência.
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com base em estudos científicos, artigos, documentos institucionais e políticas públicas, com ênfase na Política Nacional de Cuidados Paliativos (2024), no Boletim da Saúde da População Negra e em publicações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A análise crítica considerou marcadores sociais da diferença, como raça, classe e gênero, para compreender as lacunas assistenciais em oncologia e o papel dos cuidados paliativos diante das iniquidades.
Resultados
Estudos recentes apontam estadiamento tardio e menor sobrevida de mulheres negras diagnosticadas com câncer de colo de útero (7%) e de mama (30,1%). Ambas as neoplasias atingem o público feminino com elevadas taxas de incidência no Brasil, sendo o de mama o mais prevalente e o de colo de útero o terceiro. As iniquidades estão presentes em diferentes caminhos assistenciais, desde o diagnóstico tardio até o tratamento limitado. A Política Nacional de Cuidados Paliativos (2024) é um avanço na assistência, sendo importante avaliar o impacto do racismo estrutural na integralidade do cuidado
Conclusões/Considerações
As iniquidades no cuidado ao câncer revelam a urgência de estratégias intersetoriais e antirracistas na oncologia paliativa. O enfrentamento do racismo estrutural e a valorização de marcadores sociais são essenciais para assegurar cuidado humanizado e acessível a todos os usuários do SUS.
PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E USUÁRIOS DE DROGAS
Pôster Eletrônico
1 Polícia Penal do ES. Mestranda em Saúde Coletiva da Universidade do Espírito Santo
2 Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Apresentação/Introdução
O acesso à saúde pelas pessoas privadas de liberdade é tema delicado, considerando a precariedade das condições estruturais dos estabelecimentos penais, e complexo, por abranger diversos atores e especificidades do cárcere. Adentrar nesta temática significa compreender o contexto de desigualdade e vulnerabilidade dessa população e como políticas públicas, ou a falta delas, afetam estas pessoas.
Objetivos
Compreender a percepção dos profissionais de saúde de um hospital universitário a respeito da pessoa privada de liberdade e do usuário de álcool e outras drogas, analisando fatores facilitadores e dificultadores na oferta de cuidados a essas pessoas.
Metodologia
Estudo exploratório, descritivo, abordagem qualitativa de dados, através de entrevista individual, semiestruturada, gravada e posteriormente transcrita.
Cenário: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), vinculado a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória-ES, nos serviços ambulatoriais, cirúrgico e maternidade que atendem pessoas privadas de liberdade.
Participantes: 18 profissionais de saúde, ambos os sexos, formações variadas
Análise de conteúdo de Bardin (2011), por meio de desmembramento do texto transcrito em categorias (análise temática), evidenciando núcleos temáticos e sua frequência.
Referencial teórico: Vulnerabilidade em saúde, autor José Ricardo Ayres
Resultados
Os profissionais de saúde relatam que não faz diferença no atendimento se a pessoa é privada de liberdade. Parecem já ter incorporado na rotina de trabalho esse público.
Já para pacientes com uso abusivo de álcool e drogas, relatam não se sentirem preparados o suficiente, falta de conhecimento específico e segurança.
Fatores facilitadores no atendimento: caracterísiticas pessoais, como disposição, entrosamento da equipe e estrutura do hospital.
Dificultadores que mais impactam na atenção à saúde: escolta armada de policiais penais, presença ostensiva que interfere no sigilo e privacidade dos profissionais, dificuldade de continuidade do tratamento, principalmente para os usuários de drogas.
Conclusões/Considerações
A vulnerabilidade é uma condição humana multifacetada, moldada pela interação entre fatores individuais e sociais. Essa interação pode aumentar ou diminuir o risco de danos à saúde. Assim, políticas de promoção da saúde devem levar em conta as necessidades específicas de grupos vulneráveis, buscando soluções que valorizem a subjetividade e a intersubjetividade.
EVOLUÇÃO DAS CAUSAS DE MORTALIDADE PRECOCE NA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UM PANORAMA DAS UNIDADES FEDERATIVAS (2000-2023)
Pôster Eletrônico
1 UNIRIO
Apresentação/Introdução
A mortalidade precoce reflete vulnerabilidades sociais e fragilidades nas políticas públicas, impactando o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Este fenômeno se manifesta de regionalmente desigual no país de maneira que analisar a evolução dos Anos Potenciais de Vida Perdidos por grupos de causa no território nacional pode subsidiar políticas públicas que visem mitigá-las.
Objetivos
Descrever a evolução dos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) na população de 1 a 75 anos por Grupo de Causas no Brasil, segundo Unidades da Federação (UF), de 2000 a 2023.
Metodologia
Estudo ecológico com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Os óbitos foram agregados em faixas etárias de 1 a 4 até 70 a 74 anos e o APVP foi calculado pela diferença entre o ponto médio de cada faixa e 74,5 (idade limite de óbito precoce com correção de 0,5), multiplicando-se essa diferença pelo número de óbitos na faixa. Os APVP proporcionais foram obtidos pela razão entre a soma dos APVP por grupo de causa e o total anual por UF. As causas foram agrupadas em DCNT, Causas Externas, Infecciosas, Mal Definidas e Outras Causas. A evolução do indicador foi analisada por gráficos de áreas múltiplas, organizados segundo a posição geográfica das UFs, com uso do pacote geofacet, do R.
Resultados
Constatou-se melhora na qualidade dos dados, com queda expressiva das causas mal definidas ao longo do período, especialmente nos estados das regiões Norte e Nordeste, onde esta redução foi acompanhada por aumento das causas externas. As causas externas foram mais prevalentes nas UFs do Norte e Nordeste, com destaque para o Amapá, onde cerca de 50% dos APVPs se deveram a esse grupo em todo o período. Os APVPs por doenças crônicas não transmissíveis foram mais elevados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para São Paulo, onde, além de elevada, a proporção aumentou ao longo do tempo. A partir de 2020 observou-se um aumento agudo das causas infecciosas em todas as UFs.
Conclusões/Considerações
As desigualdades regionais na mortalidade precoce no Brasil evidenciam a necessidade de estratégias de saúde mais sensíveis às particularidades locais. Investimentos direcionados, considerando os diferentes perfis de risco e transições epidemiológicas nas regiões, são fundamentais para reduzir as iniquidades no acesso e na efetividade das políticas públicas voltadas à prevenção de mortes evitáveis.
DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE EM TEMPOS DE CRISE: UM PANORAMA DAS PERIFERIAS DE PORTO ALEGRE
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
2 SES/RS
Apresentação/Introdução
Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são fatores sociais, econômicos, ambientais, culturais e políticos que influenciam como as pessoas nascem, vivem e morrem. Porto Alegre tem um IDH de 0,805, mas suas zonas periféricas enfrentam vulnerabilidades estruturais, como falta de saneamento, moradia digna, segurança, transporte e acesso a serviços básicos, agravadas em contextos de crises sanitárias.
Objetivos
Esta pesquisa pretende apresentar os principais achados obtidos por meio de levantamento bibliográfico acerca das periferias da cidade, sendo esta parte de um projeto maior que investigará os efeitos da pandemia de Covid-19 em doze favelas do país.
Metodologia
Revisão narrativa fundamentada em trabalhos científicos. Os descritores empregados na busca foram ‘vila’, ‘periferia’ e ‘favela’, acrescidos de ‘Porto Alegre’. Como critério de inclusão, foram consideradas produções que tratam diretamente sobre a temática favelas em Porto Alegre, sem delimitação temporal, excluindo-se trabalhos fora desse escopo. Foram utilizadas fontes provenientes de repositórios institucionais das principais universidades locais (UFRGS, PUCRS, UFCSPA, UNISINOS e UERGS) e de bases de dados de abrangência nacional e internacional (SciELO, Web of Science, Scopus e Google Acadêmico).
Resultados
Foram selecionadas 202 referências que denunciam desafios relacionados à desinformação e estigmas associados à saúde, dificuldades no acesso e na qualidade da atenção básica, além de problemas estruturais persistentes. Apesar dessas adversidades, há forte mobilização comunitária, expressa em ações solidárias, movimentos sociais, fóruns populares, manifestações culturais e resistência política, com forte atuação de lideranças locais. Estes achados revelam a potência criativa e o protagonismo dessas populações, que reivindicam políticas públicas mais justas e o reconhecimento da centralidade de suas vidas e territórios na cidade.
Conclusões/Considerações
Os achados mostram que, apesar das desigualdades, as periferias de Porto Alegre são territórios de resistência e produção de saberes. Apontam a urgência de políticas intersetoriais e de ações no SUS que considerem os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e reconheçam o protagonismo das comunidades na construção de soluções sustentáveis. Os resultados subsidiam as próximas etapas do projeto sobre os impactos da Covid-19 nas favelas brasileiras.
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ÓBITOS MATERNOS E RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA POR RAÇA/COR NO ESTADO DE SÃO PAULO (2013–2023)
Pôster Eletrônico
1 Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
Apresentação/Introdução
A mortalidade materna reflete desigualdades sociais e falhas no cuidado à saúde da mulher. No Brasil, mulheres negras enfrentam maior risco de morte materna por causas evitáveis revelando o racismo estrutural nos serviços de saúde. Conhecer os determinantes desses óbitos é essencial para evitar novas perdas e garantir assistência de qualidade.
Objetivos
Estudar a mortalidade materna no estado de São Paulo entre 2013 e 2023, com foco no perfil socioeconômico e nas desigualdades raciais.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, de abordagem quantitativa e caráter descritivo, realizado com base em dados provenientes dos Sistemas de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Nascidos Vivos (SINASC) do estado de São Paulo, no período de 2013 a 2023. Foram incluídos dados sociodemográficas dos óbitos maternos, a saber: faixa etária, escolaridade, estado civil, local de ocorrência e causa do óbito. As informações foram organizadas em valores absolutos e percentuais. Para o cálculo da razão de mortalidade materna segundo raça/cor, considerou-se o total de nascidos vivos por ano. A razão específica por cor/raça subsidiou a elaboração da série temporal em gráfico.
Resultados
No estado de São Paulo, entre 2013 a 2023, a maioria dos óbitos maternos ocorreu em mulheres de 30 a 39 anos (47,55%), brancas (53,77%) e solteiras (47,12%). A maior parte destas mortes aconteceu no hospital (92,31%) e foi causada por morte materna obstétrica direta (55,32%). A razão de mortalidade materna em todo o período de 2013 a 2023 foi predominante nas mulheres de cor preta. Já a razão de mortalidade das mulheres brancas e pardas se apresenta semelhante até 2020, após este período há um aumento da mortalidade das mulheres brancas em relação às mulheres pardas até 2021. Ademais, observa-se que em 2020, houve o pico das razões de mortalidade materna em todas as raças/cor.
Conclusões/Considerações
A análise reforça que a mortalidade materna é um marcador de desigualdade social e racial. Enfrentar esse cenário exige ações estruturais, com enfoque intersetorial e compromisso com justiça reprodutiva, assegurando às mulheres o direito a uma gestação e partos seguros, independentemente de sua cor ou condição social.
ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES DURANTE A GESTAÇÃO E APÓS A GESTAÇÃO
Pôster Eletrônico
1 UFPB
Apresentação/Introdução
A qualidade de vida (QV) é a percepção do bem-estar físico, emocional, social e ambiental. Durante a gestação, essa percepção pode ser impactada por mudanças que ocorrem durante e após o parto. Alterações hormonais, desconfortos físicos, instabilidades emocionais e adaptações na nova rotina tornam essa fase desafiadora para a mulher.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo analisar os domínios da QV de mulheres residentes em João Pessoa, Paraíba, durante o período gestacional e no pós-parto.
Metodologia
Estudo de coorte prospectivo conduzido com 126 gestantes recrutadas em dez Unidades de Saúde da Família (USF) durante consultas de pré-natal. Foram realizadas duas coletas de dados com intervalos de seis meses, abrangendo o período gestacional e o pós-parto. A primeira coleta ocorreu na USF e a segunda no domicílio. Foram obtidas informações sociodemográficas, econômicas e sobre os domínios da QV (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente), avaliados por meio do instrumento WHOQOL-breve da Organização Mundial da Saúde. As mudanças nos escores dos domínios da QV das participantes foram analisadas pelo teste t pareado, com nível de significância de 5%.
Resultados
A idade média das participantes foi de 29 anos. A maioria se autodeclarou parda (55,6%), possuía ensino médio (61,1%), conviviam com algum companheiro (70,6%) e apresentava uma renda per capita mediana de 500,00 reais. Houve diferença nos escores médios dos domínios da QV avaliados em dois momentos distintos: durante a gestação e no período pós-gestacional. O domínio físico apresentou melhora no período pós-gestacional (M = 3,06; DP = 16,99). Por outro lado, os domínios psicológico e de relações sociais apresentaram redução nos escores, indicando uma piora na QV de vida das mulheres nesse período (M=-3,08; DP=12,33 e M=-3,64; DP=16,95, respectivamente).
Conclusões/Considerações
A QV das mulheres variou durante e após o período gestacional. Houve melhora do domínio físico. No entanto, os domínios psicológicos e relações sociais pioraram, indicando desafios emocionais e sociais após o nascimento do bebê. O período pós-gestacional é um momento delicado e desafiador e os dados demonstraram a necessidade de rede de apoio psicológico e social para promoção da saúde materna nesse período.
TRANSFORMACIÓN DE LOS MODOS DE VIDA Y LA SALUD DEL CAMPESINADO, EN RELACIÓN CON LAS RECONFIGURACIONES SOCIO-TERRITORIALES DE LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS
Pôster Eletrônico
1 Universidad de Antioquia
Apresentação/Introdução
Las profundas transformaciones económicas, sociales y ambientales que enfrenta la ruralidad, amenazan, sus modos de vida. Estos cambios influyen en la salud de las poblaciones, pero pueden ser modificados por la forma en que el campesinado vive, se adapta y genera salud desde sus propios territorios; situación de gran importancia para la salud pública en la determinación social de la salud.
Objetivos
Comprender las transformaciones en los modos de vida y la salud del campesinado, en relación con las reconfiguraciones socio-territoriales ocurridas en los ámbitos económico, político y cultural durante las últimas tres décadas en un municipio colombiano.
Metodologia
el estudio se realiza desde la metodología cualitativa, a través de un estudio de caso etnográfico, guiado por un enfoque epistemológico hermenéutico dialéctico, operativizado en un diseño metodológico que reconoce y valora la producción conjunta de conocimientos con los/ las participantes, que permite la comprensión de los modos de vida y la salud de las y los campesinos. Se usan técnicas etnográficas y participativas -entrevistas etnográficas, observación participante, cartografía/recorridos territoriales y revisión documental- que permitan una aproximación al fenómeno desde lo cultural, lo sociohistórico, y de una perspectiva dialéctica.
Resultados
El municipio ha enfrentado transformaciones en su ruralidad con la construcción de vías de acceso, construcción de central hidroeléctrica, y monocultivos a gran escala, entre otras, generado desplazamiento de los campesinos al sector urbano y desestimulado el trabajo agropecuario en las nuevas generaciones, además de ver amenazado su patrimonio ambiental e hídrico.
Quienes continúan viviendo en la ruralidad se reconocen como “campesinas/campesinos”, valoran su vínculo con la tierra y los lazos familiares, comunitarios y asociativos para el logro de sus propósitos de vida, que incluyen el desarrollo territorial sostenible y el cuidado mutuo para el bienestar físico y mental de la comunidad.
Conclusões/Considerações
El eco-régimen extractivista y la emergencia de los conflictos socioambientales generados por obras de infraestructura construidas en el municipio en estudio, han generado diversas problemáticas y contribuido a la transformación de los modos de vida campesinos, ante lo cual, las y los campesinos, apoyados en sus tradiciones, han reconfigurado sus modos de vida en respuesta a estas demandas y para el cuidado de la salud y la vida.
O ACESSO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM DOENÇA DE CHAGAS: UMA ANÁLISE RACIALIZADA
Pôster Eletrônico
1 CUIDA Chagas, INI, Fiocruz
2 (CUIDA Chagas, INI, Fiocruz; UFBA – IMS/CAT)
Apresentação/Introdução
O projeto CUIDA Chagas visa contribuir para a eliminação da transmissão vertical da doença de Chagas, ampliando acesso ao diagnóstico, tratamento e cuidado da doença, principalmente de mulheres em idade fértil (MIF) em quatro países na América Latina, inclusive no Brasil.
Objetivos
Analisar o perfil de mulheres em idade fértil do protocolo de implementação do projeto CUIDA Chagas no Brasil, considerando os recortes de raça/cor e suas possíveis relações no acesso ao diagnóstico e tratamento da doença de Chagas Crônica (DCC).
Metodologia
Estudo transversal, compondo o protocolo de implementação do projeto CUIDA Chagas, realizado em cinco municípios do Brasil, envolvendo MIF (mulheres de 10 a 49 anos) e a investigação da DCC a partir do uso de Teste Rápido (TR). Coletou-se dados sociodemográficos e clínicos em instrumentos específicos e inseridos na base de dados do REDCap®. Os dados foram racializados, considerando os recortes de renda e escolaridade no acesso das MIF ao diagnóstico e tratamento de DCC, por meio de métodos estatísticos. O período de análise foi de julho de 2023 a maio de 2025. Foram excluídas MIF que não declararam cor/raça e as declaradas indígenas para focalizar a categoria negra (pretas e pardas).
Resultados
Entre as MIF testadas, 78,9% declararam ser negras e 20,9% brancas. A maioria tinha ensino médio completo ou escolaridade superior: 59,8% negras e 65,6% brancas. A menor faixa de testagem são de MIF com ensino fundamental incompleto ou sem escolaridade: 19,1% negras e 15,1% brancas. Quanto à renda, 63,2% das negras ganham até R$1.500,00 e 4,5% sem renda, enquanto entre brancas, esses números são 44,9% e 2,9%. Entre as MIF com TR positivo encaminhadas para sorologia, 64,2% de negras (n=489) e 45,5% de brancas (n=145) coletaram sangue. Entre as MIF com confirmação de DC, 87% são negras e 10,3% brancas. O tratamento foi prescrito para apenas 18% das MIF negras, e para 50% das MIF brancas.
Conclusões/Considerações
Comparando MIF brancas e negras que fizeram TR, há similaridade em baixa escolaridade e renda, mas as negras superam em ausência ou pouca escolaridade e baixa renda familiar. Apesar de serem maioria em TR e diagnóstico positivo, apenas 18% das negras têm tratamento prescrito, enquanto entre brancas esse número é 50%. Estes fatores podem evidenciar um maior vulnerabilização socioeconômica de MIF negras em acessar o tratamento da DC.
“TEM QUE TER ENDEREÇO?”BARREIRAS INSTITUCIONAIS NO ACESSO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA AO SUS À LUZ DO DECRETO Nº 7.053/2009
Pôster Eletrônico
1 UFAM
2 UNASUS
3 HUGV
Apresentação/Introdução
A Constituição Federal garante o direito universal à saúde, porém pessoas em situação de rua continuam enfrentando barreiras institucionais de acesso ao SUS. A exigência de comprovante de endereço, prática recorrente em muitas unidades, contraria o Decreto nº 7.053/2009, que estabelece diretrizes para a inclusão dessa população nas políticas públicas.
Objetivos
Analisar, à luz do Decreto nº 7.053/2009, as barreiras institucionais relacionadas à exigência de endereço no acesso de pessoas em situação de rua aos serviços de saúde do SUS.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa documental com abordagem qualitativa, realizada entre março de 2024 e abril de 2025. Foram analisados o Decreto nº 7.053/2009, as Portarias MS nº 3.305/2009, nº 122/2011, nº 940/2011, nº 123/2012 e nº 1.253/2021, além das Resoluções CIT nº 2/2013 e nº 31/2017. Também foram incluídos o Manual sobre o Cuidado à Saúde da População em Situação de Rua (2012) e a Cartilha “Saúde da População em Situação de Rua: um direito humano” (2014). A análise temática utilizou as categorias: “Direito à saúde”, “Exigências cadastrais” e “Barreiras institucionais”.
Resultados
A análise revelou contradições entre os dispositivos normativos e a prática nas unidades do SUS. Embora o Decreto nº 7.053/2009 e as Portarias MS nº 940/2011 e nº 122/2011 garantam o acesso à saúde sem exigência de endereço, a prática ainda mantém barreiras administrativas em muitos serviços. As Resoluções CIT nº 2/2013 e nº 31/2017 e os documentos técnicos, como o Manual de Cuidado à População em Situação de Rua (2012) e a Cartilha de Direitos Humanos (2014), reforçam a necessidade de fluxos inclusivos, mas evidenciou-se lacuna na implementação local, formação dos profissionais e registro adequado dessa população nos sistemas de informação.
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidencia que a exigência indevida de endereço, mesmo contrariando o Decreto nº 7.053/2009 e os princípios do SUS, segue como barreira concreta ao acesso à saúde. Reforça-se a necessidade de ações de educação permanente, adequação dos fluxos assistenciais e fortalecimento da intersetorialidade para garantir o direito à saúde da população em situação de rua.
COLETIVO PONTO DE LUZ: UMA PERSPECTIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ENRAIZADA, AQUILOMBADA E COLETIVA, NOS DIZERES E FAZERES DA VIDA COTIDIANA DA POPULAÇÃO DE FAVELA
Pôster Eletrônico
1 Universidade federal fluminense
2 Universidade federal fluminense - UFF
Apresentação/Introdução
O estudo aborda experiências de promoção da saúde a partir das histórias do Coletivo Ponto de Luz, em Teresópolis/RJ. Um coletivo sociocultural que se caracteriza como movimento de resistência de favela e periferia. Destaca-se a importância da coletividade na construção de práticas de saúde que respeitem, valorizem e tragam visibilidade para as experiências e saberes destes territórios.
Objetivos
Narrar e fazer conhecer o cotidiano de insurgência e resistência do Coletivo que, em seu fazer disruptivo, mobiliza, cria e se envolve em estratégias de cuidado. Refletir sobre a potência desses espaços para Promoção da Saúde nas favelas e periferias
Metodologia
A escrita caminha pela escrevivência, como método criado por Conceição Evaristo, que possibilita usar de si para dar luz a uma perspectiva singular e coletiva (de mulheres negras). Em forma de enfrentamento, busca-se experiências de vida, na construção cotidiana e pedagógica dos encontros, das encruzilhadas, onde se promove saúde no viver. Assim, como parte do reconhecimento em diáspora dos fazeres coletivos, das culturas de favela e periférica, são traçados caminhos possíveis para potencializar a vida. Na convocação do “ser” para afirmação de um caminho, o encantamento se faz e a arte vem em sonho: a arte de contar, escrever, poetizar e pintar pedras. Sentir a poesia como parte da luta.
Resultados
A falta de representatividade positiva da juventude periférica e de favela, o peso das repressões e abandono do Estado fizeram com que laços de proteção, solidariedade, união e comunidade se encontrassem nas relações de afeto, dando corpo ao Coletivo. O que une é a troca, o pertencimento, a identidade, o movimento e a força que circula na construção de caminhos para a transformação da realidade, buscando o protagonismo de suas histórias. Entre determinação social e determinismo, o que difere é a cena que se quer ver. A realidade é complexa e o intervir insurge a partir dos encontros. Promover saúde é (re)existência e transgressão à realidade imposta.
Conclusões/Considerações
Destaque para o risco de simplificar as histórias e narrativas de um povo, de um território. É preciso ultrapassar ideias estereotipadas e preconceituosas sobre os jovens de favelas e periferias, que criam imaginário distorcido de escassez. O Coletivo Ponto de Luz valoriza a diversidade, a multiculturalidade, a ancestralidade e o potencial de produção de vida, rompendo o silenciamento e a invisibilização dos corpos e histórias da juventude.
CONCEPÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DE EQUIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Juiz de Fora
Apresentação/Introdução
A pesquisa teve como foco problematizar a noção de equidade, mobilizada com destaque pelo Ministério de Saúde, a partir de uma retomada histórica das discussões vigentes durante a Reforma Sanitária brasileira.
Objetivos
Mapeamento e analise das concepções acerca do conceito de equidade no SUS e seus antecedentes.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa (Minayo, 2009), envolvendo etapas de revisão sistemática da literatura, análise documental e entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos diretamente na formulação e/ou execução de políticas públicas de saúde, desde o ano de criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976, até o lançamento do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde (SUS), em 2013.
Resultados
A análise das entrevistas revela que durante a Reforma Sanitária a concepção de equidade estava fortemente vinculada à luta por universalidade, democracia e justiça social, priorizando o acesso igualitário à saúde como direito de cidadania. Inicialmente, equidade era entendida como igualdade substantiva, inspirada por demandas de movimentos sociais e pela ideia de bem-estar coletivo. Com o avanço do SUS e a influência de organismos internacionais nos anos 1990, o termo passou a ser incorporado de modo mais restrito, sobretudo na interface com a universalidade. Destacam-se ambiguidades e desafios: a equidade oscila entre uma perspectiva ética de justiça social e uma abordagem tecnocrática de alocação de recursos, permanecendo em disputa entre universalidade e focalização.
Conclusões/Considerações
Historicamente a luta pela democracia e universalidade do acesso à saúde estiveram no centro das demandas por justiça e saúde. A equidade como aspecto central de estratégias revela a incorporação de uma agenda que opera ora em consenso, ora em disputa com a agenda pela universalização.
MENSURAÇÃO DE NÍVEIS DE LITERACIA PARA A SAÚDE: PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 ICICT Fiocruz
2 Unirio
Apresentação/Introdução
Literacia para a Saúde (LS) dos indivíduos são as habilidades e competências frente à elaboração e tomada de decisão no processo saúde-doença, sendo um potente constructo para a saúde coletiva. Devido a falta de um instrumento de mensuração de LS brasileiro, avanços nas avaliações e reflexões acerca dos instrumentos existentes podem subsidiar o desenvolvimento de uma ferramenta brasileira.
Objetivos
Realizar mapeamento dos instrumentos utilizados para mensurar a LS, até o momento, através de uma revisão de escopo.
Metodologia
Será utilizado protocolo do Instituto Joanna Briggs (JBI) e PRISMA ScR. Bases incluídas:Scielo.org,Pubmed,Scopus,BVS e Web of Science. Serão selecionados artigos que englobam instrumentos de mensuração da LS em uma visão que se aproxima da definição compreensiva do Consórcio Europeu de Literacia para a Saúde. A seleção será realizada por dois pesquisadores de forma independente, através da leitura de título e resumo, a priori.
Resultados
Serão utilizados os termos a seguir, bem como seus equivalentes e variantes em português e espanhol, “Health Literacy (MeSH)”, “Functional Health Literacy” e “Information Literacy (MeSH)” com o booleano OR; “Surveys and Questionnaires (MeSH)” com o booleano AND. Segundo pesquisa inicial nas bases, foi encontrado o seguinte quantitativo de estudos: Scielo.org (6), BVS (3464) com termos em português e espanhol; Pubmed (4173),Scopus (10548), e Web of Science (63): com termos em inglês. Este resultado será refinado em etapas posteriores da revisão.
Conclusões/Considerações
Estruturar a literatura através de revisões torna-se estratégico, pois pode direcionar ações efetivas no campo da saúde. Com esta revisão de escopo espera-se subsidiar parte do desenvolvimento de uma versão preliminar de um instrumento brasileiro de mensuração de LS, o que poderá construir indicadores de LS mais condizentes com a realidade nacional e por conseguinte, ações voltadas para seu desenvolvimento e fortalecimento.
ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA HABITAÇÃO SAUDÁVEL NA ZONA RURAL: ESTUDO EM UM ASSENTAMENTO DE CÁCERES, MATO GROSSO
Pôster Eletrônico
1 IFMT
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
Historicamente, a habitação na zona rural apresenta condições precárias e carência de infraestrutura básica. A metodologia de Habitação Saudável permite identificar aspectos insalubres presentes tanto no ambiente construído (residência) quanto no entorno (quintal, comunidade), os quais afetam a saúde humana. A intervenção nesses fatores contribui para a melhoria dos indicadores de saúde.
Objetivos
Descrever as especificidades das moradias de assentados rurais de Cáceres, Mato Grosso, sob a perspectiva da habitação saudável, propondo soluções adaptadas à realidade local.
Metodologia
Pesquisa mista, composta por análise descritiva dos dados quantitativos e Análise do Discurso dos dados qualitativos, fundamentada no referencial de Habitação Saudável da OMS. Entrevistou-se 85 moradores de um assentamento rural em Cáceres, Mato Grosso, de setembro a dezembro de 2023. Utilizou-se um formulário semiestruturado, com questões predominantemente fechadas, abordando aspectos do modo de vida, meio ambiente, inclusive moradia. Investigou-se a percepção dos assentados sobre os elementos de sua moradia que protegiam e/ou prejudicavam sua saúde. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, sob parecer nº 6.289.370, de 08 de setembro de 2023.
Resultados
Na moradia, faltam saneamento básico (coleta e tratamento de esgoto, de lixo, abastecimento de água potável). Soluções como fossa séptica biodigestora,Jardim filtrante, entrega de resíduos sólidos para reciclagem, compostagem e sistema de cloração manual de água devem ser estimulados na zona rural. A escolha do local da habitação no lote também influencia na saúde, evita enchentes e contaminações por materiais biológicos. No interior da casa, destacam-se medidas de conforto térmico (mantas, janelas, arborização), acessibilidade para idosos e adaptações para produção artesanal de alimentos (pão, bolacha, queijo).
Conclusões/Considerações
A habitação rural é abrigo e, muitas vezes, espaço de produção artesanal. A simplicidade das moradias não deve ser sinônimo de ausência de planejamento. Os assentados necessitam de apoio para projetar residências funcionais, adaptáveis ao longo da vida, que favoreçam a saúde e previnam doenças. A aplicação da metodologia de Habitação Saudável mostrou-se essencial para identificar fatores prejudiciais à saúde e que demandam intervenção.
HANSENÍASE SEGUNDO COR E PERTENCIMENTO ÉTNICO: ANÁLISE TEMPORAL E REFLEXÕES PARA A ENFERMAGEM
Pôster Eletrônico
1 UFPA
2 UFMA
3 UNB
Apresentação/Introdução
No âmbito do território de atuação, o enfermeiro pode contribuir mitigar as disparidades relacionadas a cor e pertencimento étnico através da identificação dos grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, identificando as necessidades de intervenções, com responsabilidade pela continuidade do cuidado.
Objetivos
analisar a distribuição temporal dos casos novos de hanseníase por etnia/cor da pele na Região Norte no período de 2004 a 2024.
Metodologia
Estudo ecológico, de tendência temporal, realizado com dados dos sete (07) estados da região Norte do Brasil. Foram consideradas unidades de análise o ano e o estado. Os dados foram coletados entre os meses de março e abril de 2025. Todos os casos novos de hanseníase notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre residentes dos sete (07) estados que compõem a região Norte do Brasil. As variáveis foram obtidas do SINAN, sendo extraídas por estado de residência: casos novos de hanseníase, sexo, ano, cor/raça, classificação da forma clínica, ano do diagnóstico.
Resultados
Na região Norte do Brasil, entre 2004 a 2024, a tendência na proporção de casos novos de hanseíanse foi crescente entre as pessoas autodeclaradas indígenas. Entre os autodeclarados pretos, a tendência foi crescente entre 2020 a 2024. Entre as pessoas brancas a tendência de casos de hanseníase foi decrescente ao longo dos anos. Entre os estados, a tendência foi variável, mas evidenciando-se que os pretos, pardos e indígenas foram os mais afetados.
Conclusões/Considerações
As ações de prevenção e controle da hanseníase na APS na Amazônia não foram capazes de mitigar a determinação social relacionada a cor.
PANORAMA E MAPEAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DE CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE E INTERSETORIALIDADE PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 ENSP/Fiocruz
2 EPSJV/Fiocruz
3 Fiocruz Brasília
4 Secretaria Municipal Saude do Rio de Janeiro
5 Fiocruz Brasilia
Período de Realização
Mapeamento realizado de 06 de março a 15 de maio de 2025.
Objeto da experiência
Conhecer e analisar experiências de cuidado integral em saúde e intersetoriais voltadas à População em Situação de Rua (PSR) no território nacional.
Objetivos
Mapear as experiências de cuidado integral e intersetorial para a PSR no Brasil analisando essas experiências e suas ações intra e intersetoriais buscando entender como fortalecem o cuidado integral num modelo de baixa exigência que promovem inclusão social e direitos desses grupos vulneráveis.
Descrição da experiência
Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada pelo coletivo “Trihas do Cuidado” da ENSP/Fiocruz em parceria com o IPEA. Foi aplicado um formulário eletrônico a 53 informantes-chave (trabalhadores da saúde, pesquisadores, lideranças que atuam com a PSR). A distribuição utilizou a técnica de bola de neve. O formulário coletou informações de experiência como nome, localização, tempo de funcionamento, setores envolvidos, público-alvo, tipo de organização e ações desenvolvidas.
Resultados
Foram identificadas 24 iniciativas públicas e 6 de organizações da sociedade civil. Os setores mais frequentemente foram a saúde, seguido da assistência social, justiça, geração de renda e moradia. No setor saúde, as experiências mais referidas foram as equipes de Consultório na Rua. O mapeamento evidenciou experiências de diversos setores com temas cruciais e para cuidado à PSR. A articulação entre diversos setores nas experiências mapeadas demonstra uma abordagem ampliada do cuidado
Aprendizado e análise crítica
Um aprendizado significativo foi a confirmação da importância da intersetorialidade considerando os DSS que afetam a saúde e a vida da PSR para a efetividade do cuidado integral. A análise crítica aponta que os dados coletados nesta fase são um ponto de partida valioso e a profundidade da análise dessas experiências será realizada em etapa futura visando a elaboração de um “Catálogo de experiencias para PSR” que será lançado em Seminário Internacional em outubro deste ano.
Conclusões e/ou Recomendações
O cuidado integral para a PSR transcende o acesso aos serviços de saúde e exige garantia de direitos básicos e bens sociais essenciais como moradia digna, geração de renda e acesso à justiça social. Essas experiências oferecem subsídios para repensar e transformar o modelo de cuidado em direção a um modelo ético e político, priorizando a promoção ativa da inclusão social e a garantia plena do acesso aos direitos de cidadania para essa população.
: CONSTRUINDO PONTES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE: A ATUAÇÃO DO COMITÊ MINEIRO COMO INSTÂNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Pôster Eletrônico
1 SES-MG
Período de Realização
O Comitê Mineiro para o Controle Social da Tuberculose (TB) foi criado em 2012, institucionalizado em 2023, e permanece atuante até os dias atuais.
Objeto da experiência
O Comitê atua na gestão participativa para controle social, equidade em saúde e promoção de políticas intersetoriais no combate à tuberculose em Minas Gerais.
Objetivos
Fortalecer o controle social e políticas intersetoriais para prevenção e controle da tuberculose em MG, promovendo equidade, participação da sociedade civil, advocacy, articulação institucional e protagonismo das populações vulneráveis.
Metodologia
A experiência do Comitê destaca-se pelo compromisso com a equidade e valorização do conhecimento das pessoas acometidas pela tuberculose. Promove governança colaborativa, articulando setores como saúde, justiça, segurança e assistência social na formulação de políticas integradas. Consolidado como espaço de escuta e construção de consensos, fortalece o controle social, contribuindo eticamente e de forma participativa para o enfrentamento da tuberculose em Minas Gerais.
Resultados
Integração entre setores estaduais como saúde, justiça, segurança pública e assistência social, e parcerias com municípios prioritários, possibilitando ações coordenadas e territorializadas para controle da tuberculose. Encontros mensais e eventos temáticos que promovem troca de informações técnicas e saberes entre gestores, profissionais, acadêmicos e sociedade civil, fortalecendo a formação contínua dos membros e o engajamento coletivo. Além da tradução do álbum da tuberculose para a língua Maxakali e a criação de Nota Informativa para População Privada de Liberdade.
Análise Crítica
O Comitê Mineiro contribui para ações de controle da tuberculose, promovendo campanhas e parcerias com saúde, populações especiais e segurança pública. Destaca-se a tradução do álbum da tuberculose para a língua Maxakali e a criação de Nota Informativa para População Privada de Liberdade. A formação do GT de Proteção Social articula saúde e assistência social para fortalecer o cuidado e apoio às populações vulneráveis.
Conclusões e/ou Recomendações
O Comitê Mineiro responde aos desafios dos Planos Nacional e Estadual pelo Fim da Tuberculose, promovendo grupos multissetoriais para revisão de ações e engajamento comunitário em pesquisa. Institucionalizado em 2023, fortalece o diálogo entre gestão e sociedade, aprimorando ações de controle da tuberculose com foco em humanização, inclusão e efetividade.
AVANÇOS DA PNAISP EM MINAS GERAIS: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL
Pôster Eletrônico
1 SESMG
Período de Realização
Agosto de 2021 a dezembro de 2024
Objeto da experiência
Implementação e expansão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) em Minas Gerais.
Objetivos
Implementação e expansão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) em Minas Gerais.
Descrição da experiência
Desde a adesão à PNAISP em 2016, MG tem investido na implantação das equipes de Atenção Primária Prisional, com atuação multiprofissional nas unidades prisionais. Com a publicação da Portaria nº 2.298/2021 do MS, que redefiniu a composição das equipes, o Estado atualizou sua política de cofinanciamento, ampliando o repasse de 20% para 40%. Esse movimento, aliado à qualificação contínua das referências regionais e municipais, resultou em um crescimento expressivo : de 50 equipes ativas para 135.
Resultados
Até dezembro de 2024, Minas Gerais contava com 135 equipes de eAPPs homologadas, atendendo 118 estabelecimentos penais em 97 municípios, o que representa cerca de 68,2% das unidades prisionais sob gestão do Depen-MG.Aprendizado e análise crítica: A experiência evidenciou a importância da articulação intersetorial e do cofinanciamento estadual para a sustentabilidade das ações. Desafios incluem a ampliação da cobertura para 100% das unidades prisionais e a integração efetiva com a RAS.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidencia que o investimento em cofinanciamento e qualificação técnica impulsiona a ampliação das eAPPs. No entanto, revela também desafios persistentes, como a fragilidade da articulação intersetorial, desigualdades regionais na implementação e dificuldades estruturais nas unidades prisionais. Reforça-se a necessidade de estratégias integradas e contínuas para garantir o cuidado efetivo e equitativo à população privada de liberdade
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a continuidade do apoio técnico e financeiro aos municípios, a capacitação contínua das equipes de saúde prisional e o fortalecimento da articulação entre saúde e justiça para garantir a integralidade do cuidado às pessoas privadas de liberdade.
A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO FOCADO NA PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO RS (ESP/RS)
Pôster Eletrônico
1 ESP/RS
Período de Realização
O Serviço de Acompanhamento de Estudantes (diverSAE) iniciou em dezembro de 2023 e segue ativo.
Objeto da experiência
Implementação de ações de permanência para estudantes com perfil de beneficiários de ações afirmativas na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul.
Objetivos
1- Situar a proposta do diverSAE no âmbito da Escola de Saúde Pública. 2- Descrever objetivos e forma de atuação do diverSAE, considerando a determinação social, a partir da perspectiva interseccional; 3- Apontar resultados e desafios da implementação do serviço.
Descrição da experiência
O serviço agrega servidoras/es que atuam nas residências multiprofissionais; este surgiu da constatação de problemas envolvendo preconceitos e conflitos em espaços pedagógicos. Atividades desenvolvidas a partir do plano de ação focam na acolhida de estudantes e orientam-se pela abordagem da Política de Ações Afirmativas. A partir de fluxo de acesso estabelecido, a equipe discutiu os 20 acolhimentos realizados, para propor ações de educação permanente e/ou encaminhamentos para a rede de serviços.
Resultados
O Serviço foi validado administrativamente, através de Portaria Estadual da SES/RS; designou-se um estagiário para o serviço; estruturou-se o espaço físico para garantir sigilo. Acolhimentos individuais por demanda espontânea e busca ativa vêm sendo realizados desde o início. Alcançou-se relativa capilarização institucional, com atividades na Semana de Acolhimento das/os cursistas. Introduziu-se um item no cadastro de estudantes da pós-graduação da ESP para identificação de marcadores sociais.
Aprendizado e análise crítica
A proposta requer avaliação sistemática. Há necessidade de maior qualificação da equipe sobre aspectos conceituais e estratégias de atuação em rede. Para tal, contatos interinstitucionais e estudos foram iniciados. A criação de dispositivos pedagógicos que favoreçam a equidade requer inovações vinculadas a processos de educação permanente. Os maiores desafios estão em avançar dos espaços individuais para atividades de trocas de experiência, educação permanente e de apoio institucional.
Conclusões e/ou Recomendações
Os retornos das/os cursistas acolhidas/os e o apoio da gestão faz acreditar que a experiência é promissora, apesar dos desafios. O sucesso da proposta envolve não somente o compromisso da equipe envolvida no projeto, mas da instituição como um todo, para que a práxis diária e os encontros reflitam a perspectiva de que questões de raça, classe, gênero, deficiência e saúde mental interferem na condição de bem-estar e permanência na instituição.
COLETIVO FEIRA PRETA DA ENSP: CELEBRANDO A CULTURA NEGRA E PROMOVENDO A EQUIDADE
Pôster Eletrônico
1 ENSP/FIOCRUZ
Período de Realização
O Coletivo iniciou em 28/07/2023 e está atuando até hoje
Objeto da experiência
Promover equidade racial, valorizar cultura negra, incentivar afroempreendedorismo e difundir saberes, combatendo o racismo estrutural na ENSP/Fiocruz
Objetivos
Promover equidade racial, valorizar cultura negra, incentivar afroempreendedorismo e difundir saberes. Combatendo racismo estrutural e epistemicídio com tecnologias ancestrais. Prova que saberes e experiências negras são conhecimento, promovendo conscientização e valorização da diversidade cultural.
Metodologia
A Feira Preta da ENSP/Fiocruz, é um movimento contra o racismo e pela equidade racial. Como espaço de resistência e celebração da cultura negra, oferece produtos, arte e debates sobre desigualdade. O evento valoriza empreendedores negros, difunde saberes e fortalece a economia negra, combatendo o racismo estrutural na instituição e inspirando mudanças sociais.
Resultados
A Feira Preta da ENSP/Fiocruz se consolidou como um espaço crucial de empoderamento e pertencimento para a comunidade negra da instituição, impulsionando o afroempreendedorismo com oportunidades de venda de produtos que fortalecem a economia negra. Ela também difunde a cultura afro-brasileira e seus saberes, integrando-se a eventos importantes da Fiocruz, como a celebração dos 125 anos, e participando de espaços como o Seminário de Bioética na UFRJ/2024.
Análise Crítica
A Feira Preta da ENSP/Fiocruz promove conscientização racial com debates, palestras e rodas de conversa sobre racismo. Um desafio é a baixa adesão de pessoas brancas, evidenciando a necessidade de maior engajamento na luta antirracista. Ainda assim, sensibiliza participantes para a luta pela igualdade e os incentiva a serem agentes de mudança.
Conclusões e/ou Recomendações
A Feira Preta da ENSP/Fiocruz é um espaço crucial para promover a equidade racial e combater o racismo estrutural. Ampliar a participação de pessoas de diferentes perfis e fortalecer parcerias são estratégias importantes para ampliar a conscientização racial. A feira já demonstra seu impacto ao promover a cultura afro-brasileira, empoderar a comunidade negra e integrar-se a eventos importantes da instituição.
TINTA LIVRE: OFICINAS DE ARTE COMO ESTRATÉGIA DE ACOLHIMENTO, EXPRESSÃO E INCLUSÃO EM FOZ DO IGUAÇU (PR)
Pôster Eletrônico
1 UNILA
Período de Realização
05 de abril a 25 de setembro de 2023.
Objeto da experiência
Promoção do acesso à arte como ferramenta de expressão, cuidado e inclusão para grupos diversos em espaços públicos de Foz do Iguaçu.
Objetivos
Oferecer oficinas de escrita e pintura em locais públicos como forma de democratizar o acesso à arte, incentivar a expressão subjetiva, promover inclusão social e fomentar vínculos afetivos entre pessoas LGBTQIAPN+ e a comunidade em geral.
Metodologia
O projeto consistiu na realização de quatro oficinas: duas de escrita e duas de pintura, em espaços públicos de Foz do Iguaçu (PR). As oficinas ocorreram na Feirinha da UNILA e na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, com coffee break, distribuição de materiais e divulgação em redes sociais. Os participantes elaboraram textos e obras visuais, reunidos em livro digital coletivo, com autoria organizada aleatoriamente para valorizar a horizontalidade criativa.
Resultados
Participaram 23 pessoas, incluindo pessoas trans, LGBTQIAPN+ e apoiadores. As atividades resultaram em produções artísticas diversas, compartilhadas com a comunidade por meio de exposição e publicação digital. Houve fortalecimento de vínculos afetivos, estímulo à escuta sensível e valorização de experiências de vida, reafirmando a arte como espaço de acolhimento e potência coletiva.
Análise Crítica
A condução informal e afetiva das oficinas permitiu engajamento genuíno e respeito à singularidade dos participantes. O uso do WhatsApp para inscrições e a não exigência de listas formais foram estratégicos para garantir acesso. A escolha por autoria coletiva desafiou hierarquias e evidenciou que a arte pode ser território de cuidado, pertencimento e reconstrução subjetiva, especialmente para grupos vulnerabilizados.
Conclusões e/ou Recomendações
Tinta Livre demonstrou que práticas artísticas nos espaços da Universidade são dispositivos eficazes de cuidado em saúde coletiva. Recomenda-se que projetos de extensão universitária invistam em metodologias sensíveis, abertas e horizontalizadas, promovendo vínculos, expressão e pertencimento. A arte deve ser entendida como ferramenta legítima de promoção da saúde e inclusão social.
III ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SAÚDE (REBRAUPS): DESAFIOS DEMOCRÁTICOS E A POTÊNCIA DAS REDES
Pôster Eletrônico
1 UFMT
2 UFRJ
3 Ulbra
4 Fadminas
5 UEA
6 UnB/FCE
7 UFPE
8 UnB
Período de Realização
de fevereiro a outubro de 2024, culminando no Encontro dos dias 21 e 22 de outubro de 2024
Objeto da experiência
III Encontro da Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde (ReBraUPS), ocorrido em 2024
Objetivos
a) Registrar a realização do III Encontro da ReBraUPS; b) Analisar politicamente o III Encontro da ReBraUPS, como destaque para os desafios democráticos e para a potência representada pelas redes de conexões nas instituições de ensino superior
Descrição da experiência
Evento organizado pelo Coletivo Gestor e colaboradores da ReBraUPS, de Norte a Sul do país, de forma presencial, na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, para debater sobre promoção de saúde, universidades frente aos desafios atuais, mudanças climáticas, avanços do neofascismo e pautas sociais emergentes, refletindo sobre a sociedade que temos, queremos e precisamos; e destacando a educação e a formação necessárias para a construção de uma sociedade mais justa e orientada pela equidade.
Resultados
Participaram do III Encontro da ReBraUPS discentes de graduação (40) e de pós-graduação (15), docentes (50), Técnicos (14), gestores/Reitores (15), representantes da sociedade civil e de outras instituições (20). O evento foi realizado com financiamento próprio e contou com a participação do filósofo e pedagogo Gaudêncio Frigotto. Houve Mostra de Experiências, com a apresentação de 22 trabalhos.
Aprendizado e análise crítica
Verificou-se que a lógica neoliberal contemporânea impõe produtivismo e competição, enfraquecendo vínculos solidários e colaborativos. Em acréscimo, a participação, muitas vezes apenas simbólica, apresenta-se permeada por formas de violência institucional (como racismo e sexismo), limitando a construção de redes inclusivas. A valorização da extensão crítica, muito presente na Rede, fortalece o diálogo com os territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
A ReBraUPS vive desafios democráticos, como estruturas hierárquicas rígidas, fragmentação do conhecimento, exclusão de saberes e sujeitos historicamente marginalizados. Para a Saúde Coletiva, orientada pela equidade, integralidade, participação e justiça social, importa tensionar a universidade tradicional e defender práticas democráticas, horizontais e reflexivas, como a ReBraUPS, para a produção de conhecimento socialmente transformador.
A ATUAÇÃO DOS POLOS DESCENTRALIZADOS DO COLABORATÓRIO NACIONAL POP RUA: AS EXPERIÊNCIAS DE AÇÕES NAS 5 REGIÕES DO PAÍS
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília/ NUPOP
2 Fiocruz Brasília
Período de Realização
Julho de 2024 a maio de 2025.
Objeto da experiência
A experiência dos Polos Descentralizados do Colaboratório Nacional Pop Rua Nas 5 regiões do país.
Objetivos
Apresentar a experiência dos Polos Descentralizados do Colaboratório Nacional Pop Rua (Colab Pop Rua), no território nacional, cumprindo a função o apoio institucional, articulando agendas estratégicas para a população em situação de rua (PSR).
Metodologia
O Colab Pop Rua acompanha e qualifica políticas públicas, trabalhadores e movimentos sociais que atuam com a PSR. Os Polos Descentralizados são equipes com 3 profissionais (coordenação, técnico de nível superior e pessoas com trajetória de rua). São as equipes mais próximas dos serviços e profissionais que atuam com a PSR, estando presente em Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis.
Resultados
Cada Polo cumpre uma agenda de 2 ou mais atividades mensais, registradas em formulário eletrônico. Entre julho/2024 e maio/2025, foram realizadas 481 atividades nas 5 regiões do país, mobilizando 17.753 pessoas, das quais 2.773 foram pessoas com trajetória de rua. Dentre essas atividades, 13% foram junto ao SUS; 16% ao SUAS; 10% ao sistema de justiça e; 61% com a participação social.
Análise Crítica
A atuação dos Polos Descentralizados impacta significativamente os serviços e profissionais envolvidos com a PSR, destacando-se as atividades de Incidência Política — como participação e apresentação em reuniões com parlamentares, órgãos governamentais, instituições de pesquisa e entidades da sociedade civil —, bem como as ações de Participação Social. Essas atividades são fundamentais para a discussão, aprimoramento e avaliação das políticas públicas voltadas à PSR nesses territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
Os Polos Descentralizados ocupam posição estratégica na atuação local junto aos serviços e profissionais que atuam e implementam políticas voltadas à PSR, qualificando equipes, propondo políticas e sistematizando práticas. Para ampliar sua capacidade de atuação, é fundamental expandir o escopo e o financiamento do Colaboratório Nacional Pop Rua, assegurando a presença dessas equipes em todas as regiões do país e em diversos municípios.
COLABORATÓRIO NACIONAL POP RUA: QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO EM REDE E DA PARTICIPAÇÃO POPULAR, COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília/ NUPOP
2 Fiocruz Brasília
Período de Realização
Março de 2023 a março de 2025
Objeto da experiência
A atuação do Colaboratório Nac. Pop Rua na qualificação das redes SUS, SUAS, sistema de justiça/garantia de direitos e da participação social da PSR.
Objetivos
Fortalecer e qualificar as ações das políticas públicas e da sociedade civil com a população em situação de rua, fomentando formativos baseados na Educação Permanente, para trabalhadores e gestores das políticas públicas, além de pessoas com trajetória de rua.
Metodologia
O Colaboratório Nacional Pop Rua é uma iniciativa que articula formação, pesquisa, incidência política e participação social para garantir os direitos da PSR. Está estruturado em quatro instâncias: 1. Fórum Consultivo; 2. Polos Descentralizados; 3. Escola Nacional Pop Rua e; 4. Grupo de Pesquisas. O projeto está presente em 14 capitais, abrangendo todas as regiões do país.
Resultados
No período de março de 2023 a março de 2025, foram realizadas 596 atividades (realizadas pelos Polos Descentralizados e pela Escola Nacional): 385 de natureza político-acadêmica; 118 ações formativas e 93 visitas técnicas. No total, o Colaboratório Nacional Pop Rua mobilizou 21.414 pessoas/participantes, através de suas atividades. Além disso, houve ampliação da capacidade de incidência da PSR e de suas organizações nos conselhos e conferências, fortalecimento das redes locais SUS e SUAS.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a potência de uma abordagem colaborativa, horizontal e territorializada na defesa dos direitos da PSR e na qualificação das políticas públicas. O projeto enfrenta desafios como a fragmentação das políticas públicas, resistência institucional e a precariedade das condições de trabalho nas redes locais. Ainda assim, as ações diretas com os territórios, aliado à valorização dos saberes da rua, fortalece os vínculos comunitários e institucionais.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou a potência de uma abordagem colaborativa, horizontal e territorial na defesa dos direitos da PSR e na qualificação das políticas públicas. O projeto enfrenta desafios como a fragmentação das políticas públicas, resistência institucional e precariedade das condições de trabalho. Ainda assim, as ações diretas com os territórios, aliado à valorização dos saberes da rua, fortalece os vínculos comunitários e institucionais.
A “TRAVESSIA DO ENCANTO”, O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UECE
Período de Realização
Vivência realizada em fevereiro de 2025 nas comunidades de São Sebastião de Uatumã e Itacoatiara -- AM
Objeto da experiência
Ações educativas direcionadas às crianças e adolescentes ribeirinhos sobre a temática de saúde bucal.
Objetivos
Relatar a experiência de uma dentista voluntária no projeto CBM- Brasil- barco clínica no Amazonas, que utilizou a ludicidade como estratégia para promover a saúde bucal, valorizando saberes locais.
Descrição da experiência
A vivência compreendeu três etapas: roda de conversa lúdica com crianças de 5 a 12 anos, utilizando linguagem simples e elementos do cotidiano local, com a apresentação de uma caixa mágica, e contação de história; uso de frutas típicas da Amazônia como "amigos dos dentes", e doces e refrigerantes como "inimigos dos dentes", todos inseridos na caixa mágica que compôs a dinâmica; e atividade prática de escovação supervisionada, com aplicação de flúor e entrega de kits de higiene bucal.
Resultados
As crianças, marcadas por medos socialmente construídos, associam culturalmente a odontologia ao desconforto e à dor, mas a partir da curiosidade e do reconhecimento das frutas regionais: açaí, cupuaçu, bacaba, muruci e tucumã, engajaram-se na prática lúdica, favorecendo reflexões. A ludicidade revelou-se uma ponte entre o saber técnico e o popular, promovendo aproximação sem hierarquias e favorecendo um aprendizado mútuo e recíproco.
Aprendizado e análise crítica
A escuta ativa e empática, com o respeito e a valorização do saber popular, das raízes e da ancestralidade, podem ser ferramentas eficazes de inclusão e aprendizagens recíprocas, favorecendo o diálogo e estabelecendo o vínculo entre o profissional e a comunidade. O atendimento horizontal e humanizado, aliado ao poder da ludicidade, torna a prática democrática e poderosa para promover saúde com equidade, universalidade e integralidade.
Conclusões e/ou Recomendações
Os ribeirinhos vivem em um contexto de dispersão geográfica e condições ambientais agravadas pelas mudanças climáticas, são povos invisibilizados pelas políticas públicas e que tem sua saúde e qualidade de vida prejudicadas. Estratégias lúdicas, humanizadas e acolhedoras exercem a justiça social, evidenciam a necessidade de acesso equânime e geram inquietações que ultrapassam o social, alcançando também o ambiental, o político e o econômico.
INTERSECCIONALIDADE E PRÁTICAS EM SAÚDE: RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE UNIFESP EM UMA UBS DE DIADEMA-SP.
Pôster Eletrônico
1 Unifesp
2 Secretaria de saúde de Diadema
Período de Realização
O projeto iniciou-se em maio do ano de 2024 e está em andamento até o momento.
Objeto da experiência
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) realizado pela Unifesp, Campus Diadema, em parceria com a Secretaria de Saúde de Diadema.
Objetivos
Identificar as iniquidades provenientes de estruturas machistas, racistas, misóginas, capacitistas, etaristas, homolesbotransfóbicas e de violências vivenciadas no trabalho e no contexto universitário. Qualificar as trabalhadoras para o enfrentamento das iniquidades que operam no trabalho em saúde.
Metodologia
O projeto articula três eixos de ações: letramento, reconhecimento do território e mapeamento de iniquidades. Para formação da equipe envolvida, foi realizado um processo de letramento na Unifesp - campus Diadema, com o apoio de movimentos sociais, pesquisadores e atividades culturais. Num segundo momento, iniciou-se um processo de reconhecimento da UBS Casa Grande, por meio de visitas ao território, rodas de conversas e acompanhamento das atividades desenvolvidas no serviço.
Resultados
O letramento abordou temas como racismo estrutural, gênero e diversidade sexual, capacitismo e classe trabalhadora. Foram promovidos debates com representantes de movimentos sociais e coordenadoria municipal de direitos humanos. O reconhecimento do território e da UBS aponta a presença expressiva de mulheres à frente do cuidado. As atividades na UBS permitiram o acolhimento da equipe e identificação inicial de situações de iniquidade. Posteriormente, serão desenvolvidas intervenções no serviço..
Análise Crítica
A etapa de letramento mostrou-se uma ferramenta potente para promover reflexões críticas e para reconhecimento das iniquidades que atravessam a vida de trabalhadoras e futuras trabalhadoras do SUS. A identificação de discriminação relacionadas ao gênero, à identidade de gênero, à sexualidade, à raça, à etnia e às deficiências, bem como as formas de enfrentamento requer escuta, qualificação e um processo continuado junto aos profissionais da UBS.
Conclusões e/ou Recomendações
Ainda em andamento, o projeto tem mostrado que o enfrentamento das opressões estruturais exige ações integradas e contínuas. O processo de letramento tem fortalecido o olhar crítico e a ação coletiva dos participantes. A vivência nos territórios amplia o entendimento sobre os determinantes sociais da saúde e prepara o grupo para construir estratégias intersetoriais de promoção da equidade e saúde mental no SUS.
PROCESSO CONTINUADO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A VARIÁVEL RAÇA NO CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 FeSaúde - Fundação Estatal de Saúde de Niterói
2 Universidade Federal Fluminense
Período de Realização
Maio/2024 a Maio/2025
Objeto da experiência
O processo continuado de educação em saúde e relação com o cadastramento de usuários.
Objetivos
Formação de profissionais de saúde de uma unidade de Atenção Primária visando a melhora da qualidade do preenchimento do cadastro dos usuários.
Metodologia
A “Pausa do Conhecimento” é um dispositivo de educação permanente em saúde elaborado no contexto do PET-Saúde Equidade e ocorre nas reuniões de módulo que concentram grande parte dos profissionais da unidade. São feitas exposições e rodas de conversas visando a transformação das práticas no cotidiano do serviço, especialmente, com relação ao preenchimento dos cadastros no que se refere a raça dos usuários, promovendo assim um alinhado à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Resultados
A partir da intervenção “Pausas do conhecimento” observou-se aumento no preenchimento da variável "raça/cor" nos cadastros dos usuários. Os profissionais responsáveis pelo cadastro modificaram a abordagem e agora perguntam aos usuários sobre sua identificação racial e explicam as categorias de respostas, em vez de preencherem livremente este dado. Neste sentido, observa-se maior cuidado dos profissionais para a identificação da raça e a sua importância para a equidade em saúde.
Análise Crítica
Observou-se que muitos usuários, inicialmente identificados como pardos, ou que não selecionavam opção de raça/cor por não reconhecerem sua própria identificação, passaram a se reconhecer como pessoas pretas a partir dos diálogos promovidos com os agentes comunitários de saúde e demais profissionais. Evidencia-se assim o potencial da ação em contribuir para o autoconhecimento racial e em estimular debates sobre identidade racial tema, até então, pouco discutido no cotidiano da unidade.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência da “Pausa do Conhecimento” mostra o papel do PET-saúde como instrumento de reflexão crítica sobre o processo de trabalho na Atenção Primária. A interação ensino-serviço fortaleceu a compreensão sobre a importância da coleta adequada dos marcadores sociais, especialmente os campos raça/cor, contribuindo para completude dos cadastros corretos na unidade e para a promoção de práticas equitativas no cuidado em saúde.
O DISPOSITIVO GRUPAL COMO INTERVENÇÃO, CUIDADO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA SAÚDE MENTAL
Pôster Eletrônico
1 UNISO
Período de Realização
Este trabalho foi realizado no período de fevereiro de 2024 a junho de 2025.
Objeto da experiência
População infantil, adulta e idosa, com queixas relacionadas ás alterações afetivas, cognitivas e de transtornos globais do desenvolvimento.
Objetivos
Apresentar uma experiência de cuidado em saúde mental que buscou a construção de experimentações coletivas no campo da atenção psicossocial. Discutir os desafios e potências da formação profissional orientada pelos direitos sociais em um território historicamente atravessado pela lógica manicomial.
Descrição da experiência
A clínica foi construída como espaço voltado ao cotidiano num movimento de abertura para novas experimentações. No grupo de crianças o ambiente foi re(construído) com brinquedos, brincadeiras e na alfabetização a criação de um jornal. Para as mães propusemos experimentações de aproximação com o próprio corpo. O grupo de convivência “Encontros Culturais” atendeu demandas da comunidade com intervenções de ações de arte e cultura, ampliando a atenção psicossocial e fortalecendo vínculos coletivos.
Resultados
A escola relatou avanços na participação e comunicação das crianças.. Apontamos a assiduidade das famílias nos grupos e alguns movimentos de circulação por novos espaços sociais. No contexto universitário ampliou-se a experiência da sensibilidade relacional, articulando ativismo, arte ampliando o uso de dispositivos grupais para o cuidado em saúde mental no contexto da reabilitação psicossocial.
Aprendizado e análise crítica
No contexto do aprendizado dos universitários destacamos a mudança de enfoque de práticas centrada na doença rompendo com o modelo assistencial individualizado para a compreensão de novos arranjos de práticas coletivas, com foco no sujeito e nas suas demandas da vida cotidiana. Para os familiares, embora ainda a prevalência do discurso médico e a sustentação da medicalização surgiram brechas para outras experiências de cuidado, fortalecendo o vínculo e a afetividade entre os sujeitos envolvidos.
Conclusões e/ou Recomendações
Nessa amostra consideramos que em um contexto ainda marcado pela cultura manicomial e medicalização da vida, é necessário tensionar a lógica que associa loucura à doença e propor formas inventivas de cuidado, que construa um campo de conhecimento e de prática com qualidade e resolutividade. A trajetória de invenção de novas formas de cuidado pode ser uma tentativa para inverter a lógica manicomial.
“BANDIDO BOM É BANDIDO RECUPERADO”: PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
Pôster Eletrônico
1 Grupo de Estudos Interdisciplinar em Cuidado Farmacêutico, Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares; Programa de Pós-graduação em Assistência Farmacêutica (PPGASFAR), Universidade Federal do Espírito Santo
2 Grupo de Estudos Interdisciplinar em Cuidado Farmacêutico, Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares; Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS), Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares
3 Instituto de Biotecnologia, Universidade Federal de Catalão; Programa de Pós-graduação em Assistência Farmacêutica (PPGASFAR), Universidade Federal do Espírito Santo
Período de Realização
Entre março a agosto de 2024 em uma Associação de Proteção e Assistências aos Condenados (APAC).
Objeto da experiência
Participação da autora nos cinco meses de duração do curso de formação de voluntários para atuação em uma APAC feminina no leste de Minas Gerais.
Objetivos
Compreender como a participação comunitária, por meio da formação de voluntários de uma APAC, se constrói como uma estratégia inovadora de enfrentamento das iniquidades sociais e em saúde, por meio do cuidado, escuta e corresponsabilidade social no processo de recuperação de mulheres custodiadas.
Metodologia
Curso realizado na APAC com encontros quinzenais teórico-prático. As atividades teóricas abordaram a metodologia apaqueana, com foco na valorização humana e participação da comunidade no processo de recuperação das mulheres privadas de liberdade (MPL). As práticas incluíram colaboração nos encontros de família, sendo os cursistas responsáveis pelo acolhimento e escuta das famílias das custodiadas. As vivências e interações observadas foram registradas em diário de campo.
Resultados
As situações observadas ilustram a relevância da formação de voluntários da APAC como uma estratégia de capacitação e corresponsabilização social para recuperação de custodiadas. MPL: “Quando um voluntário vem, dá força. Cada abraço, mostra que há quem se importe”. Voluntária: “Uma pessoa recuperada resulta em uma geração de recuperados”. Reflexão de um almoço de família: “Os dentinhos cariados de uma criança e uma adolescente amamentando seu bebê escancaram o contexto social do cárcere”.
Análise Crítica
A vivência no cenário evidenciou que o encarceramento feminino, sob a perspectiva dos determinantes sociais em saúde, é atravessado por iniquidades. O curso de formação de voluntários promove a participação comunitária no processo de recuperação das MPL, o que rompe com a lógica tradicional punitivista e colabora com a prática contra-hegemônica de cuidado. Ademais, promove a corresponsabilização social em um cenário historicamente negligenciado pelas políticas públicas
Conclusões e/ou Recomendações
Diferente do modelo prisional tradicional, na metodologia apaqueana a presença de voluntários humaniza o cumprimento da pena e contribui para a reintegração social. Os voluntários, ao vivenciarem as interseccionalidades do cárcere, compreendem e se engajam com sua função social de enfrentamento às iniquidades. MPL e seus familiares, ao se sentirem acolhidos e cuidados pelos voluntários, se empoderam no processo de recuperação e reinserção social.
NA RUA: SAÚDE COLETIVA, CUIDADO INTEGRAL E DIREITOS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM DIÁLOGO COM A UNIVERSIDADE
Pôster Eletrônico
1 Faculdade Unida de Campinas
2 Universidade Federal de Goiás
Período de Realização
De 01/08/2024 a 20/12/2025
Objeto da experiência
Promoção da saúde integral da população em situação de rua por meio de ações formativas e intersetoriais em extensão universitária.
Objetivos
Contribuir para a formação crítica em saúde coletiva de discentes da UFG, promovendo diagnóstico participativo e intervenção junto à população em situação de rua, com base nos determinantes sociais da saúde, na atuação intersetorial e nos princípios éticos e políticos do SUS e da PNPSR.
Descrição da experiência
O projeto articula ensino, extensão e cuidado em saúde coletiva com foco na população em situação de rua. Com base na PNPSR e nos princípios do SUS, desenvolve ações em equipamentos do SUAS e ruas de Goiânia, envolvendo estudantes, trabalhadores(as) e usuários(as) em rodas de conversa, escutas qualificadas, visitas técnicas e estratégias de cuidado integral. Atua no enfrentamento das desigualdades sociais e na defesa do direito à saúde.
Resultados
A experiência possibilita a ampliação do olhar sobre os determinantes sociais da saúde, fortalecendo vínculos entre universidade, SUAS, SUS e movimentos sociais. Produz subsídios para a qualificação da atenção à PSR, fomenta a formação de profissionais críticos e contribui para a construção de estratégias intersetoriais de cuidado. Destaca-se o engajamento de sujeitos historicamente invisibilizados nos processos de produção de saúde.
Aprendizado e análise crítica
O projeto reafirma a saúde coletiva como campo ético-político e interdisciplinar, evidenciando que práticas emancipatórias com a PSR requerem escuta, territorialidade e enfrentamento da exclusão social. A articulação com o MNPR amplia a análise crítica sobre iniquidades e reafirma o papel da universidade na promoção da equidade e na construção de políticas públicas baseadas em justiça social.
Conclusões e/ou Recomendações
A atuação universitária com base na saúde coletiva contribui para o fortalecimento da PNPSR e para o reconhecimento da PSR como sujeito de direitos. Recomendamos a valorização de práticas formativas críticas, intersetoriais e territorializadas que promovam a equidade em saúde e ampliem o diálogo entre academia, serviços e populações vulnerabilizadas.
A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE UMA CAPACITAÇÃO PARA MULHERES GESTORAS DO SUS NA V REGIÃO DE SAÚDE DO RN
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Período de Realização
Formação intensiva de set/24 a mai/25 para curso de capacitação em set-nov/25.
Objeto da experiência
Formação de bolsistas do PET-Saúde Equidade para elaboração e execução de curso destinado a mulheres gestoras do SUS na 5ª Região de Saúde do RN
Objetivos
Capacitar estudantes e preceptoras bolsistas do PET-Saúde Equidade para atuarem como formadoras em curso voltado a mulheres gestoras do SUS, promovendo equidade, protagonismo e reflexão crítica sobre as interseccionalidades que impactam a gestão em saúde no território.
Descrição da experiência
A preparação começou em set/2024 com estudos sobre raça, classe, gênero, deficiência e gestão em saúde. Em 2025, as estudantes se organizaram por temas, participaram de reuniões pedagógicas, rodas de conversa com gestoras, oficinas de oratória e ações com psicólogos para fortalecimento emocional. Foram abordadas a mulher no SUS, barreiras na gestão, protagonismo feminino e redes. A culminância foi a criação dos planos de aula para o curso online voltado a gestoras da região.
Resultados
A experiência favoreceu o protagonismo das bolsistas, que elaboraram 9 cursos: trajetória das mulheres na gestão; papel feminino no SUS; desafios históricos; interseccionalidades; barreiras na gestão; ambientes inclusivos; estratégias locais; redes de apoio; protagonismo na gestão pública. As estudantes construíram materiais contextualizados e desenvolveram práticas pedagógicas com base em escuta, diálogo e realidade territorial.
Aprendizado e análise crítica
As rodas de conversa com uma mulher trans da rede pública e com uma gestora de universidade pública permitiram vivências marcantes sobre exclusão, resistência e afirmação. As intervenções da psicologia promoveram acolhimento, identidade coletiva e manejo emocional. A escuta ativa e plural revelou que formar para a equidade exige diálogo sensível com realidades diversas e compromisso ético com a transformação social.
Conclusões e/ou Recomendações
A preparação da capacitação mostrou que processos formativos interprofissionais e interseccionais ampliam a força transformadora da universidade no SUS. Recomenda-se investimento contínuo em suporte psicológico, comunicação e práticas colaborativas para estudantes. Projetos que valorizem as mulheres do território promovem equidade, justiça social e fortalecem a gestão em saúde pública com visão decolonial.
GESTAR ENTRE RUAS E REDES: RESGATANDO EQUIDADE E DIGNIDADE NA GESTAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
2 UFF
Período de Realização
Março de 2024 a outubro de 2024, com acompanhamento contínuo no Consultório na Rua e no CAPS Dona Ivone Lara.
Objeto da experiência
Acompanhamento interdisciplinar de gestante negra em situação de rua, com foco na co-construção de cuidado em rede.
Objetivos
Descrever as nuances da complexidade do cuidado gestacional de pessoa em situação de rua; analisar o papel do trabalho interdisciplinar e da participação ativa da usuária na construção de redes ampliadas de cuidado; propor estratégias sustentáveis para promoção da equidade na atenção primária.
Descrição da experiência
Relato de experiência em serviço de Consultório na Rua, articulando acolhida, escuta qualificada e construção de rede. A gestante cis, negra, em situação de rua na 33ª semana de gestação, com histórico de acolhimentos institucionais, participou do planejamento colaborativo de parto e puerpério. Encontros estratégicos com CAPS AD, Conselho Tutelar, Consultório na Rua e Clínica da Família garantiram continuidade, integralidade e protagonismo no cuidado.
Resultados
Foi constituído grupo multiprofissional e intersetorial que fortaleceu o vínculo com a gestante, o que resultou na redução da evasão ao pré-natal. A agenda compartilhada entre serviços ampliou o acesso a consultas, exames e suporte psicossocial, e a usuária definiu seu plano de parto com adesão plena das equipes, promovendo seu empoderamento reprodutivo. Como desfecho, registrou-se a redução de internações de urgência e a manutenção da guarda do bebê após o nascimento.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a centralidade da interseccionalidade no planejamento do cuidado: raça, gênero, condição de rua e histórico familiar impactam diretamente a adesão às ações de saúde. Criticamente, constatou-se lacunas na comunicação entre serviços e subfinanciamento de dispositivos comunitários. Propõe-se fortalecer instâncias de coordenação e incorporar práticas de atenção centradas no sujeito, mitigando vieses institucionais e ampliando a qualidade do cuidado na atenção primária.
Conclusões e/ou Recomendações
A co-construção de redes de cuidado, com participação ativa da usuária, mostrou-se estratégia robusta para promoção da equidade em contextos de vulnerabilidade extrema. Recomenda-se institucionalizar rotinas de articulação intersetorial, capacitar equipes em determinantes sociais da saúde e implementar protocolos de redução de danos que respeitem a autonomia reprodutiva, garantindo atenção integral e direitos humanos na Saúde Coletiva.
AÇÕES DE SAÚDE COMUNITÁRIA COM ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BELO HORIZONTE
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário Newton Paiva Wyden
Período de Realização
A fase primária foi de agosto a novembro/2024; a secundária, de fevereiro a junho/2025.
Objeto da experiência
Projeto de extensão em saúde comunitária voltado à educação em saúde com estudantes da rede pública de Belo Horizonte – MG.
Objetivos
Descrever ações de saúde comunitária realizadas com alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede pública de Belo Horizonte.
Descrição da experiência
As ações ocorreram em uma escola estadual de Belo Horizonte, com alunos do Ensino Fundamental e Médio. As intervenções foram baseadas em um diagnóstico situacional realizado em agosto de 2024. Após análise utilizando a matriz GUT, identificaram-se o bullying e a desinformação sobre os serviços de saúde como problemas prioritários neste grupo. As intervenções foram planejadas e executadas entre fevereiro e junho de 2025, por meio de palestras e rodas de conversa participativas.
Resultados
As ações ocorreram em dois encontros. O primeiro abordou o bullying, com palestra, dinâmica do "desenho contínuo" e "carta ao eu do futuro". O segundo discutiu os serviços de saúde e a oferta de cuidado, por meio de roda de conversa e atividades práticas. Para cada ação, foi elaborado um material didático-pedagógico para facilitar a compreensão dos participantes sobre os temas.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a importância de intervenções em saúde comunitária no ambiente escolar, com uma abordagem empática e voltada às reais necessidades dos estudantes. Reforça-se o papel transformador da escuta e da educação em saúde na promoção do bem-estar. A participação ativa dos alunos mostrou-se fundamental para o sucesso das ações, promovendo aprendizado mútuo e ampliando a visão crítica dos acadêmicos envolvidos.
Conclusões e/ou Recomendações
As atividades contribuíram significativamente para a formação dos acadêmicos e para o empoderamento dos estudantes da rede pública. Promoveram a interação com a comunidade, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e uma maior compreensão dos principais problemas identificados no diagnóstico situacional. Recomenda-se a ampliação dessas ações em escolas públicas como estratégia contínua de educação e promoção da saúde.
VOCÊ TEM SEDE DE QUÊ? AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO PARANOÁ-DF.
Pôster Eletrônico
1 UnB
2 SES-DF
Período de Realização
01/04/2024 a 31/12/2024.
Objeto da experiência
Promover ações de promoção da saúde, educação popular em saúde, cultura, cidadania e acolhimento à população em situação de rua no Paranoá/DF.
Objetivos
Promover saúde e educação popular à PSR; fortalecer o vínculo entre PSR e equipe de saúde, além da rede de atenção, a partir de atividades e oficinas intersetoriais; valorização da arte e cultura; fomentar espaços de troca (universidade-comunidade); garantir acesso a direitos e cuidados em saúde.
Descrição da experiência
Parceria entre a UnB e o Consultório na Rua (CNR), o projeto visa qualificar a assistência à PSR, com um olhar ampliado que supera a lógica medicalocêntrica e promove o cuidado integral em saúde. Vinculado à Rede de Polos de Extensão, atua com base nas demandas da população, por meio da escuta qualificada, vínculos afetivos e participação. Envolve discentes, docentes, residentes e profissionais do CnR, com foco no acolhimento e cuidado centrado na pessoa e na comunidade.
Resultados
Realizamos oficinas de promoção da saúde com base na Educação Popular, por meio de práticas culturais e educativas, a partir do interesse dos usuários. As ações incluíram cine pipoca, jogos, confecção de cordel, música, atendimento psicossocial, promoção de acesso à banho, roda de leitura e oficina de sabonete líquido. As atividades fortaleceram vínculos, ampliaram o acesso a direitos e o protagonismo da PSR.
Aprendizado e análise crítica
O projeto inova no apoio à população em situação de rua, promovendo a desconstrução do estigma e a humanização das relações. Com abordagens coletivas, diálogo participativo, relações horizontalizadas e atividades temáticas, a PSR passou a se reconhecer no processo, compartilhar vivências e exercer seu protagonismo, transformando o espaço em um lugar de cuidado, pertencimento e acolhimento.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto destaca a extensão universitária como ferramenta de aprendizado para a promoção da equidade e práticas de saúde inclusivas. Ressalta-se a articulação entre acadêmicos e equipe de saúde, fortalecendo as ações. Defende-se a continuidade de iniciativas que ampliem o acesso a direitos, acolhimento integral e protagonismo da população em situação de rua.
DA MARGEM AO CENTRO: A PERIFERIA COMO CATEGORIA POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E EQUIDADE NO SUS
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
2 Fundação Oswaldo Cruz
Período de Realização
De 2023 a 2025
Objeto da experiência
Reconhecimento das periferias como territórios estratégicos e protagonistas na formulação de políticas públicas de saúde voltadas à equidade.
Objetivos
Analisar o reposicionamento político das periferias urbanas (favelas e comunidades urbanas) na agenda pública de saúde, destacando iniciativas intersetoriais do SUS voltadas à equidade e ao enfrentamento das iniquidades estruturais.
Descrição da experiência
Entre 2023 e 2025, o Ministério da Saúde desenvolveu ações voltadas à equidade em territórios periféricos, com criação de estruturas como a Assessoria para Saúde em Periferias e o GT Técnico. A articulação com a Secretaria Nacional de Periferias, Fiocruz e a realização da 1ª Conferência Livre com Territórios de Periferias fortaleceram a participação social e o reconhecimento desses territórios como estratégicos para o SUS.
Resultados
Foram criadas estruturas como a Assessoria para Saúde em Periferias e o GT Técnico, com articulação intersetorial envolvendo Fiocruz e a Secretaria Nacional de Periferias. A 1ª Conferência Livre com Territórios de Periferias e a Política de Saúde da População Negra fortaleceram a participação social, o enfrentamento ao racismo institucional e a centralidade das periferias no SUS.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidencia o avanço no reconhecimento das periferias como categoria política no SUS. A atuação intersetorial e a valorização da participação social apontam para estratégias potentes de enfrentamento das iniquidades. Ao incorporar o protagonismo das periferias, o SUS amplia sua capacidade democrática e responsiva. Persistem desafios na consolidação das estruturas criadas e na efetivação territorial das ações.
Conclusões e/ou Recomendações
Ao reconhecer a periferia como categoria política e locus de protagonismo, o SUS amplia sua potência democrática e responsiva. A integração entre políticas de saúde, participação social e estratégias antirracistas fortalece a promoção da equidade, contribuindo para um modelo de cuidado mais justo e territorializado.
EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO PARA O CUIDADO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: TRANSFORMANDO VIDAS COM SAÚDE BUCAL
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Período de Realização
Dezembro de 2023 a dezembro de 2025.
Objeto da experiência
Projeto de extensão da UFMG voltado à atenção odontológica e promoção da saúde bucal da população em situação de rua em Belo Horizonte-MG.
Objetivos
Promover o acesso à atenção primária odontológica para a PSR, realizar ações de educação em saúde, criar materiais educativos, capacitar estudantes para abordagem humanizada, fortalecer a interprofissionalidade e contribuir para a garantia do direito à saúde bucal dessa população vulnerável.
Descrição da experiência
Ocorre no Centro de Referência Especializado para PSR (Centro POP) Lagoinha e na Faculdade de Odontologia da UFMG. Inclui levantamento de necessidades e atendimentos odontológicos, oficinas educativas e elaboração de materiais. As atividades envolvem estudantes, docentes e pós-graduandos, promovendo capacitação, com parcerias interprofissionais para execução de atividades. Foi ofertada uma disciplina de extensão interprofissional sobre cuidado à saúde da PSR para formação de estudantes da saúde.
Resultados
Desde a implementação, o projeto realizou mais de 250 atendimentos odontológicos, incluindo restaurações, exodontias e confecção de próteses, devolvendo dignidade e qualidade de vida para a PSR. Foram desenvolvidas oficinas educativas sobre higiene bucal e promoção de doenças, além da criação de materiais didáticos e pesquisas científicas. O impacto acadêmico foi significativo, com estudantes adquirindo experiência sobre o cuidado da PSR com abordagem humanizada e interprofissional.
Aprendizado e análise crítica
A experiência reforça a importância da extensão universitária na promoção da equidade na saúde. O contato direto com PSR superou desafios como adesão e continuidade de tratamento. A interprofissionalidade mostrou-se essencial para cuidado integral. O projeto gerou produções científicas apresentadas em congressos e um manual de atenção odontológica à PSR, demonstrando sua relevância extensionista articulada ao ensino e à pesquisa. A iniciativa contribuiu para a formação acadêmica dos estudantes.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto Odonto Pop Rua tem impactado positivamente a PSR, contribuindo efetivamente para ampliar o acesso à saúde bucal da PSR, fortalecendo o vínculo com os serviços de saúde resgatando dignidades. O projeto está promovendo melhorias concretas na formação discente e na qualidade de vida dos usuários atendidos. A extensão universitária se mostra fundamental para ampliar esse atendimento e sensibilizar futuros profissionais da saúde.
NOTA TÉCNICA (NT) SOBRE O ACESSO E CUIDADO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO SUS-BH
Pôster Eletrônico
1 SMSA-BH
Período de Realização
A NT foi construída pela Coordenação de Equidade e Populações Vulnerabilizadas em 06 meses.
Objeto da experiência
Nota técnica sobre o acesso e cuidado da população em situação de migração na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH
Objetivos
Descrever o processo de elaboração da NT, em resposta às demandas surgidas na interface com a sociedade civil, movimento social, etc. A NT objetiva informar os profissionais da APS sobre a presença da população migrante, refugiada, apátrida e retornada no município e orientar quanto às suas especificidades.
Descrição da experiência
A elaboração da NT se pautou na necessidade de formar a rede de saúde sobre as singularidades da população migrante residente em Belo Horizonte. Diante da discriminação e exclusão social vivenciadas, inclusive a violência institucional, optou-se pela criação de um documento com alto teor teórico, diretrizes objetivas e comandos específicos para efetiva operacionalização da ampliação do acesso e da qualificação do cuidado em saúde desses usuários.
Resultados
A NT, elaborada por equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogo e médica de família e comunidade, foi validada internamente pela gerência e diretoria de referência da Secretaria Municipal de Saúde, após aprovação dos coletivos de pessoas migrantes tendo sido publicada no portal da prefeitura (disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes). O próximo passo é a execução de cronograma de divulgação junto aos profissionais de saúde da rede.
Aprendizado e análise crítica
Segundo o Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA - Departamento da Polícia Federal / Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP), Minas Gerais conta com o registro, até 2024, de 76.995 mil pessoas migrantes, dos quais 27.267 pessoas residem em BH. Segundo dados do SISREDE (2023), há cadastradas 10.186 pessoas migrantes na Rede SUS-BH. Dessa forma, a qualificação da oferta dos serviços de saúde a estes povos é de suma importância.
Conclusões e/ou Recomendações
A elaboração da NT ocorreu pela necessidade de formação de profissionais da rede municipal de saúde quanto às singularidades do atendimento aos migrantes, devendo ser consideradas suas características socioculturais. Deve-se garantir o atendimento a esses indivíduos, sejam eles indocumentados ou com documentação expirada no Brasil, sendo que o maior impacto da indocumentação ocorre sobre pessoas racializados, LGBTQIA+ e mulheres.
ROLETA DA PREVENÇÃO: TECNOLOGIA EDUCACIONAL LÚDICAPARA ENFRENTAMENTO DAS ISTS NO CARNAVAL
Pôster Eletrônico
1 SMS Arapiraca
Período de Realização
fevereiro e março de 2025
Objeto da experiência
Tecnologia Educacional para prevenção de infecções sexualmente trasmissíveis
Objetivos
Descrever a construção e aplicação da “Roleta da Prevenção Combinada” como ferramenta educativa e lúdica voltada à prevenção de ISTs durante o período carnavalesco
Descrição da experiência
Trata-se de um relato de experiência descritivo, realizado por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca/AL entre fevereiro e março de 2025. A ação utilizou uma roleta temática com quatro categorias (ISTs, preservativos, PrEP e PEP), complementada por um quiz com oito perguntas de múltipla escolha. As atividades ocorreram em espaços públicos e privados, com foco em envolver o público por meio de metodologias participativas e linguagem acessível.
Resultados
A ação atingiu um público diversificado em regiões centrais e áreas comerciais. Apesar de não ter sido possível estimar o número total de participantes, observou-se alta adesão e engajamento. Muitos participantes desconheciam aspectos básicos sobre ISTs e os métodos preventivos ofertados pelo SUS. A abordagem lúdica facilitou a sensibilização e o vínculo, permitindo orientar sobre serviços de saúde como UBS e Centros de Testagem e Aconselhamento.
Aprendizado e análise crítica
A iniciativa demonstra o potencial das tecnologias educativas lúdicas como ferramentas de educação permanente em saúde e aponta para a importância de sua incorporação nas ações regulares de promoção e prevenção no SUS. Sugere-se a ampliação de estratégias semelhantes em períodos festivos e escolares, com apoio intersetorial e financiamento para fortalecimento da atenção básica e vigilância em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou a eficácia da roleta como tecnologia educacional para abordar a prevenção combinada de ISTs de forma atrativa, promovendo o acesso à informação e ao cuidado integral em saúde sexual.A principal limitação foi a ausência de um sistema de registro de participantes, o que impossibilitou a coleta de dados quantitativos mais precisos sobre o impacto da ação.
“OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO AO NOME SOCIAL”. UM OLHAR SOBRE A FALTA DE DADOS DA POPULAÇÃO LGBT ASSISTIDA PELO SUS.
Pôster Eletrônico
1 MS/INCA e UFF/PP
Período de Realização
De 2023 a 2024.
Objeto da experiência
Unidade pública de alta complexidade em oncologia no Estado do Rio de Janeiro
Objetivos
Problematizar a questão do nome social e dos dados em torno dos direitos básicos à saúde da população LGBT a partir da experiência em unidade de alta complexidade em oncologia, pertencente ao SUS no Estado do Rio de Janeiro.
Metodologia
Uma paciente – mulher trans – chega à unidade de saúde de alta complexidade em oncologia vinculada ao Ministério da Saúde, no Estado do Rio de Janeiro, num certo final de semana do segundo semestre de 2023. Requer o direito de ser chamada por seu nome social junto a equipe multiprofissional de saúde que lhe prestava assistência. A equipe não sabia lidar com a situação, é a primeira vez que ocorre; lança o nome social no campo observação do prontuário físico porque não havia outra possibilidade.
Resultados
O evento descrito provocou uma série de reuniões (a fim de se compreender e planejar soluções no menor tempo) entre os diversos corpos profissionais da unidade, nas quais fui chamado a participar na condição de supervisor de área responsável pelos cadastros de pacientes e profissionais. Concluiu-se que a unidade descumpria legislação federal, que as ações deveriam ser rápidas, no sentido de possibilitar a operacionalização com segurança do nome social nos meios físico e digitais da unidade.
Análise Crítica
Após sete anos de atraso a unidade se voltou à legislação (Decreto 8.727/16), que está sujeita, apenas pela chegada de sujeito de direito. Evidenciou-se que políticas inclusivas do nome social e de saúde integral da população LGBT estavam enfraquecidas na ponta pelo despreparo preconceituoso da unidade. Há necessidade dos sistemas de governo em saúde SIA, SIH, etc. captarem dados da população LGBT, o que não é feito hoje, como também ocorre nas pesquisas populacionais com o Censo e as PNADs.
Conclusões e/ou Recomendações
O relatado mostra que não bastam políticas macro no sentido da garantia da saúde da população LGBT, deve-se exigir antes da necessidade dos sujeitos de direito os meios de acesso. Uma alternativa é criar campos nos sistemas do SUS para indicação de uso do nome social e gênero, como há para sexo, idade, estado civil, etc. Isso pode ser feito por portaria do MS. Por outro lado, a falta desse campo favorece a invisibilidade da população LGBT.
A IMPORTÂNCIA DA MICROPOLÍTICA DO CUIDADO NA ABORDAGEM ÀS DOENÇAS SOCIALMENTE DETERMINADAS NO CONTEXTO DA APS: UM RELATO DE CASO
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA BAHIA
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Período de Realização
A experiência foi realizada entre abril a dezembro de 2024
Objeto da experiência
Homem negro, 24 anos, desempregado morador da periferia de um município baiano, com suspeita de Tuberculose associada a sintomas psicóticos.
Objetivos
Identificar as fragilidades da Rede de Atenção à Saúde na abordagem a doenças socialmente negligenciadas no SUS. Utilizar a micropolítica do cuidado e o trabalho colaborativo para abordagem às pessoas com doenças socialmente negligenciadas na APS.
Descrição da experiência
A médica de família e comunidade realizou abordagem centrada no usuário, competência cultural e demora permitida. Ressaltou a importância do fortalecimento espiritual, informou que o diagnóstico e o tratamento de suas condições seriam garantidos pelo SUS, disponibilizou automóvel do serviço iria garantir o acesso aos serviços. Antipsicótico, por via injetável. Confirmado diagnóstico de tuberculose (TB) e melhora do quadro de saúde mental, instituído o tratamento e pactuado o acompanhamento regular na USF.
Resultados
No período de seis, meses foram realizados encontros para reavaliação, realização de exames complementares e avaliação adesão terapêutica adequada. Houve a necessidade de internamento social, devido a insegurança alimentar e negação por parte do município da oferta da cestas básicas garantidas pelo SUS para os pacientes com TB. Houve, recuperação ponderal, melhora dos sintomas clínicos e cura ao fim do tempo habitual estipulado para o tratamento.
Aprendizado e análise crítica
A micropolítica de cuidado é essencial para abordagem às populações de territórios expostos às vulnerabilidades sociais. Diretrizes e protocolos de tratamento são ferramentas para embasar decisões clínicas. Mas é preciso reconhecer que as evidências científicas se tornam pouco relevantes quando o esgoto passa na porta da cozinha, a fome entra pelas janelas e o racismo institucional e geográfico impedem o acesso dos usuários ao cuidado em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Portanto, conseguir cuidar dessas pessoas de forma resolutiva, em condições tão adversas, é uma das maiores evidências da importância do trabalho desenvolvido pelas Equipes de ESF. É preciso reconhecer a importância do trabalho vivo realizado neste nível de atenção para redução das iniquidades em saúde e para o fortalecimento do SUS.
SAÚDE E ESCOLA: PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO PROJETO FINAL DE GESTOR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 FCTS
Período de Realização
Maio de 2025
Objeto da experiência
Atividades de promoção da saúde desenvolvidas com crianças de 10 anos na Escola
Classe 15 de Ceilândia, DF.
Objetivos
Promover práticas de promoção da saúde no ambiente escolar, estimulando o protagonismo
infantil por meio de escuta ativa, atividades lúdicas, fortalecimento de vínculos e criação de
espaços saudáveis, além de integrar teoria e prática para formação dos estudantes da FCTS.
Descrição da experiência
Foram realizadas seis visitas na Escola Classe 15, utilizando metodologias participativas,
como rodas de conversa, brincadeiras dirigidas, dia do desenho, sessão de cinema e
campeonato de futebol. As ações foram definidas a partir das demandas das crianças,
levantadas por meio de escuta ativa, priorizando o fortalecimento de vínculos, lazer,
criatividade e bem-estar.
Resultados
As atividades proporcionaram melhorias no convívio social e bem-estar das crianças,
atendendo demandas de recreação, lazer e expressão artística. Para os estudantes da FCTS, a
vivência fortaleceu competências como empatia, planejamento, trabalho em equipe e
compreensão dos determinantes sociais da saúde, além de reforçar a importância do brincar
como estratégia de promoção da saúde.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revelou que ações simples, como brincadeiras, filmes e atividades artísticas,
impactam significativamente o bem-estar infantil. Também evidenciou desafios na mediação
de conflitos, na organização dos grupos e na gestão do comportamento, reforçando a
importância da escuta ativa, da empatia e da humanização nas práticas em promoção da
saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se que escolas fortaleçam atividades lúdicas como estratégia de promoção da
saúde e bem-estar. O trabalho intersetorial, com escuta qualificada e participação social, deve
ser ampliado, visando ambientes saudáveis e desenvolvimento integral. A vivência mostrou-se essencial para a formação crítica e humanizada dos futuros profissionais da saúde.
AGENTES POPULARES DA JUVENTUDE: FORTALECIMENTO DO TERRITÓRIO POR MEIO DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz- Brasília
2 universidade catolica de Brasília
Período de Realização
Realizado em maio de 2025
Objeto da experiência
Realização de roda de conversa no eixo dois do curso de Agentes Populares de Saúde do SUS Juventudes DF, com foco em saúde mental e redes sociais.
Objetivos
Roda de conversa com a participação dos jovens do curso sobre os impactos das mídias na saúde mental dos jovens e como promover as estratégias de cuidado.
Metodologia
Foi realizada uma roda de conversa iniciada com música sobre o sofrimento mental. OS jovens compartilharam o trecho que de identificaram. Após foi exibido vídeo sobre redes sociais e a cultura da perfeição houve falas sobre conflitos familiares, falta de acesso e apoio à informação,
os gatilhos relacionados ao uso excessivo de filtros e à comparação nas redes, reconhecendo os riscos e a dificuldade de se expor sem esses
Resultados
A atividade proporcionou um ambiente seguro de escuta; os jovens se sentiram confortáveis em compartilhar suas vivências. Relataram que a falta de diálogo familiar, informação dificulta o cuidado. Mesmo reconhecendo que as mídias contribuem para o adoecimento, a maioria diz que não postaria uma foto sem filtro, trazendo reflexões sobre a complexidade entre saber e agir diante das mídias sociais.
Análise Crítica
Os jovens possuem compreensão dos gatilhos que afetam a saúde mental, como os impactos das redes sociais, mas muitos ainda se sentem inseguros e cedem às pressões sociais de perfeição. Por isso, é essencial ampliar os espaços de diálogo, escuta e acolhimento, favorecendo o cuidado coletivo. A experiência reafirma o papel fundamental da educação popular em saúde como estratégia pedagógica de fortalecimento do protagonismo juvenil e da construção de redes solidárias de cuidado.
Conclusões e/ou Recomendações
A ampliação dos espaços de diálogo contínuo com foco nos impactos das mídias sobre o adoecimento mental, com escuta ativa e metodologias que dialoguem com as estratégias de cuidado, autocuidado e construção de redes de apoio, é fundamental para o fortalecimento da saúde mental juvenil.
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E SAÚDE MENTAL NO SUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET SAÚDE- GRUPO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE UNISINOS/SMS POA/RS.
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
2 Universidade do Rio do Sinos/RS
Período de Realização
Foi realizada de maio de 2024 a junho de 2025
Objeto da experiência
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET) Equidade, visa promover a equidade no ambiente de trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS)
Objetivos
O objetivo deste relato é apresentar as atividades desenvolvidas pelo grupo II- Educação Permanente do PET Saúde- Equidade- Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre/Universidade do Rio do Sinos RS.
Metodologia
Ações realizadas foram: reuniões semanais, seminários, produção de materiais educativos, visitas técnicas, participação em eventos, promovendo a integração entre ensino, serviço e comunidade, realização de seminários sobre equidade, raça, gênero e capacitismo, a criação e divulgação de materiais educativos, oficinas e gravação de três Podcast, visitas a Vigilância em Saúde, reuniões com a Rede de Atenção Psicossocial, apresentação do Sistema Sentinela (Software de notificações de agravos)
Resultados
Através das atividades de letramento e aprofundamento em temáticas sobre equidade, com ênfase na saúde mental dos trabalhadores (as) no SUS. Evidenciou-se a relevância da articulação ensino-serviço-comunidade na formação de profissionais comprometidos com a equidade.
Análise Crítica
A abordagem participativa e o uso das redes sociais ampliaram o alcance das ações, ressaltando-se a necessidade de continuidade para consolidar mudanças nas práticas institucionais e no fortalecimento da equidade no SUS. que fortaleceram a integração com os serviços locais e sensibilizaram trabalhadores (as) e a comunidade sobre a importância da equidade e da promoção da saúde mental no ambiente de trabalho.
Conclusões e/ou Recomendações
Ampliar as ações desenvolvidas pelo PET- Saúde Equidade é essencial para consolidar a promoção da equidade e da saúde mental no SUS, garantindo ambientes mais inclusivos e profissionais mais valorizados.
RELATO DE VIVÊNCIA NO VER SUS CENTRO-OESTE: DESAFIOS E AVANÇOS NA SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL E REGIÕES VIZINHAS"
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ DF
Período de Realização
A experiência ocorreu de 07 a 13 de julho de 2025, no Distrito Federal (DF)
Objeto da experiência
O programa VER SUS Centro-Oeste emergiu nas realidades do SUS, focando nas disparidades e comunidades vulneráveis.
Objetivos
Relatar a vivência no VER SUS Centro-Oeste sob a perspectiva de uma moradora do DF. O programa visou proporcionar um entendimento crítico sobre as desigualdades no acesso à saúde, explorar a diferença entre os contextos urbano e rural, e compreender a atuação do SUS em comunidades vulneráveis.
Descrição da experiência
A imersão contou com a participação de 60 pessoas, entre universitários e residentes da saúde, dos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e DF. Durante a semana, foram realizadas visitas a diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), urbanas e rurais, o Hospital Universitário de Brasília (HUB), Acampamento 8 de Março,morada do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e à CASAI, que é responsável pela saúde indígena e articula atendimentos em todos os níveis de atenção do SUS.
Resultados
As visitas e imersões revelaram disparidades significativas no atendimento entre zonas urbanas e rurais. Em algumas UBS rurais, a infraestrutura era precária, com escassez de médicos. Já em áreas urbanas, a sobrecarga e a falta de recursos humanos prejudicam a qualidade do atendimento. A experiência também destacou como fatores como a cor da pele e a moradia afetam o acesso aos serviços de saúde, evidenciando a necessidade de uma maior equidade na oferta de serviços públicos.
Aprendizado e análise crítica
A experiência proporcionou uma nova compreensão sobre as desigualdades no SUS, evidenciando que, embora o sistema seja universal, as condições variam imensamente entre as regiões. O principal aprendizado foi a importância de se fortalecer a atenção primária à saúde e a articulação entre os diversos níveis de atendimento. A visita ao Acampamento 8 de Março e à CASAI também expôs as dificuldades enfrentadas por populações vulneráveis, reforçando a necessidade de políticas públicas mais inclusivas.
Conclusões e/ou Recomendações
Participar do VER SUS Centro-Oeste despertou uma visão crítica e propositiva sobre o SUS. A principal recomendação é a necessidade de maior integração entre os níveis de atenção. Além disso, é crucial fortalecer a formação de profissionais de saúde para garantir um atendimento mais adequado às especificidades de cada população, além de ampliar a oferta de recursos nas UBS e hospitais universitários, com foco na equidade.
TÍTULO: CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO BOLSA FAMÍLIA: USO DE FERRAMENTAS DE GEOTECNOLOGIA NO APRIMORAMENTO DE RESULTADOS DE SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
Período de Realização
Trabalho realizado entre dezembro de 2024 e abril de 2025
Objeto da experiência
Relatar a experiência do município por aprimorar o acompanhamento das condiconalidades de saúde dos beneficiários do Bolsa Família.
Objetivos
Identificar beneficiários que não estavam identificados no cadastro das unidades básicas de saúde.
Ofertar acompanhamento para usuários identificados como condicionalidades da saúde.
Apoiar as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), quanto ao acesso de beneficiários no seu território adscrito.
Descrição da experiência
Foi desenvolvido entre a área Técnica de Nutrição, área Técnica do Território e o setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde de Betim. Relizadas a extração dos dados do SISAB, dos beneficiários do semestre vigente; Interface de dados com o cadastro; Sobreposição dos dados de identificação e a distribuição destes por ESFs, Sobreposição dos dados geográficos com a malha territorial das áreas das ESFs; Geração de listas subsidiando ações territoriais específicas.
Resultados
A implantação do georreferenciamento permitiu identificar mais de 10 mil usuários que residiam em áreas cobertas por ESF, embora não estavam cadastrados e acompanhados pela ESF. Foi possível direcionar a ESF para realizar busca ativa domiciliar; Atualizar cadastros na APS; Ampliar o número de acompanhamentos; Reduzir o descumprimento das condicionalidades da Saúde; Subsidiar ações de educação permanente quanto à importância da qualidade dos dados de endereço.
Aprendizado e análise crítica
A experiência do município de Betim reforça a relevância do uso de ferramentas de geotecnologia na integração intersetorial entre saúde e assistência social. A ausência de dados precisos compromete a efetividade das políticas públicas, especialmente aquelas que dependem de territorialização, como o PBF e a ESF. O georreferenciamento se mostrou um recurso essencial para a vigilância ativa de populações vulneráveis, otimizando o planejamento e a tomada de decisões no território.
Conclusões e/ou Recomendações
O apoio das áreas de tecnologia e território reforçaram o registro e o acesso da população aos serviços de acompanhamento da saúde.
Permitiu agilidade na comunicação da área Técnica junto às ESF para que as acoes sejam realizadas de forma assertiva.
AVANÇOS E DESAFIOS NA PESQUISA PARA PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz/ VPAAPS
Período de Realização
Sistematização dos resultados e seminário de integração no ano de 2023.
Objeto da experiência
Indução e fortalecimento de pesquisas territorializadas na Fiocruz, através de edital de fomento.
Objetivos
O objetivo do edital foi induzir, articular e fortalecer ações territorializadas para promover saúde e sustentabilidade nos territórios, num cenário de pandemia e pós-pandemia de Covid-19 e gerar conhecimento em Territórios Sustentáveis e Saudáveis (TSS) que possa ser utilizado em outros contextos.
Descrição da experiência
O edital foi uma parceria entre o Programa Institucional de Territórios Sustentáveis e Saudáveis e o Programa Inova, ambos da Fiocruz. Foram selecionados 12 projetos que concluíram suas pesquisas em 2023. Essas iniciativas envolveram 10 unidades da Fiocruz, atuando em mais de 50 municípios e 11 estados. Abordaram uma grande variedade de temas, dialogando com agendas estratégicas da instituição. Estabeleceram parcerias importantes com setores do governo, da sociedade civil e movimentos sociais.
Resultados
Destaque para o desenvolvimento de estratégias de comunicação e metodologias participativas, promovendo um conhecimento compartilhado e permitindo uma conexão entre pesquisadores e as comunidades. Foram realizados cursos e atividades de formação envolvendo os moradores, além do desenvolvimento de tecnologias sociais e novas formas de governança. Também houve o estabelecimento de articulações com gestores locais, construção de redes e um seminário final de integração entre as equipes.
Aprendizado e análise crítica
O edital fortaleceu pesquisas que geraram resultados positivos nos territórios e contribuíram para o debate científico e discussões comunitárias. Evidenciou a importância de uma distribuição regional e da diversidade de temas, enriquecendo estratégias de enfrentamento e apoio as redes colaborativas. Entre os desafios identificou-se dificuldades de financiamento de atividades comunitárias e à garantia da continuidade das ações nos territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
As experiências com o edital de TSS demonstram a importância de abordagens que reconheçam, valorizem e apoiem os conhecimentos originários das lutas dos territórios, para o enfrentamento das múltiplas crises, contribuindo para o fortalecimento do SUS local. O seminário apontou a necessidade de bolsas para pesquisadores locais, ações intersetoriais e comunicação popular, reconhecendo o potencial das redes de cuidado para promoção da saúde.
ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES E DAS OPRESSÕES NO TRABALHO E NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: O PET-SAÚDE - EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP
Pôster Eletrônico
1 UNIFESP
Período de Realização
Maio/2024 a Maio/2025
Objeto da experiência
Projeto Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde): Equidade da Universidade Federal de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde de Diadema/SP
Objetivos
Descrever a experiência dos Grupos de Aprendizagem Tutorial vinculados ao PET-Saúde: Equidade da Universidade Federal de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde de Diadema/SP
Descrição da experiência
O PET-Saúde é uma ação interministerial conduzida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, objetivando a qualificação da integração ensino-serviço-comunidade. Em sua 11ª edição toma a equidade como tema condutor na valorização das trabalhadoras e futuras trabalhadoras da saúde. A UNIFESP e a Secretaria Municipal de Saúde de Diadema conduzem quatro grupos tutoriais desenvolvendo ações para o enfrentamento das desigualdades e das opressões no trabalho e na formação em saúde.
Resultados
Iniciou-se com ações de formação sobre a interface da raça, gênero e classe social no trabalho na saúde, objetivando o alinhamento teórico-conceitual e metodológico dos participantes. Houve a integração precoce de movimentos sociais e coordenadorias municipais nas ações do projeto, incentivada pela orientadora de serviço. Na segunda etapa, os grupos tutoriais desenvolveram ações para identificação das opressões e desigualdades observadas nas Unidades Básicas de Saúde que participam do projeto.
Aprendizado e análise crítica
A lente da interseccionalidade foi fundamental para análise crítica do trabalho e da formação na saúde, identificando as estruturas de opressão que operam nos serviços de saúde e na universidade. A articulação política com movimentos sociais e coordenadorias ampliou a discussão no território, favorecendo a continuidade do projeto, especialmente, após as eleições municipais. O eixo ensino-aprendizagem-trabalho contribuiu para os horizontes das formações inicial e permanente.
Conclusões e/ou Recomendações
O trabalho e a formação em saúde carecem do aprofundamento acerca da perspectiva da interseccionalidade para identificar e para propor enfrentamentos às estruturas e sistemas de opressão que mantêm as desigualdades na formação e no trabalho que afetam especialmente as trabalhadoras e futuras trabalhadoras do SUS. A participação dos movimentos sociais favorece a ampliação das ações, fortalecendo a luta pela justiça social no trabalho na saúde.
PLANO POPULAR DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS, SUSTENTÁVEIS E SOLIDÁRIOS: TABIRA/PE ACELERANDO AS METAS DA AGENDA 2030 DOS ODS.
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília
2 Fiocruz Brasilia
Período de Realização
A Oficina de Diálogos Prospectivos, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2025,.
Objeto da experiência
Articulação das metas da Agenda 2030 com a determinação socioambiental para orientar ações de desenvolvimento territorial saudável, sustentável e solidário.
Objetivos
Objetivo: construir coletivamente propostas para a melhoria das condições de vida e bem-estar da população local, a partir de uma abordagem de "Uma Só Saúde" para tornar o desenvolvimento territorial saudável, sustentável e solidária, acelerando o alcance das metas da Agenda 2030 dos ODS.
Descrição da experiência
A Oficina de Diálogos Prospectivos contou com a participação de 100 pessoas. Entre eles estiveram presentes: Sindicatos, Rede de Mulheres, Igreja, Universidade Estadual de Pernambuco, Prefeitura de Tabira, Prefeitura de Solidão, SMS de Tabira, Fiocruz Pernambuco, VPAAPS e Fiocruz Brasília. O foco principal da oficina foi a definição participativa do mapa de riscos socioambiental e do Plano de ações prioritárias, com base no diagnóstico comunitário e validação coletiva das propostas.
Resultados
A interação entre os atores possibilitou a construção de um mapa digital com os fatores classificados em ameaças, vulnerabilidades e potencialidades locais que orientou a elaboração do Plano Popular de Desenvolvimento Territorial Saudável, Sustentável e Solidário, a criação do Comitê Local e o Colaboratório UPE_Fiocruz, a partir de destas estruturas o plano será implementado, em setembro iniciará o curso de formação de pesquisadores populares em governança para o desenvolvimento territorial.
Aprendizado e análise crítica
Tabira, município localizado no semiárido enfrenta um conjunto de vulnerabilidades que impactam diretamente a vida de sua população. A escassez hídrica, a precariedade na infraestrutura básica e as desigualdades sociais acentuam as dificuldades do território. A partir do plano de ação participativo, foram identificadas muitas ameaças, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa característica poderá dificultar a implementação das ações que foram priorizadas.
Conclusões e/ou Recomendações
A comunidade ficou baste envolvida e com expectativas que não podem ser frustradas, assim, a parceria Fiocruz e UEPE na construção do Colaboratório deve assumir a responsabilidade por estabelecer os vinculos necessários entre os atores sociais e governamentais e pelo fornecimento de informações sistematizadas para orientar as ações da comunidade.
MORTE E LUTO NA ATENÇÃO PRIMARIA PRISIONAL: PERDAS REAIS E SIMBÓLICAS NO CUIDADO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
Pôster Eletrônico
1 UNB
2 SES DF
3 SESAB BA
Período de Realização
Entre 2021 e 2025.
Objeto da experiência
Refletir como as pessoas privadas de liberdade expressam seus sofrimentos diante da morte e luto, por perdas reais e simbólicas no cenário do cárcere.
Objetivos
Identificar as especificidades desses sofrimentos, pela perspectiva da “dor total” relacionadas ao encarceramento;
Relacionar com as teorias já existentes sobre morte e luto;
Refletir sobre como a MFC e o cenário da APS podem se relacionar com o cuidado de internos com esses sofrimentos.
Metodologia
Relato de experiência em Unidade Básica de Saúde Prisional, refletindo sobre o sofrimento de pessoas privadas de liberdade diante de perdas reais e simbólicas. A partir da vivência com internos em regimes provisório e fechado, discute-se o luto, a perda da autonomia, a dignidade e a busca de sentido diante de uma realidade marcada por rupturas, violência e morte social. À luz de teorias de luto e cuidados paliativos, refletiu-se sobre práticas que resgatem autonomia e humanidade.
Resultados
A escuta qualificada, a presença sensível e o reconhecimento do sofrimento como legítimo foram fundamentais para qualificar o cuidado em saúde. A aplicação dos princípios dos cuidados paliativos no ambiente prisional contribuiu para a humanização do atendimento, fortalecimento do vínculo e possibilitaram abordagens mais humanizadas e significativas diante do luto, da dor total e da perda de sentido vivida pelos internos.
Análise Crítica
A prática revelou que o sofrimento no cárcere é profundo, multifacetado e frequentemente invisibilizado. A prática revelou a potência dos cuidados paliativos como ferramenta ética e relacional, mesmo em contextos de não-terminalidade, ampliando a compreensão sobre dignidade e presença terapêutica. O desafio é tensionar estruturas institucionais que fragilizam subjetividades e construir espaços de cuidado onde ainda predomina o controle e a exclusão.
Conclusões e/ou Recomendações
Reconhecer o luto, a dor total e a perda de sentido vividos nas prisões é essencial para promover um cuidado mais digno e humano. A atuação em saúde nesse contexto exige compromisso ético, presença e escuta, mesmo com limites institucionais. Os cuidados paliativos oferecem caminhos valiosos para uma atuação sensível e ética na saúde prisional, resgatando a dignidade em espaços marcados por dor, violências e silenciamento.
INTERVENÇÃO INTERSETORIAL EM SAÚDE EM MUNICÍPIO RURAL E REMOTO AMAZÔNICO
Pôster Eletrônico
1 UFPR
2 UEL
3 UFPB
4 Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (Fiocruz Amazônia)/ Hospital Sírio Libanês
5 Hospital Sírio Libanês
6 Secretaria Municipal de Saúde de Nhamundá
Período de Realização
As atividades ocorreram ao longo do Projeto Residências/Proadi-SUS, durante o mês de julho de 2023
Objeto da experiência
A experiência teve como foco ações intersetoriais em saúde e educação para crianças e comunidades ribeirinhas, promovendo autonomia e integração local
Objetivos
Compartilhar a vivência de uma equipe multiprofissional em saúde, ao longo das atividades realizadas no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), no município de Nhamundá, localizado no Amazonas.
Metodologia
A experiência integrou ações intersetoriais de saúde, atendendo cerca de 187 crianças com atividades sobre higiene bucal, higiene das mãos, alimentação saudável, escovação supervisionada, aplicação de flúor e atividades físicas. A equipe também percorreu comunidades em embarcação, promovendo a educação em saúde, a proteção ambiental e o fortalecimento comunitário por meio de estratégias adaptadas à realidade local
Resultados
A experiência contribuiu para o fortalecimento da promoção da saúde, da educação ambiental e do vínculo comunitário. Sendo assim, a articulação entre setores possibilitou ações integradas, oportunizando a participação ativa da população, com incentivo a autonomia e reforço do compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ONU), ao ampliar o acesso à saúde, à prevenção de doenças e à informação em territórios remotos
Análise Crítica
A atuação com a população ribeirinha evidenciou como educação em saúde, autonomia e controle social impactam na qualidade de vida. As ações em saúde permitiram vínculos com as comunidades, enfrentando desafios como saneamento precário e acesso limitado, enquanto que o diálogo com os moradores e o olhar ampliado dos profissionais contribuíram para identificar vulnerabilidades existentes
Conclusões e/ou Recomendações
Apesar dos desafios logísticos, a estratégia mostrou potencial de continuidade e impacto positivo nos hábitos de saúde e no vínculo com os serviços de saúde pela população
BENEFÍCIO DO VALE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA E INCENTIVO A ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE (TB) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ) .
Pôster Eletrônico
1 Gerência de Tuberculose, Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ.
Período de Realização
A experiência retratada iniciou-se em janeiro de 2024 e segue em curso.
Objeto da experiência
Ampliar o acesso e garantir celeridade na concessão do Vale Social, que assegura transporte gratuito, às pessoas em tratamento de tuberculose.
Objetivos
Ampliar acesso ao Vale Social em municípios com alta carga de TB no RJ. Inserir sistematicamente o atendimento do serviço social na linha de cuidado para garantir direitos e benefícios. Promover inclusão social, igualdade e acesso ao tratamento adequado para todas as pessoas com TB.
Descrição da experiência
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade, representadas respectivamente pela Gerência de Tuberculose e pela Coordenação do Vale Social, articularam esforços para otimizar a concessão do Vale Social às pessoas em tratamento de tuberculose. Essa articulação visa reduzir o tempo de disponibilização do benefício, enfrentando as altas taxas de incidência, mortalidade e interrupção do tratamento no estado.
Resultados
Foram implantados polos descentralizados do Vale Social em quatro municípios do Rio de Janeiro com alta incidência de tuberculose, como pilotos do projeto. Isso permitiu identificar desafios e estratégias para operacionalização, resultando em aumento de solicitações e deferimentos, além da sistematização de fluxos e formalização de cooperação técnica entre órgãos, e uma redução de 84,44% no tempo de concessão do benefício.
Aprendizado e análise crítica
O Vale Social oferece isenção de tarifa de transporte intermunicipal para pessoas com doenças crônicas no Rio de Janeiro. Embora haja um fluxo legal definido, a execução enfrenta entraves nos municípios. Para superar essa lacuna, propôs-se um fluxo integrado que combine saúde e mobilidade urbana, facilitando o acesso ao benefício nos territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
A implementação de polos descentralizados do Vale Social nos municípios com alta carga de tuberculose no Estado do Rio de Janeiro tem se apresentado como estratégia eficaz na garantia de acesso ao tratamento da tuberculose, ao fortalecimento da equidade e proteção social. Recomenda-se, portanto, a possibilidade de expansão dessa iniciativa para outros municípios do estado que enfrentam desafios semelhantes.
INCLUSÃO DA(O) ASSISTENTE SOCIAL NO FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM TUBERCULOSE (TB) NA CAP 3.2 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Estado de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
2 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
Período de Realização
A experiência começou em junho de 2023 e continua sendo uma iniciativa relevante atualmente.
Objeto da experiência
Inclusão de assistentes sociais no fluxo de atendimento às pessoas com TB na CAP 3.2, no município do Rio de Janeiro, sob a perspectiva do cuidado integral.
Objetivos
Identificar e intervir nos fatores de vulnerabilidade social dos usuários que iniciaram o tratamento de Tuberculose (TB). Auxiliar no cuidado ao usuário cm TB e na melhoria dos desfechos com cura.
Descrição da experiência
A TB é um desafio de saúde pública no MRJ, especialmente por sua ligação com fatores de vulnerabilidade social. Na CAP 3.2, assistentes sociais passaram a realizar entrevistas padronizadas desde junho de 2023 para identificar e intervir nos aspectos sociais que podem impactar o tratamento, promovendo um cuidado mais amplo e garantindo direitos, além de revisar os percursos terapêuticos dos usuários.
Resultados
A implantação do fluxo de atendimento dos(as) assistentes sociais garante um cuidado mais amplo ao usuário, fortalecendo o acolhimento, a vinculação com a equipe de saúde e sensibilizando sobre fatores sociais que afetam a adesão ao tratamento. Também orienta sobre direitos, benefícios e encaminhamentos à rede, promove avaliação de contatos, orientação sobre Testes Rápidos e redução do estigma. O monitoramento ocorre em reuniões entre equipes para identificar avanços e desafios.
Aprendizado e análise crítica
O novo processo de trabalho valoriza o atendimento interdisciplinar e a articulação multiprofissional para garantir cuidado integral. A entrevista social ajuda a identificar vulnerabilidades sociais, qualificando os dados e apoiando decisões mais assertivas. Apesar do planejamento participativo, foi fundamental realizar reuniões de monitoramento com assistentes sociais, demais profissionais e gestores das unidades de APS para aprimorar a implantação.
Conclusões e/ou Recomendações
A integração de assistentes sociais no atendimento à TB no Rio de Janeiro é fundamental para ampliar o cuidado, aumentar as chances de cura e reconhecer os determinantes sociais da doença. Essa estratégia apoia as metas de eliminação da TB até 2030, permitindo identificação e intervenção precoce em fatores sociais que afetam a adesão ao tratamento. A experiência já está sendo expandida às demais Coordenadorias Gerais de Atenção Primária do município.
DISSEMINAÇÃO DA PNSIPN NO PET-SAÚDE EQUIDADE PARA A FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL ANTIRRACISTA E O COMBATE ÀS INIQUIDADES EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UEL
2 AMS Londrina
Período de Realização
março a maio de 2025
Objeto da experiência
A disseminação da PNSIPN no PET-Saúde Equidade como base para o desenvolvimento de estratégias para formação multiprofissional antirracista.
Objetivos
Aproximar estudantes da PNSIPN, com o propósito de compreender e elaborar estratégias para a formação multiprofissional na Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) tem como objetivo combater as desigualdades raciais na saúde, reconhecendo o racismo como determinante social. O GAT 1 PET-Saúde Equidade atuou para aproximar estudantes e profissionais, visando compreender a PNSIPN e traçar estratégias para formação multiprofissional na Atenção Primária à Saúde. Isso ocorreu via reuniões, oficinas e capacitações, de modo a integrar ensino, serviço e comunidade com vistas a promover equidade na saúde.
Resultados
Os participantes do GAT-1 (estudantes, tutores, preceptores, coordenador) leram a PNSIPN de modo a analisar e refletir sobre o documento e propor intervenções na saúde. Foram realizadas reuniões e palestras. Além disso, participaram da Plenária Municipal de Saúde da População Negra do município de Londrina, aprofundando o conhecimento sobre o tema e as discussões locais.
Análise Crítica
As discussões e trocas de experiências no GAT-1 do PET-Saúde Equidade potencializaram o aprendizado e a análise crítica dos estudantes, estimulando uma formação multiprofissional e interdisciplinar. A experiência reafirmou a urgência de combater o racismo institucional e estrutural na saúde, tornando a formação de profissionais antirracistas uma prioridade para garantir a equidade na atenção à saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Este relato de experiência ressalta a urgência de qualificar estudos e gerar dados para combater o racismo e as iniquidades em saúde. Recomenda-se criar metas de educação continuada para integrar Ensino-Serviço-Comunidade, aprofundando a compreensão da PNSIPN e suas diretrizes. Isso é vital para fortalecer o enfrentamento ao racismo e promover uma saúde mais equitativa.
OLHARES INTERSECCIONAIS NA SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA ENTRE BRASIL E CUBA
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
Período de Realização
O estágio internacional foi realizado no período de 21/04/2025 a 09/05/2025 em Havana, Cuba.
Objeto da experiência
Refletir criticamente a equidade na APS cubana a partir de discursos, práticas e políticas, com foco em marcadores sociais invisibilizados.
Objetivos
Refletir sobre como discursos de igualdade, sem considerar marcadores sociais, podem ocultar desigualdades estruturais. A partir da imersão na APS cubana, analisar limites e potências das políticas de promoção da equidade em contextos de universalidade formal, comparando com o SUS no Brasil.
Descrição da experiência
A vivência envolveu visita a centro psicopedagógicos, unidade de saúde mental e centro de educação sexual. Observou-se um sistema fortemente universalista, com reconhecimento formal de direitos, mas sem políticas interseccionais aplicadas. Questões como racismo, LGBTfobia, capacitismo, machismo e desigualdades territoriais são pouco discutidas institucionalmente. A estrutura do cuidado é igualitária na forma, mas invisibiliza as especificidades de grupos vulnerabilizados.
Resultados
Embora Cuba apresente avanços em indicadores de saúde e políticas universais, o modelo generaliza as necessidades da população. A ausência de dados desagregados por gênero, pouca abordagem sobre a saúde da população negra e invisibilidade das demandas LGBTQIAP+ revelam lacunas no enfrentamento das desigualdades. No Brasil, apesar de fragilidades, políticas de equidade existem formalmente e há espaços para disputas e avanços institucionais com base em dados.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revela que ignorar marcadores sociais compromete a justiça no cuidado. Sistemas universais precisam reconhecer desigualdades estruturais para garantir equidade. A comparação com o SUS aponta que políticas afirmativas e dados desagregados ampliam a visibilidade das diferenças. Cuba avança na estrutura de acesso, mas carece de práticas sensíveis à diversidade. A construção da equidade exige articulação entre discurso, planejamento e práticas concretas com base em direitos humanos.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a ampliação do uso de dados desagregados e políticas específicas a interseccionalidades nos sistemas de saúde. Reconhecer desigualdades para enfrentá-las com ações concretas. A APS, precisa incorporar práticas emancipatórias, com protagonismo dos usuários e valorização das diferenças. A experiência cubana ensina sobre organização e acesso, enquanto o SUS oferece lições sobre pluralidade e disputas democráticas em torno da equidade.
CUIDANDO DE QUEM CUIDA DA GENTE: EXPERIÊNCIA DO PET SAÚDE EQUIDADE UEL E AMS LONDRINA ENTRE 2024 E 2025
Pôster Eletrônico
1 UEL
2 AMS Londrina
Período de Realização
Maio de 2024 a abril de 2025
Objeto da experiência
CUIDANDO DE QUEM CUIDA DA GENTE: EXPERIÊNCIA DO PET SAÚDE EQUIDADE UEL E AMS LONDRINA ENTRE 2024 E 2025
Objetivos
Vivências extensionistas do PET Saúde Equidade UEL e AMS Londrina voltadas à promoção da equidade em saúde na atenção básica do SUS.
Descrição da experiência
O PET Saúde Equidade UEL e AMS Londrina realizou ações de estruturação e mobilização, seleção de bolsistas e divulgação na UEL. Iniciou atividades com formações em saúde mental, interprofissionalidade, PICS, gênero, raça e direitos humanos. Realizou eventos, oficinas, rodas de conversa e produziu materiais acessíveis. Em 2025, as ações foram organizadas por eixos temáticos, com oficinas, ações em UBSs, encontros com a reitoria e construção da Agenda 2025.
Resultados
A experiência integrou estudantes de diversos cursos, docentes, residentes, profissionais do SUS e comunidade. Destacaram-se: produção de materiais acessíveis, visibilidade a temas como racismo e diversidade, escutas nas UBSs, educação popular e práticas interprofissionais. As ações foram avaliadas coletivamente e resultaram em planejamento anual com atividades mensais e temáticas, fortalecendo o cuidado no SUS com inclusão e diálogo entre saberes.
Aprendizado e análise crítica
Os desafios enfrentados incluíram sobrecarga das agendas institucionais, barreiras estruturais no SUS e a necessidade constante de mediação ética e política entre diferentes saberes e atores. O trabalho coletivo possibilitou construir práticas mais justas e efetivas, destacando o papel da extensão universitária como promotora de transformação social e equidade.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência vivenciada no âmbito do PET Saúde Equidade UEL e AMS Londrina evidencia o potencial transformador da articulação entre universidade, serviços de saúde e comunidade na construção de práticas pautadas pela equidade, diversidade e justiça social.
DECOLONIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO: AVANÇOS E DESAFIOS NA PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS, EQUIDADE E DIVERSIDADE
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
Período de Realização
Em curso desde 2023, com a publicação do edital de fomento para conformação da rede de pesquisas.
Objeto da experiência
Edital PMA de pesquisa no tema da equidade com diversidade, como dispositivo no enfrentamento às desigualdades e opressões na sociedade brasileira.
Objetivos
Apresentar os avanços e desafios de indução a pesquisas que adotem perspectiva alternativa aos efeitos deletérios do racismo, entre outros mecanismos de opressão, e o conjunto de reflexões suscitadas no desenvolvimento de um edital para produzir ciência aplicada no campo da saúde coletiva.
Metodologia
No campo da pesquisa em saúde coletiva, o Programa de Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à Saúde (PMA/VPPCB/Fiocruz), propõe estratégias de enfrentamento à manutenção dos poderes que sustentam as iniquidades. Ao longo de 15 anos, trabalha na indução de pesquisas na área de políticas públicas e humanidades, por meio de editais sobre temas estratégicos em saúde para a produção de uma ciência comprometida com a transformação social.
Resultados
Este edital recebeu 102 submissões e aprovou 30 projetos de pesquisa, que passaram pela avaliação técnica-científica, pelo comitê de heteroidentificação, e pela análise de ações afirmativas, que resultaram na escolha de mais unidades e escritórios da Fiocruz fora da sede no Rio de Janeiro. Estes projetos estruturaram uma nova Rede PMA no tema da Equidade com Diversidade, com duração de 3 anos, e que segue na perspectiva de trabalhar a decolonização do conhecimento científico.
Análise Crítica
As estratégias de enfrentamento às desigualdades históricas na produção científica no Brasil ainda são contrahegemônicas, o que traz um grande desafio institucional. Assim, é ainda mais necessário o fomento as pesquisas que adotem perspectivas alternativas à hipervalorização da epistemologia euronortecentrada e da atuação da branquitude estrutural e estruturante da sociedade brasileira que, pela interseccionalidade, atuam de forma desproporcionalmente mais opressora sobre os mais oprimidos.
Conclusões e/ou Recomendações
Fortalecer campos de pesquisa que dialoguem com os diferentes saberes e reverberem nas políticas públicas, traz como perspectiva a busca da transformação dos dispositivos institucionais de fomento em pesquisa. Requer romper a lógica da reprodução das estratégias de manutenção de privilégios da branquitude, e incluir como protagonistas no desenvolvimento das pesquisas os segmentos vulneráveis da população que foram historicamente desvalorizados.
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIRAS OBSTETRAS E OBSTETRIZES SOBRE O AQUILOMBAMENTO CIENTÍFICO COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA EQUIDADE NA CONSTRUÇÃO DO SABER ACADÊMICO
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
2 FSP USP
3 EACH USP
4 EERP USP
Período de Realização
A experiência ocorreu entre janeiro e junho de 2025, por meio de encontros síncronos virtuais semanais.
Objeto da experiência
Capítulo de livro sobre racismo obstétrico (RO), elaborado por enfermeiras obstetras, obstetrizes e estudantes de enfermagem predominantemente negras.
Objetivos
Descrever o processo de escrita de um capítulo de livro sobre RO, entre mulheres predominantemente negras da enfermagem obstétrica.
Descrição da experiência
Encontros semanais reuniram mulheres predominantemente negras da enfermagem obstétrica em um processo de escrita. Utilizou-se o ensaio reflexivo como método, dialogando com literatura nacional e internacional sobre RO. O espaço permitiu troca de vivências, aprofundamento teórico e elaboração de análises sobre o RO. O aquilombamento emergiu como prática política, acadêmica e afetiva, fortalecendo a produção de conhecimento, e das pesquisadoras, frente às estruturas racistas na saúde e na academia
Resultados
A experiência resultou em um capítulo de livro internacional realizado com rigor teórico, destacando as nuances do RO na assistência obstétrica e possíveis estratégias para o enfrentamento no contexto brasileiro. O trabalho fortaleceu as participantes, pessoal e academicamente. Possibilitou o compartilhamento de conhecimentos, a construção de novos saberes e o fortalecimento de redes de apoio profissional, além de promover sensação de validação e pertencimento
Aprendizado e análise crítica
Os aprendizados abrangeram a compreensão teórica, estratégias de enfrentamento ao RO e o aprimoramento da produção científica. Evidenciaram-se desafios comuns às pesquisadoras negras, como a conciliação entre trabalho, academia e militância. O aquilombamento revelou-se fundamental para descolonizar saberes, lidar com a branquitude hegemônica na academia e legitimar vivências frequentemente invisibilizadas no campo acadêmico. Pontos essenciais para a promoção da equidade no processo científico
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se fortalecer espaços institucionais mais afetivos, garantindo suporte institucional para iniciativas protagonizadas por mulheres negras. Por fim, a experiência reforça a importância da produção científica protagonizada por enfermeiras obstetras e obstetrizes negras. Trata-se de um movimento que reconfigura saberes e práticas a partir de uma perspectiva antirracista, emancipatória e enraizada em epistemologias que emergem da experiência
CONECTANDO SAÚDE E COMUNIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O PAPEL TRANSFORMADOR DAS ASSOCIAÇÕES NA SAÚDE COMUNITÁRIA
Pôster Eletrônico
1 ESP/CE
Período de Realização
Ocorreu entre 17 de março a maio de 2025
Objeto da experiência
Associações comunitárias presentes no território de Paracuru - CE
Objetivos
Ressaltar a importância de associações comunitárias, como por exemplo, a Associação A, que através da participação social traz promoção e democratização da saúde, salientando a liderança como principal articuladora junto a comunidade.
Descrição da experiência
Este artigo nasce do processo de territorialização do Município de Paracuru-CE. Se dá a partir da observação participante, roda de conversas, escuta aos moradores e lideranças e participações em eventos. Dentro destas vivências chama atenção a massiva presença da comunidade, em contraponto a outras dentro do município. Ao conhecermos essas outras associações, percebemos que não havia uma boa gestão desses espaços, compactuação com a comunidade e relação direta com equipamentos governamentais.
Resultados
Foi identificado que uma gestão inativa resulta em uma não participação popular, e consequentemente um não conhecimento acerca das reais demandas daquele território. Do contrário, uma gestão ativa e articuladora impulsiona a comunidade a reconhecer suas demandas e consequentemente lutar por melhorias.
Aprendizado e análise crítica
A participação ativa dentro desses espaços, principalmente da associação A, nos mostrou o quanto a população está assistida em relação às suas principais prioridades, destacando, dentre outros fatores, o papel da liderança como sendo primordial para organização e o estreitamento de laços da comunidade com os equipamentos governamentais.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se portanto que ao se manter como uma associação ativa e presente na vida dos moradores a qualidade de vida da comunidade melhora em relação à saúde, educação, cultura e lazer, através da propagação de informação, da promoção do cuidado e do fortalecimento das potencialidades.
OFICINAS DE LETRAMENTO RACIAL COM TRABALHADORES DO SUS: UMA AÇÃO DO PET-SAÚDE EQUIDADE USP-SMS-SP VOLTADA À PROMOÇÃO DA EQUIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO.
Pôster Eletrônico
1 USP.
Período de Realização
Oficinas planejadas e realizadas de outubro/24 a junho/25 pelo programa PET-Saúde Equidade.
Objeto da experiência
Oficinas de letramento em relações étnico-raciais voltadas à formação crítica de trabalhadores(as) do SUS para a promoção da equidade no ambiente de trabalho.
Objetivos
As oficinas realizadas pelo grupo 1 do PET-Saúde Equidade com os trabalhadores do SUS abordaram os temas de raça e etnia, visando a conscientização crítica sobre dinâmicas raciais e a promoção da equidade nas relações e práticas nos serviços de saúde.
Metodologia
As oficinas, realizadas presencialmente em serviços de saúde da região Oeste de São Paulo, contam com um itinerário pedagógico, contendo etapas de autoidentificação, dinâmicas interativas, avaliação prévia dos próprios conhecimentos a respeito das temáticas discutidas, rodas de conversa para promover a troca de saberes e acolhimento, revisão crítica dos conceitos por meio de autores latino-americanos, e é finalizada com reflexões guiadas para elaboração da experiência.
Resultados
As oficinas suscitaram reflexões sobre o impacto do racismo estrutural nas relações de trabalho, revelando silenciamentos, desconfortos e resistências próprias da branquitude. Houve reconhecimento das barreiras individuais e institucionais, expressas em relatos, que abriram espaço para diálogo, escuta ativa, desejo de transformação, sensibilização e reconhecimento dos privilégios.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a importância de espaços formativos sobre raça e etnia nos serviços de saúde. Demandas específicas de cada equipe exigiram adaptações e escuta atenta para construção coletiva do processo.
Conclusões e/ou Recomendações
Através da realização destas oficinas com os trabalhadores dos serviços de saúde foi possível concluir a necessidade da institucionalização de ações de educação permanente de letramento racial no SUS, com envolvimento dos territórios, visando acesso equitativo ao cuidado e relações de trabalho mais justas.
FLORESCENDO NO CUIDADO: SAÚDE MENTAL, EQUIDADE E VALORIZAÇÃO DAS TRABALHADORAS DO SUS EM UMA EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA INTERSECCIONAL
Pôster Eletrônico
1 UNESP
Período de Realização
Janeiro de 2024 a junho de 2025
Objeto da experiência
Promoção da saúde mental e da equidade de gênero e raça entre trabalhadoras do SUS, com base em escuta ativa e práticas extensionistas.
Objetivos
Reconhecer as condições sociais, raciais e de gênero que impactam a saúde de trabalhadoras do SUS e promover ações que valorizem o cuidado, a escuta, o autocuidado e os vínculos, articulando ensino, serviço e comunidade em uma perspectiva crítica e participativa.
Descrição da experiência
O grupo “Florescendo no Cuidado”, do PET-Saúde Equidade, atua no Centro de Saúde Escola da UNESP a partir da escuta das trabalhadoras da saúde. A experiência desenvolveu oficinas de cuidado emocional, rodas de conversa, ações formativas e culturais, ancoradas em dados de um questionário anônimo. As atividades envolveram estudantes, profissionais e docentes, promovendo o cuidado coletivo e visibilizando desigualdades que atravessam o SUS.
Resultados
A aplicação do questionário revelou sobrecarga, adoecimento e discriminações de gênero e raça. A partir disso, foram realizadas seis oficinas com 49 participantes, rodas de escuta, eventos com mais de 200 mulheres e uma disciplina extensionista com 26 estudantes. As ações promoveram vínculos, práticas integradas e reconhecimento institucional, revelando a potência da extensão como promotora de equidade e cuidado.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou como as determinações sociais — como gênero, raça e classe — moldam a saúde e o sofrimento das trabalhadoras. A escuta ativa gerou práticas sensíveis e efetivas, com base na articulação entre saberes populares e acadêmicos. A extensão se mostrou espaço potente para construir respostas coletivas e interseccionais às desigualdades no SUS, favorecendo a formação crítica e o fortalecimento do cuidado.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a ampliação de experiências que integrem escuta, cuidado e equidade nos serviços. O projeto reafirma o SUS como espaço de produção de saúde e cidadania, e a extensão como ferramenta potente para enfrentar desigualdades estruturais. A valorização das trabalhadoras e a construção coletiva de estratégias de cuidado são caminhos para uma saúde mais justa, plural e comprometida com os direitos humanos.
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO “MATERNAR A SI: ARTE PARA QUEM CUIDA” , PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO, ACESSO A ATRE E INCLUSÃO PARA MÃES NO RECIFE
Pôster Eletrônico
1 Escola de Saúde do Recife - SESAU Recife/PE
2 Universidade Federal de Pernambuco
Período de Realização
11 de maio de 2025 no COMPAZ - Dom Helder Câmara, Ilha Joana Bezerra, Recife-PE.
Objeto da experiência
Ação de autocuidado, valorização e empoderamento para mães no Dia das Mães, com foco na inclusão, práticas corporais, massagem e recreação infantil.
Objetivos
Proporcionar um espaço inclusivo de autocuidado e valorização para mães e gestantes, em celebração ao Dia das Mães, por meio de oficinas de práticas corporais. Além de promover a saúde integral, garantindo a participação plena das mulheres através da disponibilização de suporte recreativo infantil.
Descrição da experiência
O "Maternar a Si: Arte para quem cuida" ocorreu no COMPAZ localizado na Ilha Joana Bezerra. Visou aproximar a arte e a cultura da comunidade. Direcionado a mães e gestantes de 18 a 50 anos, ofertou 30 vagas, 15 para mães negras ou indígenas, 5 para mães com deficiência auditiva e 5 para mães de pessoas neurodivergentes. Foram realizadas oficinas de yoga, twerk e massagem. Para crianças de 3 a 12 anos, foi oferecida equipe de recreação durante o evento, facilitando a participação nas atividades.
Resultados
Participaram 25 mães. As oficinas tiveram excelente adesão, e as participantes estavam engajadas. A oferta de recreação infantil foi crucial para a presença e dedicação das mães às atividades. A reserva de vagas para grupos específicos contribuiu para a diversidade do público. Observou-se que duas colaboradoras também necessitaram levar suas crianças, e muitas mães compareceram com filhos, apesar da data comemorativa, evidenciando a ausência de rede de apoio.
Aprendizado e análise crítica
O "Maternar a Si" reafirmou a importância de espaços para autocuidado materno com suporte infantil. A alta demanda e a sobrecarga materna (inclusive entre colaboradoras) evidenciam a carência de redes de apoio efetivas, com a responsabilidade do cuidado recaindo predominantemente sobre as mães. Mesmo com financiamento público, a natureza pontual da iniciativa expõe uma lacuna no reconhecimento da permanência desse cuidado, que precisa ser institucionalizado como política pública.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto "Maternar a Si" demonstrou sua relevância na promoção do autocuidado e empoderamento de mães e gestantes, com estratégias inclusivas e suporte. A sobrecarga materna e a baixa participação paterna reforçam a necessidade de ações amplas que transformem as dinâmicas da parentalidade. O sucesso da iniciativa evidencia a necessidade premente de sua institucionalização como política pública permanente, garantindo apoio contínuo às mães.
PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DCNT NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA SALA TEMÁTICA NA I OFICINA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
Período de Realização
5 a 7 de fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Oficina com gestores estaduais referências técnicas das pautas relativas à Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e tabagismo na APS.
Objetivos
Relato de experiência que visa descrever as implicações da sala temática de DCNT realizada na I Oficina Nacional de Promoção da Saúde (PS), com as referências técnicas de DCNT e tabagismo, cujo objetivo foi refletir sobre estratégias para a melhoria do cuidado de DCNT e das políticas de PS.
Descrição da experiência
No evento promovido pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, a Coordenação de Prevenção às Condições Crônicas na APS conduziu a oficina da sala temática “Promoção da Saúde e Prevenção das DCNT na APS”, com envolvimento da SAPS, SAES e SVSA, promovendo um "café mundial" junto às referências estaduais, segundo 4 grupos temáticos: 1-PS, Prevenção de fatores de risco para DCNT e Autocuidado; 2-Educação Permanente; 3-Cuidado longitudinal e integral às pessoas com DCNT e 4-Monitoramento.
Resultados
O 1º grupo destacou o fortalecimento de equipes e gestores por meio de sensibilização, formação sobre PS e diálogo intersetorial. O 2º apontou potencialidades para educação permanente, como EaD e parcerias institucionais, e desafios como rotatividade e indisponibilidade de agenda. O 3° debateu o cuidado em rede, enfatizando integração entre os níveis de atenção à saúde e a regionalização. O 4º abordou dificuldades e possibilidades para qualificação dos registros e uso dos dados da APS.
Aprendizado e análise crítica
Na oficina, ressaltou-se a importância de um plano de comunicação sobre fatores de risco para DCNT, ampliação do acesso à saúde para populações vulneráveis, fortalecimento do autocuidado apoiado e advocacy intersetorial. Apontaram-se desafios como rotatividade profissional e da gestão, modelo de gestão, falta de apoio às ações de promoção da saúde, desconhecimento dos fluxos regionais e fragilidade na vigilância, que pode ser aprimorada com tecnologias digitais.
Conclusões e/ou Recomendações
A oficina contribuiu para a troca de experiências entre gestores e a identificação de soluções para PS e DCNT. Os apontamentos subsidiaram o processo de análise crítica-reflexiva para formulação de políticas públicas e avanço na implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, além de indicar a necessidade de aprimorar os processos de educação permanente, visando a prevenção de DCNT, o cuidado integral à saúde e a resolutividade na APS.
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE: POR UM BRASIL 3S – SAUDÁVEL, SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL
Pôster Eletrônico
1 ACT Promoção da Saúde
Período de Realização
De 19 a 21 de agosto de 2024, com carga horária total de 24 horas.
Objeto da experiência
Seminário nacional voltado para o fortalecimento de alianças estratégicas e intersetoriais para promoção de políticas públicas de saúde.
Objetivos
Fortalecer e capacitar parceiros estratégicos para incidência em políticas públicas de promoção da saúde; promover o debate sobre os determinantes comerciais e sociais da saúde; estimular estratégias de advocacy em defesa de políticas públicas de saúde alinhadas aos princípios da justiça social.
Descrição da experiência
O evento, realizado pela ACT Promoção da Saúde, em Brasília, reuniu mais de 150 representantes de organizações da sociedade civil, academia e setor público. As discussões abrangeram temas como economia e saúde, desigualdades em saúde e regulação de produtos nocivos à saúde (tabaco, álcool e ultraprocessados), poluição plástica e meio ambiente. Houve também uma atividade prática de advocacy no Congresso Nacional, com participação em uma audiência pública e visitas a gabinetes de parlamentares.
Resultados
O seminário proporcionou a capacitação e a troca de experiências sobre temas estratégicos, fortaleceu redes de articulação da sociedade civil e ampliou a capacidade de incidência no diálogo com o legislativo, em pautas relacionadas à reforma tributária, regulação de produtos nocivos à saúde, justiça social e climática. Destacam-se avanços no alinhamento de agendas comuns e no fortalecimento do advocacy em defesa de ambientes saudáveis, solidários e sustentáveis.
Aprendizado e análise crítica
O seminário consolidou-se como espaço de articulação e incidência, reforçando alianças e denunciando a interferência corporativa em políticas públicas de saúde e a insuficiência de regulações de produtos nocivos frente aos conflitos de interesse. Salienta-se a importância de temas como economia, meio ambiente e equidade para uma agenda abrangente e efetiva de saúde. A atividade prática de advocacy no congresso mostrou-se uma ferramenta eficaz de formação para incidência política.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência reforça que a construção de alianças estratégicas é fundamental para o fortalecimento da sociedade civil e a promoção de políticas públicas de saúde. Assim, percebe-se a necessidade de se fomentar espaços de formação e trocas como esse evento. As discussões pontam para a necessidade de se aprovar marcos regulatórios que restrinjam a atuação de indústrias nocivas e de se garantir uma reforma tributária justa e igualitária.
CÂMARAS TÉCNICAS DE ATENÇÃO INTEGRAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MORADIA PRIMEIRO RECIFE
Pôster Eletrônico
1 Universidade de Pernambuco
2 Prefeitura do Recife
Período de Realização
A experiência ocorreu entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025.
Objeto da experiência
Reuniões de Câmaras Técnicas de Atenção Integral a População em Situação de Rua de Recife, Pernambuco.
Objetivos
Narrar o processo de implantação do Programa Moradia Primeiro Recife a partir das Câmaras Técnicas de Atenção Integral a População em Situação de Rua, responsáveis pela indicação dos usuários a serem contemplados pelo programa.
Descrição da experiência
A experiência se desenvolveu no acompanhamento das reuniões de Câmara Técnica de Atenção Integral a População em Situação de Rua, designadas enquanto espaços intersetoriais estratégicos para discussão de casos de pessoas em situação de rua. Por desenvolverem um acompanhamento territorial e longitudinal aos usuários, elas se tornaram estratégicas para o processo de implantação do Programa Moradia Primeiro Recife, avaliando e indicando as pessoas com perfil para participação do programa.
Resultados
Cada Câmara Técnica de Atenção Integral a População em Situação de Rua (CTAIPSR) se organizou de forma distinta para realizar a tarefa de seleção dos beneficiários para o Programa Moradia Primeiro Recife, evidenciando as características de cada território e dos equipamentos responsáveis pelo acompanhamento das pessoas em situação de rua. Foi possível observar o fortalecimento desse espaço ao longo desse processo.
Aprendizado e análise crítica
Esta experiência demonstrou a potência do trabalho compartilhado entre a saúde e a assistência social para a garantia de direitos e cuidados à população em situação de rua. Além disso, a institucionalização de uma espaço intersetorial de discussão como as Câmaras Técnicas de Atenção Integral a População em Situação de Rua foi imprescindível para a implantação de um novo programa para a superação da situação de rua.
Conclusões e/ou Recomendações
A implantação do Programa Moradia Primeiro Recife pelas CTAIPSR envolveu dúvidas, formações e produção de materiais técnicos. A experiência evidenciou que o cuidado à população em situação de rua só é possível com articulação entre saúde e assistência. A institucionalização das CTAIPSR fortalece a intersetorialidade, impulsiona ações conjuntas e amplia a efetividade de políticas públicas voltadas à superação da situação de rua.
PROMOÇÃO DE SAÚDE, EQUIDADE E ACOLHIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DA LIGA ACADEMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE
Pôster Eletrônico
1 UNB
2 SES-DF
Período de Realização
Janeiro a Junho de 2025.
Objeto da experiência
Ações da Liga de Saúde da Família e da Comunidade (LASFAC) da Universidade de Brasília em 2025.
Objetivos
Descrever, de forma sistematizada, as experiências dos ligantes da LASFAC no acolhimento realizado às sextas-feiras na Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde (FCTS), destacando suas contribuições para a promoção da saúde e a equidade em saúde.
Descrição da experiência
LASFAC, da UnB, realizou ações semanais de acolhimento entre janeiro/junho de 2025 na Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, com foco na promoção da saúde e nos princípios do SUS e utilizando a tecnologia leve das práticas integrativas em Saúde. As atividades incluíram escutas, rodas de conversa e oficinas sobre saúde mental, sexual, autocuidado e alimentação. Discentes de diversos cursos participaram com apoio de docentes e preceptores.
Resultados
As atividades realizadas levaram os alunos a desenvolverem competências e habilidades importantes para os ligantes, como o exercício do acolhimento das pessoas atendidas na FCTS, voltado para o cuidado integral da pessoa dentro do seu contexto social, fortalecendo a humanização do cuidado, utilizando rodas de conversas para compartilhamento de conhecimento entre os ligantes, utilização das práticas integrativas e estreitamento da relação com a comunidade atendida da UnB.
Aprendizado e análise crítica
As ações da LASFAC possibilitam aos usuários da UBS a promoção da saúde com equidade a partir da análise dos casos para acolher e garantir acesso integral a saúde no território. Para os discentes de graduação, evidenciam os diversos problemas existentes nas políticas públicas, porém ensejam a luta pelo SUS, oportunizam reconhecimento de práticas populares, integração social e valorização do território. É imperioso o papel da saúde coletiva na promoção de saúde e equidade nos territórios.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência da LASFAC evidencia que ações interdisciplinares de acolhimento fortalecem o SUS e reduzem desigualdades no acesso à saúde. Sendo assim, a vivência contribuiu para a formação humanizada dos estudantes, integrando teoria e prática. Defende-se a institucionalização de iniciativas como essa e a inclusão de metodologias participativas nos currículos, promovendo profissionais comprometidos com a equidade e a justiça social em saúde.
FISIOTERAPIA NO SISTEMA PRISIONAL: AVANÇOS E POTENCIALIDADES
Pôster Eletrônico
1 Missão Sal da Terra
Período de Realização
Janeiro de 2024 a 16 de junho de 2025
Objeto da experiência
Relatar as ações da Fisioterapia no Sistema Prisional
Objetivos
Relatar as ações desenvolvidas pela Fisioterapia da Atenção Primária do município de Uberlândia no Sistema Prisional e suas contribuições para o cuidado integral e acesso igualitário da pessoa privada de liberdade à saúde
Descrição da experiência
Trata-se do relato de experiência da Fisioterapia em duas unidades prisionais estaduais: presídio e penitenciária de um município entre janeiro/2024 a 16/06/2025.
As pessoas privadas de liberdade (PPL) têm acesso à fisioterapia através de encaminhamentos realizados pelos demais profissionais da equipe e dos comunicados de saúde enviados à unidade de saúde através dos policiais penais.
Resultados
A quantidade de atendimentos e sua periodicidade no sistema prisional é impactada pelas demandas do sistema de segurança, pois cabe aos policiais penais retirarem a PPL de sua cela e o acompanharem ao atendimento sem comprometer a segurança da unidade. Foram 1539 atendimentos ambulatoriais em 233 pacientes. Cerca de 71,4% são homens e 28,6% são mulheres, predominando a faixa etária de 49 a 59 anos (49,9%) com queixas de dor lombar (32,9%). E 48 grupos de práticas corporais e educação em saúde.
Aprendizado e análise crítica
Ao profissional cabe exercer uma escuta sensível, empática e humanizada, capaz de compreender como esses aspectos repercutem no quadro clínico do paciente. A partir desse entendimento, torna-se possível planejar e implementar estratégias terapêuticas que favoreçam a promoção da saúde funcional, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dessa população.
Conclusões e/ou Recomendações
As ações desenvolvidas pela fisioterapia contribuíram para ampliar o acesso da PPL aos cuidados de saúde integral do Sistema Único de Saúde (SUS). Possibilitaram o reconhecimento do território do sistema prisional o que favorece a criação de estratégias futuras para ampliação do impacto da fisioterapia na saúde funcional e na qualidade de vida da população carcerária. Essa ampliação passa por articulações intersetoriais entre saúde e justiça.
“SE CHEGAR UM CASEIRO E UM CIGANO, O CASEIRO GANHA AS COISAS”: DESIGUALDADES NO ACESSO À SAÚDE VIVENCIADAS POR POVOS CIGANOS NO CENTRO-OESTE BRASILEIRO
Pôster Eletrônico
1 UFJ
2 UFG
Período de Realização
As atividades de campo ocorreram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, no Centro-Oeste brasileiro.
Objeto da experiência
Trata-se de vivências no projeto de mapeamento dos povos ciganos, com foco na observação das condições de acesso à saúde em comunidades ciganas
Objetivos
Refletir sobre os desafios enfrentados por esses povos no acesso ao SUS, incluindo os entraves estruturais, simbólicos e institucionais que fragilizam o cuidado em saúde.
Descrição da experiência
As atividades foram desenvolvidas no âmbito do projeto “Mapeamento e Registro de Famílias Ciganas das Etnias Calon, Rom e Sinti, de Territórios e Rotas dos Povos Ciganos e das Políticas Públicas Acessadas por Esse Público no Brasil”, realizado em parceria entre a UFJ e o Ministério da Igualdade Racial. A metodologia incluiu visitas a comunidades ciganas, entrevistas com lideranças e observações sistematizadas. As abordagens respeitaram os contextos culturais e territoriais de cada comunidade.
Resultados
Durante as visitas, observou-se a inexistência de equipes de saúde da família em diversas localidades com presença cigana, bem como dificuldade de acesso ao pré-natal, vacinação, consultas e exames. Falas como “se chegar um caseiro e um cigano, o caseiro é quem ganha as coisas” revelam o estigma social e a concorrência simbólica por direitos. Identificaram-se também barreiras como documentação irregular, falta de transporte, discriminação e desconhecimento institucional da cultura cigana.
Aprendizado e análise crítica
A experiência permitiu compreender como os determinantes sociais da saúde: saneamento básico precário, insegurança alimentar, moradia instável, escolarização baixa, somados ao racismo institucional, agravam a exclusão sanitária vivida pelos povos ciganos. A ausência de políticas específicas e de formação em competência cultural dificulta a efetivação da equidade. A pesquisa revelou a importância da produção de dados desagregados e da mediação cultural no planejamento em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
O relato evidencia que os povos ciganos seguem à margem do SUS, apesar das diretrizes de equidade. Recomenda-se a ampliação da cobertura das equipes de atenção básica em territórios ciganos, a inclusão de lideranças no planejamento local, e a formação dos profissionais em abordagem culturalmente sensível. A presença do Estado deve ser contínua, respeitosa e voltada à garantia do direito à saúde, com base na escuta, no diálogo e na justiça social.
DETERMINAÇÃO SOCIAL DOS PROCESSOS SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO NAS VOZES DA PÁTRIA LIVRE
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Período de Realização
As entrevistas foram feitas em 2023 e o documentário estreou oficialmente em abril de 2025.
Objeto da experiência
Visitas à Ocupação Pátria Livre — na favela Pedreira Prado Lopes (PPL), região Noroeste de Belo Horizonte —, para a gravação de um curta documental.
Objetivos
Retratar a história e as lutas da Ocupação Pátria Livre por meio dos relatos de moradores e lideranças locais, bem como discutir os processos de saúde, doença, cuidado e morte que transpassam a vida na comunidade.
Metodologia
O curta “Pátria Livre: Moradia, Saúde e Vida em uma Ocupação Urbana” resulta da parceria entre o projeto de extensão “Educação Popular em Saúde nas Ocupações Urbanas de Belo Horizonte”, da Faculdade de Medicina da UFMG, e o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos (MTD). As visitas, mediadas por lideranças locais e realizadas em pequenos grupos, seguiram roteiros pré-estruturados e abordaram o vínculo com o território, as potências e os desafios narrados pelos entrevistados.
Resultados
As aproximações entre a extensão universitária e a Ocupação Pátria Livre possibilitaram o registro de uma narrativa que abrange desde o surgimento da ocupação até seus momentos de maior tensão, como as recorrentes ameaças de despejo, agravadas pela truculência policial. Os registros e depoimentos de lideranças do MTD destacam a importância da organização de redes de cuidado no território, evidenciadas no grupo de encontros mensais das mulheres e na criação de um espaço cultural no galpão anexo.
Análise Crítica
“(...) E a gente resistiu para ficar, porque não tinha outro lugar para ficar.” A fala de uma moradora explicita as contradições do urbanismo neoliberal, que mercantiliza a moradia. A PPL, favela mais antiga de BH, revela esse modelo excludente, agravado por políticas públicas que resultam em despejos, como relatado pelos próprios moradores. A Pátria Livre simboliza, portanto, resistência, ao ocupar um terreno sem função social há décadas.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência vivida na Ocupação Pátria Livre evidencia que ocupar é também cuidar, produzir saúde e tecer redes de resistência no território. É essencial, e urgente, que políticas públicas reconheçam e fortaleçam as iniciativas populares de grupos invisibilizados. As ocupações urbanas, ao reivindicarem a função social de terrenos não utilizados, subutilizados ou não edificados, reforçam o binômio saúde-moradia como direito.
ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO POVO CIGANO/ROMANI NA PARAÍBA A PARTIR DOS MUNICÍPIOS DE CONDADO-PB E SOUSA-PB
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
Período de Realização
05/08/2024 a 09/08/2024
Objeto da experiência
Acesso e cuidado em saúde da População Cigana a partir dos serviços de Atenção Primária nos municípios de Condado-PB e Sousa-PB
Objetivos
Diagnóstico das condições de acesso em saúde da população cigana com gestores estaduais, municipais e lideranças ciganas; Identificação de determinantes sociais em saúde; Identificação de necessidades de Educação em Saúde para profissionais não-ciganos.
Metodologia
Realização de visita técnica nos territórios com momentos de escuta com gestores e lideranças locais através da realização de duas rodas de conversa e duas visitas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Através dos encontros foram identificados elementos centrais para a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Romani (PNAISPCR) como necessidade de qualificação profissional e promoção do cuidado culturalmente sensível.
Resultados
Planejamento de ações de qualificação da PNAISPCR com foco nos profissionais de saúde dos municípios, distribuição de cartilha da PNAISPCR e desenvolvimento de Guia para Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher Cigana como forma de combate à violência de gênero. Articulação para priorização nas campanhas de vacinação. Resgate da medicina tradicional cigana no cuidado em saúde, bem como enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas, hipermedicalização e uso indiscriminado de psicotrópicos..
Análise Crítica
A visita aos territórios possibilitou a captura de diferentes aspectos que se constituem enquanto complicadores no acesso à saúde por parte dos povos ciganos em duas diferentes realidades, podendo-se citar desde problemas estruturais como saneamento básico e coleta de lixo nos ranchos, até a fragilidade na construção de vínculo com as equipes de saúde comumente relacionadas ao distânciamento intercultural, anti-ciganismo e racismo estrutural experienciado pelas comunidades.
Conclusões e/ou Recomendações
Observa-se a urgência da efetiva implementação da PNAISPCR em se tratando de um território que abriga a maior comunidade Cigana da América Latina. Ainda, a necessidade pensar a presença de pessoas ciganas nas instâncias de cuidado destas populações de modo a facilitar a construção de vínculo e a qualificação do cuidado culturalmente sensível nos equipamentos de saúde. Fortalecimento da estratégia antirracista em territórios ciganos.
PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DO PET SAÚDE EQUIDADE: VIVÊNCIAS DE AUTOCUIDADO PARA TRABALHADORAS E TRABALHADORES DE UMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NORTE DO PARANÁ
Pôster Eletrônico
1 UEL
2 AMS - Londrina
Período de Realização
As atividades no ambiente de trabalho ocorreram em abril e maio de 2025.
Objeto da experiência
Promoção de autocuidado para trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina com Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).
Objetivos
Realizar promoção da saúde, com foco no trabalhador e trabalhadora de saúde, no contexto do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde: Equidade; Promover o autocuidado no expediente de trabalho, na Secretaria Municipal de Saúde com oferta e realização da aromaterapia, auriculoterapia e escalda-pés.
Descrição da experiência
Representantes do PET – Saúde em visita a Secretaria de Saúde apresentaram a proposta e obtiveram anuência para a realização das atividade. Após aceite da Secretaria da Saúde, fez-se um levantamento do número de trabalhadores interessados em receber as Práticas. Nos meses de abril e maio de 2025, em local disponibilizado nas dependências da Secretaria, tutores, preceptores e estudantes de diferentes cursos de graduação realizaram da aromaterapia, auriculoterapia e escalda-pés para os trabalhadores.
Resultados
Um total de 124 trabalhadoras/es foram sensibilizadas/ os nos encontros, tendo a possibilidade de dialogar com colegas, esclarecer dúvidas sobre as práticas ofertadas e sobre o trabalho do PET - Saúde Equidade. Quarenta e sete pessoas realizaram a aromaterapia; 28 pessoas receberam auriculoterapia e 16 pessoas fizeram a prática do escalda-pés.
Aprendizado e análise crítica
Durante a atividade, os momentos de diálogo e troca de experiências entre trabalhadores e membros do PET, bem como entre os próprios trabalhadores, foram ricos e significativos. Refletiu-se sobre o cuidado no ambiente laboral para a saúde mental, o trabalho em equipe e a prevenção da violência. Desconstruiu-se a ideia de que o autocuidado exige muito tempo ou tecnologia de ponta, valorizando-se a prevenção quinquenária e seu impacto na saúde dos pacientes.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência com PICS na Secretaria de Saúde de Londrina demonstrou boa aceitação das práticas de aromaterapia, auriculoterapia e escalda-pés, promovendo momentos de diálogo e trocas significativas. Recomenda-se a continuidade das ações para fortalecer o bem-estar e a saúde mental dos trabalhadores, valorizando a prevenção quinquenária como estratégia acessível e eficaz de cuidado no ambiente de trabalho.
DO TERRITÓRIO À PRODUÇÃO TÉCNICA: CARTILHA PARA PROMOÇÃO DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E GESTAÇÃO SEGURA EM PESSOAS COM ÚTERO EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NO ÂMBITO DA APS.
Pôster Eletrônico
1 UFRJ / IESC
2 Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
Período de Realização
Entre março à agosto de 2024, na Coordenadoria Geral de Atenção Primária à Saúde da AP 5.1 no MRJ.
Objeto da produção
Elaboração de uma cartilha para apoio técnico sobre planejamento reprodutivo e gestação segura em pessoas com útero em tratamento de tuberculose.
Objetivos
Ofertar material informativo com linguagem acessível a profissionais de saúde, ampliando e qualificando o cuidado a pessoas com útero em idade fértil em tratamento de tuberculose (TB), considerando gênero e raça, e contribuindo para o enfrentamento dos riscos e desafios específicos dessa condição.
Descrição da produção
Ofertar material informativo com linguagem acessível a profissionais de saúde, ampliando e qualificando o cuidado a pessoas com útero em idade fértil em tratamento de tuberculose (TB), considerando gênero e raça, e contribuindo para o enfrentamento dos riscos e desafios específicos dessa condição.
Resultados
O produto final foi uma cartilha ilustrada intitulada "Planejamento Reprodutivo e Gestação Segura na Tuberculose", voltada à promoção da saúde sexual e reprodutiva de pessoas com útero em tratamento de tuberculose. Destinada a profissionais da APS, integra recomendações sobre uso de contraceptivos com rifampicina, prevenção da transmissão vertical e direitos reprodutivos. Foi incorporada como apoio em ações educativas e fluxos de cuidado no território.
Análise crítica e impactos da produção
O material é uma tecnologia leve que fortalece o protagonismo reprodutivo de pessoas com útero, contempla a população LGBTQIA+, sobretudo a população transmasculina, e qualifica a escuta na APS. O processo revelou lacunas no acolhimento das demandas reprodutivas em contextos de vulnerabilidade. Com linguagem inclusiva e foco na equidade, o material tem aplicabilidade prática, dialoga com as diretrizes do SUS e contribui para ações em saúde sexual e reprodutiva.
Considerações finais
A experiência promoveu o diálogo entre gestão, assistência e educação na APS, abordando dimensões biológicas, sociais e de gênero. Reafirma a residência como espaço de inovação no SUS e foi fundamental na minha formação, ao exigir sensibilidade ética, articulação e compromisso com práticas inclusivas, impactando a qualificação do cuidado com base na equidade, integralidade e nos direitos de populações vulnerabilizadas.
CAMPANHA CUIDAR É RESISTIR: RESPOSTA À PANDEMIA COM SOLIDARIEDADE E ECONOMIA SOLIDÁRIA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz
Período de Realização
Campanha iniciou em maio de 2020, ampliada em julho de 2021, documentada até dez/2023.
Objeto da produção
Campanha "Cuidar é Resistir": resposta comunitária à COVID-19 de comunidades tradicionais, focada em solidariedade, saúde e economia local.
Objetivos
Proteger famílias e assegurar a saúde das comunidades tradicionais frente COVID-19, minimizando impactos sociais, econômicos e ambientais. Aes de informação, acesso à vacinação e auxílios, construção de rede de solidariedade, enfrentamento à insegurança alimentar, apoio ao trabalho e renda locais.
Descrição da produção
Iniciada por comunitários do FCT, a campanha criou ações de informação, barreiras sanitárias e solidariedade. Distribuiu cestas, kits de higiene, recargas e alimentos da pesca e da agroecologia. A logística contou com jovens e comunitários, com transporte local, fazendo os recursos circularem no território. Parcerias com instituições fortaleceram a experiência, sistematizada em brochuras e outros materiais.
Resultados
Foram envolvidas aproximadamente 7 mil famílias em mais de 130 comunidades tradicionais (caiçaras, indígenas, quilombolas) em 7 municípios. Distribuídas mais de 23 mil cestas básicas e kits, 30,5 mil recargas de cartão alimentação, 36 mil botijões de gás. Circulados mais de 20 mil kg de pescado e 19 toneladas de alimentos agroecológicos. Fortalecimento da produção e economia solidária locais. Produzido num catálogo inédito de produtores. Experiência documentada para compartilhar aprendizados.
Análise crítica e impactos da produção
A campanha fortaleceu solidariedade, coletividade e cuidado, mostrando resistência baseada em saberes diante da crise sanitária e insegurança alimentar. Mitigou impactos da pandemia ao circular recursos na economia solidária, valorizando agroecologia e pesca artesanal. Revelou desigualdades e a perda de memórias com a morte de idosos. A sistematização inspira políticas públicas, protagonismo comunitário e debate sobre equidade e resiliência em saúde.
Considerações finais
A campanha Cuidar é Resistir mostrou a força da organização comunitária e da economia solidária para enfrentar crises e garantir saúde e bem viver em territórios vulneráveis. O apoio à segurança alimentar, produção local e articulação comunitária é fundamental. Os aprendizados reforçam o diálogo entre saberes tradicionais e saúde coletiva, subsidiando políticas públicas e fortalecendo a autonomia comunitária.
“CUIDE-SE NA FOLIA”: PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CARNAVAL CARIOCA
Pôster Eletrônico
1 SMS RJ
Período de Realização
início em 01 de março de 2025, fim em 05 de março de 2025
Objeto da experiência
Relato da ação “Cuide-se na Folia”, realizada durante o Carnaval Carioca de 2025, com foco na promoção da saúde e prevenção de ISTs
Objetivos
Promover a prevenção de ISTs, incentivar o autocuidado e ampliar o acesso à informação em saúde no Carnaval, com estratégias de comunicação acessíveis nos blocos de rua e redes sociais, valorizando o território como espaço de cuidado.
Metodologia
O Carnaval é uma das maiores festas populares do Brasil, criando oportunidades para ações potentes de saúde pública. Em 2025, os facilitadores do Projeto Rede de Adolescentes e Jovens Promotores de Saúde (RAP da Saúde) da Superintendência de Promoção da Saúde atuaram nos blocos de rua levando informações, insumos e orientações de forma acessível, abordando temas essenciais para a saúde e contribuindo para a promoção do bem-estar entre os foliões.
Resultados
Promotores de saúde atuaram distribuindo preservativos, ventarolas e materiais informativos em 12 blocos diurnos, e à noite no Sambódromo e regiões adjacentes, além de postagens nas redes sociais, alinhadas ao clima da festa. Foram distribuídos mais de 151.800 mil preservativos externos e 16 mil internos, além de 31.000 folders informativos. A comunicação digital ampliou o alcance da ação, gerando elogios e engajamento expressivo nas redes sociais. Um dos vídeos, alcançou 49 mil visualizações.
Análise Crítica
As abordagens foram feitas corpo a corpo, com diálogo direto, sem imposições, criando um ambiente de confiança para perguntas e trocas sobre prevenção de ISTs, PrEP, PEP e saúde sexual. Nas conversas com foliões, ambulantes e comerciantes foi possível perceber que existem dúvidas sobre prevenção e autocuidado que não chegam às consultas médicas tradicionais. A ação foi bem recebida pela população, especialmente entre os jovens, que demonstraram abertura ao diálogo em um contexto não institucional.
Conclusões e/ou Recomendações
A ação evidenciou a potência da promoção da saúde em grandes eventos, especialmente quando adaptada ao contexto sociocultural do público. A linguagem acessível, o uso de elementos de acordo com a festividade, a escuta ativa e o protagonismo juvenil ampliaram o acolhimento e a adesão, reforçando a importância de integrar ações educativas e preventivas em espaços não convencionais, expandindo o alcance das políticas públicas de saúde.
SAÚDE E SEGURANÇA EM FOCO: PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA E EM ESTAR PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MJNICIPAL JOSÉ JOSY DUARTE
Pôster Eletrônico
1 UPE
2
Período de Realização
Iniciado em 16 de junho de 2024 e segue em andamento na cidade de Lagoa do Ouro/PE
Objeto da experiência
Ações voltadas para melhoria da saúde física, mental, emocional e incentivos a segurança no trabalho para os profissionais do HMJJD
Objetivos
Prevenir doenças e promover o bem-estar, segurança e qualidade de vida dos profissionais do HMJJD.
Estimular o autocuidado, reduzir adoecimentos e implantar estratégias humanizadas voltadas à saúde integral dos trabalhadores.
Descrição da experiência
O projeto consistiu em promover ações articuladas que envolveram escuta qualificada identificando as necessidades diferentes entre os profissional, e assim surgiu os cuidado organizado de atendimentos multiprofissionais personalizados, atividades coletivas educativas e parcerias com serviços externos priorizando a saúde integral dos profissionais do hospital, o bem-estar no trabalho, a valorização da equipe e o fortalecimento da cultura institucional do cuidado eficaz no ambiente de trabalho.
Resultados
Com a implementação das ações planejadas no projeto, percebeu-se que houve melhora na percepção dos profissionais em relação à saúde e bem-estar, aumento na adesão às ações de autocuidado, tendo redução por atendimento com queixas de ansiedade e parte clínica, melhorando autoestima e a qualidade de vida, através fortalecimento das redes de apoio com acesso aos serviços especializados, a realização de atividades educativas e de segurança no trabalho, como palestras com diversos especialistas.
Aprendizado e análise crítica
A experiência, resultante do projeto, evidenciou a relevância da escuta qualificada, do acolhimento e da atuação multiprofissional integrada como pilares fundamentais no cuidado com os trabalhadores da saúde. Ademais, demonstrou que ações contínuas, humanizadas e bem estruturadas promovem impactos positivos na saúde, na motivação e no desempenho da equipe. No momento, o maior desafio permanece sendo a sustentabilidade do projeto e o engajamento ativo dos profissionais ao longo do tempo.
Conclusões e/ou Recomendações
Diante do que foi observado durante o projeto, conclui-se que investir na saúde dos trabalhadores contribui diretamente para um ambiente organizacional mais saudável, melhora a motivação da equipe e eleva a qualidade da assistência prestada. Dessa forma, é importante continuar promovendo o aprimoramento e a ampliação dessas ações, priorizando a prevenção, o cuidado institucional e a consolidação de uma cultura de valorização e bem-estar.
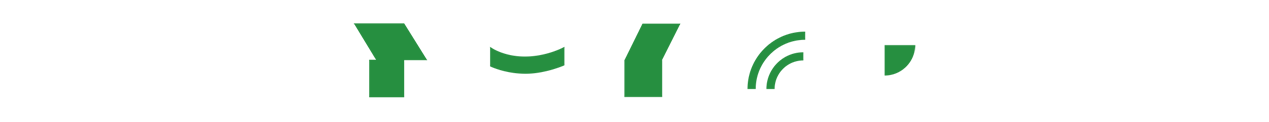
Realização:

