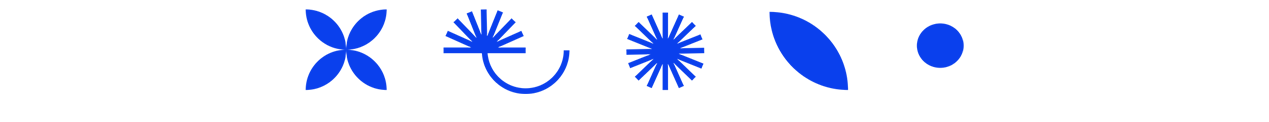
Programa - Pôster Eletrônico - PE15 - Estado, Mercado, Políticas Públicas e Saúde
RELAÇÕES ENTRE A GESTÃO PÚBICA DE SAÚDE E O SETOR PRIVADO EM REGIÃO INTERESTADUAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
2 Universidade Federal da Bahia
3 Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia
Apresentação/Introdução
A oferta de serviços de alta e média complexidade, mediante contratos do Sistema Único de Saúde com o setor privado, condiciona sua gestão a disputas de mercado e desigualdades de poder entre empresários e gestores de saúde, limitando a autonomia dos entes federados subnacionais, sobretudo nas regiões interestaduais, onde há lacunas de articulação interfederativa e baixa regulação estatal.
Objetivos
Apresenta-se parte da tese intitulada “Análise de uma Região Interestadual de Saúde: do desenho político à dinâmica de poder”, em especial, resultados sobre a relação público-privada entre o empresariado regional e os gestores de saúde.
Metodologia
Trata-se de estudo avaliativo com nível analítico centrado na região interestadual e que adotou elementos teóricos do Triângulo de Governo e da Teoria da Produção Social de Carlos Matus. A pesquisa ocorreu em região do Nordeste brasileiro, com desenho político composto por 53 municípios, dois estados e a União. A produção dos dados combinou a análise documental, entrevistas com informantes-chave e o diário de campo dos pesquisadores. Buscou-se identificar a dinâmica público-privada entre gestores dos SUS e o empresariado da saúde na região estudada.
Resultados
Os gestores públicos e o empresariado da saúde negociavam contratos de serviços de média e alta complexidade em oferta insuficiente pela rede própria, com imposição de preços hiperinflacionados e à revelia da capacidade financeira dos municípios. Havia disputa de fluxos assistenciais entre dirigentes da administração indireta e gestores do SUS, ocorrendo constantes decisões arbitrárias sem o consenso e a pactuação dos colegiados intergestores regionais. Esses colegiados se constituíam como arenas de disputas econômicas, com recorrente participação e influência dos prestadores privados nas reuniões, motivada pelo interesse de mercado e em detrimento a uma política interestadual de saúde.
Conclusões/Considerações
A dinâmica de articulação pública-privada identificada ratifica um padrão regressivo à gestão interestadual do SUS, com predomínio de influências do mercado nas decisões intergestores. Isto limita a pactuação de serviços de saúde na regionalização interestadual, uma vez que a configuração política do cenário estudado combina baixa capacidade regulatória do setor privado e uma ampla rede de atores em alianças para concentração de poder econômico.
DESIGUALDADES REGIONAIS NO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO GASTO EM MEDICAMENTOS POR HABITANTE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS EM 2023
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
2 Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)
3 Conasems
4 Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
5 Ipea
Apresentação/Introdução
No Brasil, desigualdades socioeconômicas têm sido observadas em diversos estudos das condições de renda, de vida e de financiamento de serviços essenciais pelo Estado entre as regiões geográficas. Algo que também se observa no Sistema Único de Saúde (SUS), em que análises sobre o gasto por habitante demonstram diferenças regionais significativas, em desfavor das regiões Norte e Nordeste.
Objetivos
Analisar desigualdades do gasto total em medicamentos (GTM) por habitante de estados, incluindo o Distrito Federal (DF), e de municípios brasileiros, segundo regiões geográficas, em 2023.
Metodologia
Realizou-se um inquérito de abrangência nacional sobre o financiamento e o gasto em assistência farmacêutica, e sobre demandas judiciais nos estados, DF e municípios de 2019 a 2023. O questionário da pesquisa foi desenvolvido no software LimeSurvey, incluindo uma pergunta sobre o gasto total liquidado em medicamentos em cada ano. Foram convidados a participar todos os entes subnacionais e a coleta de dados ocorreu de 6/5 a 1/9/2024. O projeto foi aprovado em apreciação ética em 14/3/2024 (CAEE nº 77218623.4.0000.5553, Parecer nº 6.701.494). Outliers foram desconsiderados, mantendo-se na análise os entes cujos registros do GTM foram considerados consistentes nos cinco anos da pesquisa.
Resultados
Consideraram-se dados de GTM de 756 municípios e de 17 estados. Em 2023, o GTM médio por habitante municipal por região foi de: R$ 68,79 na região Centro-Oeste (CO), R$ 41,82 na Nordeste (NE), R$ 60,80 na Norte (N), R$ 56,16 na Sudeste (SE) e R$ 59,10 na Sul (S). No mesmo ano, para os estados, foi de: R$ 40,28 na CO, R$ 26,71 na S, R$ 13,77 na N, R$ 33,91 na SE e R$ 45,54 na S. O gasto por habitante dos municípios foi mais elevado que o dos estados em todas as regiões, com menor diferença na S (30%) e maior na N (342%). O GTM municipal ficou abaixo da média nas regiões NE e SE, e o GTM estadual nas regiões NE e N. A soma dos GTM dos estados e municípios foi menor nas regiões NE e N.
Conclusões/Considerações
Assim como no gasto em saúde, também se observam desigualdades no gasto em medicamentos dos municípios e estados por região geográfica. Essas desigualdades regionais demandam alocação de recursos federais atinente às diferentes capacidades de financiamento dos medicamentos e maior coordenação entre os entes da federação na gestão da assistência farmacêutica no SUS, visando à ampliação do acesso da população brasileira a esses produtos.
“TIGRIN JÁ NÃO DÁ PREJUÍZO”? O MERCADO DAS BETS E O IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA NACIONAL
Pôster Eletrônico
1 Pós-doutoranda do Departamento Museu da Vida Fiocruz (DMVF//COC); Núcleo de Estudos da Divulgação Científica (NEDC); Núcleo de Estudos de Público e Avaliação em Museus (Nepam)
Apresentação/Introdução
O estudo é realizado no âmbito da pesquisa de pós-doutoramento, com enfoque na temática dos memes. Contudo, outras abordagens atravessam a pesquisa, o estudo sobre influenciadores é uma delas. Os memes são um veículo midiático eficaz na internet. Empresas de apostas buscam influenciadores para aumentar a sua presença nos fluxos comunicacionais, lógicas afluentes cada vez mais mercantilizadas.
Objetivos
Contribuir com estudos articulados à saúde e ao efeito do abuso das bets na população do país. Além de ampliar reflexões acerca do lugar dos influenciadores digitais na mobilização comunicacional nacional e os impactos dessa influência na saúde.
Metodologia
Nossa investigação foi elaborada através de pesquisa bibliográfica (Chagas, 2024; Primo et al 2021; Reportagens da Revista Piauí, 2025), da análise documental da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets com a influenciadora digital, Virgínia Fonseca, e da abordagem qualitativa amparada em metodologia de estudo exploratório. A imagem amplificada por memes estabelece território em disputa, crucial para a visibilidade comunicacional (Beiguelman, 2021). Em contrapartida, a opacidade de uma “nomenclatura pacificada” (Chagas, 2024, p.13) dos influenciadores corrobora com a desregulamentação das transações financeiras estabelecidas entre esses trabalhadores e as empresas contratantes.
Resultados
Contribuir com a produção teórica deste fenômeno da ambiência digital, “influenciadores”, especialmente ao que tange a vinculação desses profissionais com estratégias mercadológicas (Primo et al, 2021). O país consome cerca de nove horas de conteúdo digital por dia (We Are Social e Meltwater, 2024), essa predisposição midiática – histórica – intensifica a vulnerabilidade das classes sociais mais pobres. Almeja-se salientar a intensa atividade de lobby entre os conglomerados de empresas de apostas e de comunicação, mediados por esses influenciadores, e evidenciar os efeitos dessa conjunção comercial na atual epidemia em jogos de azar no Brasil.
Conclusões/Considerações
Os influenciadores são uma modalidade de mercado com ampla financeirização publicitária (Gatto, 2024, p.14). Segundo a edição 220 da Piauí: “os jogos online afetam inclusive o Bolsa Família: dos 14,1 bilhões de reais distribuídos mensalmente pelo governo, 3 bilhões foram repassados para as bets”. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024) as bets são uma epidemia, sendo assim, um desafio socioeconômico para o Sistema Único de Saúde (SUS).
MOVIMENTO SANITARISTA E INJUSTIÇA TRIBUTÁRIA: ANÁLISE DE REDES DISCURSIVAS
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
2 Cebrap
3 USP
4 UFPEL
Apresentação/Introdução
Que lugar ocupa a questão de injustiças tributárias nos movimentos sociais brasileiros que lutam pela implementação de políticas sociais? Essa pergunta tem como pano de fundo a constatação sobre o paradoxo da Constituição de 1988, na qual a ampliação dos direitos sociais não foi acompanhada pela progressividade da base fiscal. Neste trabalho analisamos as organizações de Movimento Sanitarista.
Objetivos
O objetivo da pesquisa é analisar como as organizações de Movimento Sanitarista abordam a questão tributária nas suas reivindicações em termos de diagnósticos de injustiças e prognósticos de soluções fiscais e por meio de que coalizões.
Metodologia
Realizamos uma análise de redes discursivas (Leifeld, 2013, 2017), um tipo de metodologia de análise que busca entender as conexões entre atores e discursos por meio da codificação de textos e da construção de redes, com base no uso dos softwares de Discourse Network Analysis. Foram estipuladas as seguintes variáveis: “Autor do documento”, “Organização Citada”, “Origem do Tributo” (proposta de tributação) e “Destino do Tributo” (para onde o recurso será destinado). Com isso, é possível visualizar como as propostas estão conectadas com os destinos e a formação de coalizões. Foram analisados 60 publicações da ABRASCO e do Cebes, entre 2007 a 2024.
Resultados
Os resultados mostram que as organizações consideram o sistema tributário brasileiro como regressivo e injusto, apontam para o excesso de incentivos e isenções fiscais como, por exemplo, a renúncia fiscal referente a despesas médicas. Propõem taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, armas e munições, revisar subsídios a combustíveis fósseis, criar um imposto sobre a movimentação financeira e/ou uma Contribuição Social sobre Altas Rendas. Indicam como destino de recursos arrecadados o financiamento do SUS e da Seguridade Social. As organizações atuam em coalizões em torno das questões tributárias, com destaque para a Reforma Tributária 3S: Saudável, Solidária e Sustentável.
Conclusões/Considerações
A tributação é vista pelas organizações do Movimento Sanitarista como um instrumento poderoso de política pública que pode tanto perpetuar desigualdades e fragilizar o setor público quanto promover a justiça social ao financiar adequadamente o SUS e desincentivar práticas e consumos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A discussão sobre como o Estado arrecada e gasta seus recursos é apresentada como um nó crítico a ser desfeito.
EMENDAS PARLAMENTARES EM SAÚDE: MAIORES BENEFICIADOS DA PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 E (DES)CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE INCREMENTO AO CUSTEIO (2019-2024)
Pôster Eletrônico
1 IPEA
Apresentação/Introdução
Anualmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) divulga limites de incremento ao custeio da atenção primária e especializada por meio de emendas parlamentares. No entanto, em 2023, diante da proibição das emendas de relator, o Ministério da Saúde executou os recursos separados para esse tipo de emenda como despesa discricionária, o que fez que esses valores não fossem contabilizados nos limites.
Objetivos
Identificar os maiores beneficiados pela Portaria GM/MS nº 544/2023 (PRT 544), que redistribuiu as emendas de relator, e avaliar o cumprimento dos limites de incremento ao custeio caso esses recursos houvessem sido classificados como emenda.
Metodologia
Foram utilizadas bases de dados disponibilizadas pelo FNS: a de transferências fundo a fundo, a de emendas parlamentares, e as de limite de incremento ao custeio via emendas parlamentes divulgadas anualmente. A primeira foi utilizada para identificar os recursos pagos referentes à PRT 544 e combinada com a segunda para identificar o total de valores pagos em incremento ao custeio em 2023. Em seguida, esses valores foram comparados aos limites anuais de incremento, considerando o cenário em que os recursos da PRT 544 fossem classificados como emendas.
Resultados
Na atenção primária, o Alagoas foi o maior beneficiado pela PRT 544, com R$ 72 per capita, seguido de Roraima (R$ 36) e Piauí (R$34). Na atenção especializada, o Alagoas também foi o maior beneficiado, com R$ 128 per capita, seguido de Maranhão (R$ 49) e Paraíba (R$ 44). Quando os recursos da PRT 544 são considerados como emenda, houve descumprimento do limite de incremento ao custeio na atenção primária em 692 municípios, totalizando R$ 482 milhões acima do limite, e em 1.020 municípios na atenção especializada, totalizando R$ 1,62 bilhão. Também houve descumprimento em 6 estados na atenção especializada, totalizando R$ 382 milhões.
Conclusões/Considerações
A disseminação de mecanismos de financiamento do SUS de natureza volátil – como emendas parlamentares e despesas de incremento ao custeio – pode comprometer a capacidade de planejamento e previsibilidade das ações e serviços públicos de saúde, cuja oferta deve ser estável e contínua. Tais preocupações tornam-se ainda maiores quando os recursos são executados sem transparência e descumprindo critérios técnicos.
OS MUNICÍPIOS E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL NO BRASIL E NO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS NA GESTÃO DO SUS
Pôster Eletrônico
1 Cosems RJ e Centro Universitário Arthur Sá Earp UNIFASE
2 Cosems RJ
3 Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro IMS/UERJ
Apresentação/Introdução
Este trabalho analisa a formação e a evolução dos municípios brasileiros, destacando o impacto da Constituição de 1988 na descentralização político-administrativa e no fortalecimento do papel municipal na gestão do SUS. O estudo explora ainda as implicações dessa configuração para o desenvolvimento econômico-social e a organização da saúde pública, com foco no estado do Rio de Janeiro.
Objetivos
Analisar a trajetória histórica dos municípios no Brasil e suas implicações na formulação de políticas públicas, com ênfase na saúde. Explorar as desigualdades regionais e os desafios da gestão do SUS, especialmente no estado do Rio de Janeiro.
Metodologia
Trata-se de um estudo teórico e documental. A pesquisa baseia-se em revisão bibliográfica, análise de dados demográficos e administrativos de fontes oficiais (IBGE, Ministério da Saúde) e legislação nacional, com foco na descentralização e no papel dos municípios na gestão do SUS. O estudo enfatiza as transformações históricas do federalismo brasileiro, a evolução das competências municipais e as disparidades entre municípios, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, a partir de dados censitários e da organização regional da saúde.
Resultados
O estado do Rio de Janeiro apresenta forte concentração populacional em poucos municípios: 88,04% da população vive em cidades com mais de 100 mil habitantes e 54,2% em apenas quatro municípios com mais de 500 mil habitantes. Apesar disso, o número total de municípios subiu modestamente de 70 para 92 após a fusão estadual. A desigualdade territorial impacta a organização do SUS, dificultando a regionalização e a equidade no acesso aos serviços. O modelo fluminense de regionalização em nove regiões de saúde buscou enfrentar esse cenário, mas enfrenta desafios relacionados à má gestão, descontinuidade administrativa e disparidades estruturais entre municípios
Conclusões/Considerações
A Constituição de 1988 fortaleceu os municípios como entes federativos autônomos, ampliando seu papel na gestão do SUS. No entanto, as desigualdades estruturais e financeiras entre os municípios limitam a efetividade dessa descentralização. O caso do Rio de Janeiro evidencia a urgência de políticas que promovam regionalização eficaz, equidade no acesso e fortalecimento da cooperação federativa.
UMA SÓ SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO PÚBLICA: ANÁLISE DA INSERÇÃO NORMATIVA EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS (2008–2024)
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília
2 Universidade de Brasília (UnB) - Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde (LAGAS)
Apresentação/Introdução
A crise climática e a pandemia de covid-19 evidenciaram a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. O conceito e abordagem de Saúde Única passou a ocupar um espaço crescente nas universidades e na administração pública. No entanto, ainda são escassos os estudos que analisam de forma sistemática quando e como esse conceito foi incorporado ao arcabouço normativo.
Objetivos
Este trabalho teve como objetivo identificar e sistematizar as espécies normativas que fazem referência ao conceito de Saúde Única, pelos municípios brasileiros no período de 2008 e 2024.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa documental envolvendo normas primárias e secundárias da administração pública. A coleta e triagem seguiram um fluxo metodológico estruturado em quatro etapas: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão, resultando em um corpus final de 61 normas analisadas. Nesta análise, foram pesquisados: os municípios de origem da norma, o ano de publicação e a descrição da norma. Em seguida, as normas foram classificadas em seis temas, sendo o tema “outros temas” classificado em cinco subtemas.
Resultados
Os resultados revelam um marco temporal: a partir de 2020 há um crescimento expressivo —coincidindo com o início da pandemia de Covid-19— que se mantém até 2024. Os municípios da região Sul e Sudeste despontam como protagonistas, sendo responsáveis por 93% das normas identificadas (N=57). Já os temas centrais abordados pelas normas analisadas foram: “intersetorialidade e políticas públicas integradas” (N=12) e “vigilância e regulação sanitária" (N=12). Contudo, a maior parte das normas foram classificadas como “outros temas” (N=41). Os subtemas mais frequentes foram “demais assuntos institucionais” (N=30) e “gestão e estrutura institucional” (N=5).
Conclusões/Considerações
Portanto, o conceito de Saúde Única não apenas ganhou espaço no discurso acadêmico mas também começou a se traduzir em ações normativas concretas, inclusive em âmbito municipal. O conceito é empregado em diferentes temáticas como meio de articular as políticas públicas. Contudo, ainda é relevante entender as assimetrias entre a utilização do conceito em normas entre as diferentes regiões do país.
FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA PANDEMIA DE COVID-19 EM MACRORREGIÕES DA BAHIA
Pôster Eletrônico
1 UFRB
2 UFPB
3 UFBA
Apresentação/Introdução
A pandemia de Covid-19 escancarou as consequências históricas do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A necessidade urgente de alocar recursos financeiros para estruturar os serviços em ritmo compatível com as exigências da crise sanitária deparou-se com um cenário desafiador, marcado por profundas desigualdades regionais no Brasil.
Objetivos
Trata-se de recorte da pesquisa “Estratégias de prevenção e controle da Covid-19 em fases da pandemia: análise global e regional”, em especial, sobre o financiamento de serviços de saúde em resposta à Covid-19, em duas macrorregiões da Bahia.
Metodologia
Realizou-se estudo de múltiplos casos regionais com abordagem qualitativa e níveis de análise embricados entre a gestão estadual e regional. A produção dos dados incluiu a análise de 71 documentos, entre atos do poder executivo, diretrizes estaduais, atas de Comissões Intergestores Regionais e Bipartite, além de notas técnicas e alertas sanitários. Além disso, realizaram-se 27 entrevistas com gestores estaduais, regionais e de municípios-sede de regiões de saúde. Para a análise dos dados, consideraram-se os dilemas de financiamento de serviços de saúde nas macrorregiões estudadas.
Resultados
O financiamento de serviços de saúde concentrou-se em insumos, equipamentos e ampliação de leitos. Isto não foi suficiente para gerir a crise sanitária nos municípios de pequeno porte, onde gestores não controlavam variáveis como: escassez de profissionais capacitados, a alta demanda de atendimentos e deficiência estrutural histórica dos serviços de saúde. A alocação financeira regional foi desigual e os maiores investimentos para a implantação de serviços se concentraram na capital do estado. Nesse cenário, as emendas parlamentares funcionaram como mecanismos paralelos de financiamento, beneficiando municípios com maior articulação política junto a representantes do legislativo federal.
Conclusões/Considerações
As experiências no financiamento dos serviços de saúde durante a pandemia de Covid-19 evidenciaram o papel central da dimensão política na alocação de recursos, por meio de emendas parlamentares e da articulação entre esferas subnacionais e o legislativo federal. Destaca-se a importância do planejamento regional integrado, equitativo e fundamentado em critérios epidemiológicos e assistenciais.
POLÍTICAS DE SAÚDE E CUIDADOS PALIATIVOS: ANÁLISE COMPARATIVA DE TRÊS PAÍSES
Pôster Eletrônico
1 FURB
Apresentação/Introdução
Este estudo compara as políticas públicas de cuidados paliativos no Brasil, Espanha e Austrália, destacando avanços e desafios na implementação, financiamento, formação de profissionais e acesso. Entender as experiências internacionais fornece subsídios para aprimorar a institucionalização dos cuidados no Brasil, promovendo maior equidade e qualidade de vida.
Objetivos
Analisar a institucionalização dos cuidados paliativos no Brasil, comparando com Espanha e Austrália, identificando boas práticas, desafios e estratégias para fortalecer a política e ampliar o acesso universal e equitativo aos serviços.
Metodologia
Realizou-se uma pesquisa documental, utilizando fontes oficiais, legislações, diretrizes e literatura acadêmica. A análise seguiu a abordagem de Braun e Clarke (2006), identificando categorias sobre princípios, objetivos, financiamento, acesso e estruturação dos serviços nos três países. A coleta concentrou-se em documentos de ministérios, estudos internacionais e relatórios de saúde, permitindo comparar as experiências e destacar estratégias bem-sucedidas e obstáculos na implementação das políticas de cuidados paliativos.
Resultados
As experiências da Espanha e Austrália evidenciam a importância de marcos regulatórios sólidos, financiamento adequado, profissionalização contínua e cultura centrada na pessoa. O Brasil avançou com a PNCP, mas enfrenta dificuldades na integração regional, formação de profissionais e conscientização social. Países mais estruturados demonstram que o sucesso depende de recursos, governo compromissado e investimento em educação, possibilitando maior acesso e qualidade aos cuidados paliativos.
Conclusões/Considerações
O fortalecimento de políticas eficazes requer recursos constantes, formação de profissionais e mudança cultural. A troca de experiências internacionais pode orientar melhorias no Brasil, ajustando estratégias às suas realidades. É essencial ampliar o financiamento, promover a formação contínua e sensibilizar a população para garantir o direito universal aos cuidados paliativos de qualidade, promovendo dignidade e bem-estar.
AUSTERIDADE FISCAL E GASTOS MUNICIPAIS EM SAÚDE: ESTUDO DE SÉRIES TEMPORAIS INTERROMPIDAS
Pôster Eletrônico
1 Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz)
Apresentação/Introdução
Entre 2015 e 2019, o Brasil viveu um ciclo de austeridade fiscal, marcado por cortes nos gastos públicos e pela Emenda Constitucional nº 95 (2016). Esse contexto interrompeu o crescimento das despesas em saúde e impôs desafios ao financiamento municipal que é, em grande parte, responsável pela Atenção Primária. Compreender esses impactos é fundamental para avaliar os efeitos da austeridade no SUS.
Objetivos
Analisar o impacto da política de austeridade fiscal nas despesas com saúde dos municípios brasileiros, levando em consideração o porte populacional e a fonte dos recursos.
Metodologia
Estudo retrospectivo, quantitativo e quasi-experimental, que utilizou Séries Temporais Interrompidas (ITS) com modelagem ARIMA para avaliar o impacto da austeridade no financiamento da saúde municipal. Foram usados dados semestrais de 2010 a 2019, do SIOPS. Municípios foram classificados por porte populacional (pequenos, médios e grandes). Os desfechos foram: despesas totais em saúde, com recursos da União e próprios/estaduais, ajustadas pela inflação e convertidas em dólar. A data de intervenção (austeridade) foi fixada em 2015, analisando-se mudanças de nível e tendência, com previsão contrafactual baseada no cenário prévio.
Resultados
A política de austeridade fiscal reduziu, em 2015, os níveis de gasto total e de recursos próprios/estaduais com saúde na média dos municípios, sem alterar a tendência dos indicadores nos anos seguintes. Municípios pequenos reduziram as despesas totais; os médios, tanto as despesas totais quanto com recursos próprios/estaduais; e os grandes, apenas com recursos próprios/estaduais. Não houve queda significativa nas despesas oriundas de repasses da União no curto prazo. No médio prazo, apenas os grandes municípios apresentaram queda nas tendências de gastos, tanto com recursos próprios/estaduais quanto com repasses federais para a saúde.
Conclusões/Considerações
No geral, o impacto da Política de Austeridade Fiscal no financiamento da saúde dos municípios se deu de forma imediata e a partir da queda de recursos próprios/estaduais destinados à saúde. Nos municípios grandes, entretanto, o impacto foi perdurável entre 2015 e 2019, afetando, principalmente, as despesas com saúde oriundas de recursos da União.
NEOLIBERALISMO E DEPRESSÃO: REPERCUSSÕES DE UMA SOCIEDADE NEOLIBERAL NOS PROCESSOS DEPRESSIVOS
Pôster Eletrônico
1 Ceub
Apresentação/Introdução
A sociedade na qual estamos inseridos, é regida pelo modelo neoliberal, o qual opera a partir da lógica da produtividade, auto suficiência e auto responsabilização. Esta pesquisa buscou compreender como tais lógicas impactam sujeitos com depressão, considerando que o sofrimento psíquico e a forma como nos constituímos sujeitos são atravessados por relações sociais, econômicas e políticas.
Objetivos
Investigar as repercussões das lógicas neoliberais na experiência do sujeito com depressão. E compreender o neoliberalismo como modo de subjetivação, além de identificar sua relação com o sofrimento psíquico na atualidade, em especial a depressão.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Foram entrevistados quatro participantes, entre 23 e 24 anos, com diagnóstico de depressão. As entrevistas, semiestruturadas, foram presenciais ou online, com consentimento. Para a análise do material obtido, foram adotados os procedimentos alinhados à Análise Temática (AT) proposta por Braun e Clarke (2006), permitindo identificar padrões de sentido nas falas. Os dados revelaram temas como produtividade, medicalização, repercussões da experiência com a depressão e percepções e desigualdades no acesso ao cuidado. O referencial teórico dialoga com Foucault, Han e Dunker, permitindo compreender o sofrimento como expressão de lógicas sociais e políticas.
Resultados
Os dados evidenciam que a lógica neoliberal, atravessa subjetivações e estrutura formas de vivenciar e compreender a depressão. Os participantes associam produtividade à autovalidação e sentem culpa quando não correspondem às exigências sociais. A medicalização aparece como resposta rápida ao sofrimento, muitas vezes usada de forma acrítica. Além disso, os relatos apontam comparação social, uso das redes como intensificadores do sofrimento e explicitam dificuldades no acesso ao cuidado, especialmente via SUS, e desconhecimento dos serviços. A lógica neoliberal se mostra internalizada, influenciando a percepção de fracasso, a culpabilização individual e a forma como o sofrimento é vivido.
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidenciou que as lógicas neoliberais atuam na constituição do sujeito contemporâneo, impondo uma forma de vida baseada na performance, autorregulação e invisibilização do sofrimento. Assim, a depressão aparece como sintoma de um modelo social excludente. É urgente a construção de estratégias de cuidado mais integrais e contextualizadas, que considerem os determinantes sociais, culturais, políticos e econômicos do sofrimento psíquico.
EDUCAÇÃO E SAÚDE NO ENSINO MÉDIO: INTERVENÇÃO CURRICULAR COM BASE NA DISCIPLINA PROJETO DE VIDA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
Este trabalho propõe uma articulação entre os campos da Educação e da Saúde no Ensino Médio brasileiro, por meio da disciplina Projeto de Vida. A partir de uma análise crítica do Novo Ensino Médio e dos dados
sobre evasão escolar e saúde mental, propõe-se uma intervenção que compreende o currículo como espaço estratégico de promoção da saúde coletiva.
Objetivos
Investigar como a inclusão de temas de saúde no currículo do Ensino Médio, especialmente via a disciplina Projeto de Vida, pode contribuir para a redução da evasão escolar e a promoção da saúde mental e coletiva
dos estudantes.
Metodologia
Foi adotada uma abordagem qualitativa, com análise documental, levantamento de dados secundários (Censo Escolar, PNAD, IBGE) e construção de um projeto de intervenção com base em questionários e grupos focais. A proposta tem como base o conceito de Saúde do Trabalhador, considerando estudantes como trabalhadores em formação. A disciplina Projeto de Vida é analisada como espaço potente de imbricação entre saúde e educação. Além disso, o trabalho se ancora em referenciais teóricos como Ailton Krenak, Paulo Freire, Foucault e Edgar Morin para refletir sobre intersetorialidade, integralidade, transdisciplinaridade e bem viver.
Resultados
A análise evidenciou a ausência de políticas estruturantes de saúde no ambiente escolar e revelou contradições na implementação do Novo Ensino Médio. Os dados indicam altos índices de evasão e sofrimento mental entre jovens, especialmente os mais vulnerabilizados por raça, classe e gênero. A disciplina Projeto de Vida, quando bem orientada, demonstrou potencial para ser um elo entre saúde e educação. Os questionários e grupos focais reforçaram a demanda por acolhimento, escuta e temas de saúde no cotidiano escolar, apontando caminhos para práticas mais inclusivas e promotoras de bem-estar.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que é urgente fortalecer a integração entre políticas educacionais e de saúde pública no Ensino Médio. A disciplina Projeto de Vida pode ser ponto estratégico de articulação, desde que seja repensada a
partir das realidades escolares e das vozes do "chão da escola". A transversalidade entre saúde e educação é essencial para a permanência estudantil e o enfrentamento das desigualdades estruturais.
CONFLITO ENTRE A PRESERVAÇÃO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA E A EXPANSÃO IMOBILIÁRIA URBANA: UMA ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DA COMUNIDADE DO CASTAINHO EM PERNAMBUCO
Pôster Eletrônico
1 UPE
2 UFBA
Apresentação/Introdução
O resumo analisa os desafios enfrentados pela Comunidade Quilombola do Castainho-PE diante da especulação imobiliária e da expansão urbana desordenada. A pesquisa destaca a luta pela preservação territorial e cultural, frente à mercantilização da terra e à hegemonia do modelo urbano capitalista, evidenciando desigualdades históricas e sociais.
Objetivos
Analisar como a especulação imobiliária ameaça os territórios quilombolas e discutir o papel do Estado na implementação de políticas públicas que garantam o direito à terra e promovam o desenvolvimento sustentável.
Metodologia
A pesquisa foi realizada entre maio e agosto de 2024, na Comunidade Quilombola do Castainho, Garanhuns, Pernambuco. Utilizou-se abordagem qualitativa, por meio de visitas domiciliares e reuniões comunitárias. A técnica da árvore das questões foi aplicada para identificar os principais problemas enfrentados, articulando-os com os conteúdos da Residência de Saúde Coletiva com Ênfase em Agroecologia da UPE na disciplina Estado, Sociedade e Políticas Públicas. Permitindo compreender a dinâmica da especulação imobiliária como expressão da luta de classes, da hegemonia ideológica e da acumulação por despossessão no contexto quilombola.
Resultados
Constatou-se que o território do Castainho foi reduzido de cinco mil hectares para apenas 183 hectares oficialmente reconhecidos. A especulação imobiliária se intensificou a partir da década de 1980, ameaçando a permanência da comunidade. A organização comunitária, com apoio de movimentos sociais e instituições públicas, resultou no reconhecimento oficial em 2012. As pressões atuais refletem interesses econômicos que desconsideram os modos de vida tradicionais. A ausência de políticas públicas eficazes, falhas de governança e desigualdades históricas reforçam a vulnerabilidade jurídica e territorial, afetando a identidade cultural e a sustentabilidade da comunidade.
Conclusões/Considerações
A luta da Comunidade do Castainho evidencia o conflito entre o capital e os modos de vida tradicionais. A resistência quilombola representa a defesa da autonomia, da cultura e do território frente à urbanização predatória. É essencial que o Estado atue com políticas públicas efetivas, garantindo a titulação das terras, respeitando as práticas culturais e promovendo justiça social e desenvolvimento sustentável.
EFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO RN (2019–2024)
Pôster Eletrônico
1 LAIS/UFRN
2 PPGP/UFRN
3 ISC/UFBA
Apresentação/Introdução
As ações de combate e prevenção às ISTs exigem articulação entre os entes federativos. No âmbito estadual, uma forma de avaliar a relevância do tema nas políticas públicas de saúde é pela análise orçamentária. Este estudo observa a ação “Fortalecimento da Política de Vigilância e Prevenção das IST/AIDS e Hepatites Virais” no RN entre 2019 e 2024.
Objetivos
Analisar a execução orçamentária da ação voltada à prevenção das IST/AIDS no RN (2019–2024), identificando sua eficiência, tendências de financiamento, subexecução e a prioridade atribuída à política estadual de saúde sexual e reprodutiva.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva com dados extraídos dos Relatórios de Contas de Gestão da Controladoria Geral do Estado do RN. Foram coletadas informações sobre dotação inicial, atualizada, empenhado e liquidado (2019–2024). Os dados foram organizados e analisados comparativamente por ano, permitindo identificar padrões de financiamento e execução. A análise se baseia em referenciais sobre orçamento público, políticas de saúde sexual e economia da saúde.
Resultados
De 2019 a 2024, a execução da ação apresentou oscilações significativas. Em 2020, a dotação atualizada caiu de R$ 2,03 mi para R$ 694 mil, com liquidação de apenas R$ 286 mil. Em 2022, a dotação inicial foi de R$ 552 mil, mas foi atualizada para R$ 1,86 mi; a execução atingiu só R$ 435 mil (23,4%). Em 2023, observou-se o melhor desempenho, com liquidação de R$ 572 mil (39,8%). Já em 2024, apenas R$ 189 mil foram liquidados, 20,8% da dotação atualizada.
Conclusões/Considerações
A análise revela baixa eficiência e instabilidade na execução orçamentária da política de IST/AIDS no RN. A recorrente subexecução e dependência de créditos adicionais comprometem a continuidade das ações. É preciso ampliar a previsibilidade orçamentária e fortalecer a capacidade de execução da gestão estadual.
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO FEDERAL PARA SAÚDE DIGITAL, TELESSAÚDE E INOVAÇÃO NO SUS ENTRE 2021 E 2025
Pôster Eletrônico
1 LAIS/UFRN
2 ISC/UFBA
Apresentação/Introdução
A Saúde Digital tem se consolidado como uma estratégia prioritária no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente após a pandemia de COVID-19. A ação orçamentária que reúne dotações voltadas à implantação, manutenção e inovação em Saúde Digital e Telessaúde, refletem o compromisso federal com a implementação de políticas públicas que garantam o acesso à saúde digital.
Objetivos
Analisar as pontuações da ação para Implantação, Desenvolvimento e Manutenção de Saúde Digital, Telessaúde e Inovação no SUS entre 2021 e 2025, por meio da dotação e execução orçamentária no orçamento geral da união.
Metodologia
Trata-se de uma análise quantitativa, com base nos dados públicos do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento). Foram coletadas informações referentes ao Projeto de Lei do Orçamento Anual da União, a Dotação Inicial aprovada pelo Congresso, e a Dotação final sancionada pela Presidência, bem como os montantes em Empenhado, Liquidado e Pago para a ação orçamentário, no período de 2021 a 2025. As informações foram sistematizadas em um banco de dados e analisados estatisticamente à luz da literatura sobre financiamento em saúde e políticas digitais no SUS.
Resultados
A Política de Saúde Digital foi formalizada com a Estratégia 2020–2028, lançada em abril de 2020 pelo Ministério da Saúde. Para avaliar sua implementação, analisou-se o orçamento federal da ação vinculada à saúde digital. Em 2021, o PLOA previu R$ 40 milhões, mas a dotação inicial foi de R$ 30 milhões e apenas R$ 5,93 milhões foram atualizados, com 5,7% efetivamente pagos. A partir dos anos seguintes, observa-se crescimento no orçamento, invertendo-se a lógica em 2025, quando a dotação atual supera o valor inicialmente projetado, indicando maior priorização da política, com uma dotação final de R$ 112 milhões.
Conclusões/Considerações
Os dados orçamentários mostram que, apesar do início tímido, houve ampliação progressiva do financiamento à Política de Saúde Digital, indicando seu fortalecimento como prioridade estratégica. A inversão entre valores projetados e atualizados em 2025 revela maior compromisso com a saúde digital, estratégia relevante para enfrentar desigualdades no acesso aos serviços de saúde.
COBERTURA DE AFILIAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE PRIVADO NO BRASIL: ANÁLISE DE SÉRIE HISTÓRICA.
Pôster Eletrônico
1 IMS/UFBA
2 IMS/UFBA e CES/UC
Apresentação/Introdução
O processo de adoecimento e maneira de se sentir cuidado e assistido mudaram, as necessidades em saúde hoje são pautadas na facilidade de acesso a altas tecnologias e a consultas de rotina e urgência. Com oportunidade de investimento captada pelo setor privado e a ideia de depreciação do sistema público em saúde, é necessário investigar a carcaterização da adesão aos planos de saúde no Brasil.
Objetivos
Analisar a variação da cobertura de planos de saúde privados no Brasil, segundo grandes regiões, faixa etária e a modalidade de contratação, no período entre 2019 a 2025.
Metodologia
Trata-se de estudo quantitativo, longitudinal com uso de dados secundários sobre a filiação a planos de saúde no Brasil. O banco de dados foi constituído com dados oficiais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), anos de 2019 a 2025. Selecionou-se as variáveis: grande região brasileira; faixa etária (0-19 anos, 20-34 anos, 35-59 anos e +60 anos); e tipo de contratação (individual/familiar (I/F), coletivo empresarial (CE) e coletivo por adesão (CA). Realizou-se análise estatística descritiva buscando-se identificar a tendência da série e potenciais associações. Foram calculados os percentuais dos agregados por tipo de contratação e a sua ditribuição por faixa etária e regiões.
Resultados
Observou-se uma tendência de crescimento da cobertrua de planos de saúde no período. Os beneficiários passaram, entre 2019 e 2025, de 46.904.497 para 52.127.407, aumento de 11,1%. Sobre as modalidades de contratação, o tipo CE foi a único que apresentou expanção (19%), com decréscimo em I/F (-4,6%) e CA (-5,3%). Entre as regiões, o Centro-oeste teve maior elevação para CE, 43%. Todas as faixas etárias apresentaram ampliação: 0-19 (6,9%); 20-34 (0,9%); 35-59 (17%); +60 (21,4%). Na faixa etária +60, as maiores elevações foram nas regiões Centro-Oeste (72%), Sul (18%) e Sudeste (17,8%). Entre 35-59 anos, os maiores aumentos foram no Norte (28,5%) e Nordeste (22,6%).
Conclusões/Considerações
A elevação dos planos de saúde se desenvolveu pela modalidade CE. A retração das modalidades I/F e CA ratificam o desinteresse das operadoras de oferta individulizada para pessoas e famílias. O aumento +60 pode se relacionar à fragilidade dos sistema de proteção social, associada sensação de maior necessidade de assistência à saúde no pós pandemia. Potencializar a atuação do sistema público é fundamental para a garantia do direito a saúde.
AUTONOMIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: ANÁLISE DOCUMENTAL NO CONTEXTO BRASILEIRO
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
A autonomia figura como diretriz e objetivo no cuidado à saúde dos usuários do SUS em diferentes políticas públicas de saúde no Brasil, assumindo múltiplos significados e implicações. Este estudo analisa como esse conceito é mobilizado em documentos de referência e de que modo suas diferentes interpretações impactam a prática profissional nos serviços de saúde.
Objetivos
Analisar como o termo autonomia é utilizado nas políticas públicas de saúde no Brasil a partir dos documentos oficiais, discutindo as diferentes acepções do conceito.
Metodologia
Trata-se de um estudo documental, de caráter qualitativo, que analisou o uso do termo autonomia em documentos estratégicos da saúde pública no Brasil: Política Nacional de Humanização do SUS, Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 3.088 que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). A análise de conteúdo temática buscou identificar a frequência do termo e as acepções atribuídas à autonomia, relacionando essas compreensões às diretrizes de cuidado e à prática profissional.
Resultados
Verificou-se que o termo autonomia aparece de forma recorrente, empregado de diferentes modos, nos documentos analisados: 3 vezes na Política Nacional de Humanização do SUS, 7 vezes na PNAB, 9 vezes na Portaria nº 3.088 (RAPS) e 3 vezes na Lei nº 11.343/2006 (SISNAD). Observou-se que a autonomia é associada ora à corresponsabilização, ora à independência, sem configurar um conceito único. As diferentes acepções apontam para potenciais disputas discursivas que podem impactar a implementação das políticas no cotidiano profissional.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que as políticas públicas analisadas são fruto de lutas sociais e expressam garantias formais de direitos, mas sua implementação depende da interpretação e ação dos profissionais. A autonomia é apresentada como construção relacional e dinâmica, permeada por disputas discursivas e tensões históricas presentes nas práticas de cuidado em saúde.
ESTUDO DE CASO: AS CONSEQUÊNCIAS DAS INVASÕES DE TERRAS E CONSTRUÇÕES IRREGULARES DE MORADIAS NO DISTRITO FEDERAL, E SEUS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário de Brasília - CEUB
Apresentação/Introdução
Hoje debate-se muito sobre os impactos ambientais causados por consequências de ações humanas. Algumas dessas repercussões ocorrem devido ao crescente número de desmatamento, sendo ocasionado por construções de residências irregulares e por ocupação de terras em áreas de preservação ambiental, ou em locais de riscos, o que tem resultado de forma negativa na natureza e na saúde da população.
Objetivos
A pesquisa teve como objetivo melhorar a infraestrutura de locais que sofrem por invasões, recuperar a vegetação, trazer métodos de construção sustentável e traçar um modelo de moradia em regiões carentes. Foi escolhida uma região a ser revitalizada.
Metodologia
Primeiramente, foi feita uma pesquisa sobre os principais problemas de ocorrência na região do Sol Nascente, e os principais pontos a serem solucionados. Após, foram feitos estudos e pesquisas sobre materiais ecológicos para fins de uso urbanístico, juntamente com modelos de cidades funcionais em regiões de baixa renda, sendo analisadas, vias, arborização, iluminação, áreas de lazer e residências. Em seguida, analisada a viabilidade deles tanto no seu uso quanto na sua aplicação. Depois, foram apresentadas de forma explicativa as estratégias de soluções abordadas, e suas melhorias para a região estudada. Concluindo, a aplicação dos resultados necessários para o local.
Resultados
Trouxe modelo de soluções urbanas eficientes e sustentáveis para regiões de baixa renda, podendo ser usado como referência para outros projetos; contribuiu de forma teórica e prática para outras pesquisas com a mesma temática; expôs as problemáticas das invasões, o que é recorrente no Brasil; apresentou novas formas de utilização do espaço urbano, como a revitalização de áreas precárias e sem infraestrutura adequada; auxiliou profissionais das áreas vinculadas à arquitetura, na descoberta de novas soluções para os problemas apontados na pesquisa, contribuindo para o meio ambiente e para a saúde da população.
Conclusões/Considerações
O processo de urbanização foi marcado pela questão do êxodo rural, onde a população do campo migrou para a zona urbana em busca de melhores condições de vida. Porém, quando chegaram não conseguiram se adaptar tão facilmente, não conseguiram emprego, e devido às condições precárias foram forçados a ocupar regiões desvalorizadas ou irregulares. O estudo mostrou um modelo de referência para áreas que sofrem com os problemas abordados.
RIO DE JANEIRO: LABORATÓRIO DO CAPITAL NA SAÚDE? CRÍTICA À MUNICIPALIZAÇÃO CONSERVADORA
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
A municipalização de instituições de saúde no Rio de Janeiro, sob perspectiva crítica, expressa contradição com princípios do SUS. 'Inovações' gerenciais na descentralização mascaram a erosão do sentido da Reforma Sanitária. Vinculada ao Projeto Universidade e Saúde (ESS/UFRJ), a pesquisa analisou 3 hospitais federais municipalizados em 2024 (Bonsucesso, gestão via OSS; Andaraí e Cardoso Fontes).
Objetivos
Investiga-se impactos da municipalização via OSS na efetivação da descentralização do SUS. Analisam-se as mudanças nos contratos de trabalho, efeitos na organização de serviços e a dissonância entre discursos descentralizadores e práticas mercantis.
Metodologia
Com revisão bibliográfica sobre Reforma Sanitária, descentralização e mercantilização; análise documental de legislações, contratos e relatórios de OSS; estudo de caso em 3 hospitais cariocas: Bonsucesso, Andaraí e Cardoso Fontes. Numa abordagem qualitativa, ancorada no materialismo histórico-dialético, adota-se uma perspectiva histórico-crítica da saúde para investigar os modelos de gestão pós-municipalização, as alterações na organização e estruturação dos serviços e estratégias político-econômicas neoliberais implícitas. Utiliza-se o conceito de 'municipalização conservadora' (Paim, 1992) para criticar as contradições entre discursos descentralizadores e práticas mercantilizantes no SUS.
Resultados
Identifica-se precarização laboral e substituição de contratos estatutários por terceirização via OSS, gerando perda de direitos e rotatividade de profissionais, além de fragmentação do cuidado manifesta no hospitalocentrismo medicalizante e supervalorização de tecnologia dura. O poder se concentra hegemonicamente nas OSS, não nos gestores municipais. Subordina-se o cuidado à lógica de rentabilidade e produtivismo, rompendo com a integralidade. Discursos gerencialistas de 'eficiência' mascaram a perda do controle público e a financeirização das políticas de saúde, marcando uma descentralização não democrática e alheia ao SUS, nisto a municipalização opera como mecanismo de mercantilização.
Conclusões/Considerações
Os processos de municipalização analisados configuram-se como conservadores, desvinculando-se da descentralização participativa do SUS e transmutando serviços públicos em mercadorias. Os casos expõem uma reorientação do SUS para os interesses do Capital, invertendo a lógica da Reforma Sanitária e afastando-se de uma política democrática. Urge resgatarmos um SUS verdadeiramente integral, onde o interesse social não seja subserviente ao mercado.
SISTEMA DE SAÚDE DA ÍNDIA NO CONTEXTO DOS BRICS: DESAFIOS PARA ALCANCE DE UNIVERSALIDADE E EQUIDADE EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 ISC / UFF
2 UEL
3 ENSP / FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A Índia se destaca quanto a métricas populacionais e territoriais, sendo o país mais populoso do mundo e de elevada extensão territorial. Também possui relevância econômica, com alta capacidade tecnológica, inclusive, na biotecnologia (indústria farmacêutica e vacinas). Tal posição, contrasta com o sistema de saúde, marcado por baixo financiamento público, o menor entre os países BRICS.
Objetivos
Analisar trajetórias e características do sistema de saúde e de vigilância da Índia, com intuito de refletir acerca dos principais desafios para alcance do direito à saúde da população, com ênfase em valores como a universalidade e a equidade.
Metodologia
O estudo se utilizou de diferentes técnicas de pesquisa, tais como revisão de artigos científicos, leitura de legislações, busca de documentos e relatórios técnicos, e análises de informações em sítios institucionais de referência nacional e internacional. A análise aprofundou aspectos históricos, normativos, políticas públicas e a configuração institucional do sistema de saúde e de vigilância indianos, com ênfase nos processos de reformas, propósitos e principais desafios para implementação.
Resultados
Sobressaem a persistência de desigualdades em saúde e fragmentação institucional no âmbito da vigilância. Mecanismos estatais (políticas e programas) procuraram, ao longo dos anos, ampliar a cobertura, com a agenda de Cobertura Universal de Saúde. Traços histórico-constitutivos do sistema permanecem como desafios. Destacam-se a Política Nacional de Saúde (2017), o Programa Nacional Ayushman Bharat (2018), a Missão Nacional de Saúde e o Programa Integrado de Vigilância de Doenças. A ampliação do acesso via fortalecimento da Atenção Primária é acompanhada da elevada participação do setor privado, sobretudo, na atenção especializada e hospitalar, que se fortalece por contratos governamentais.
Conclusões/Considerações
Com um crescimento econômico significativo nas últimas décadas, a Índia sobressai em sua capacidade produtiva, o que inclui insumos, tecnologias e formação profissional em saúde. Contudo, o histórico baixo investimento público em saúde, combinado aos crescentes incentivos ao setor privado, se apresentam como fortes barreiras para alcance de resultados em saúde, sobretudo, para a garantia de universalidade e equidade.
REFORMAS RECENTES NO SISTEMA DE SAÚDE DO CHILE - DINÂMICAS PÚBLICO-PRIVADAS E DESAFIOS PARA UNIVERSALIDADE E EQUIDADE
Pôster Eletrônico
1 ISC / UFF
2 UnigranRio Afya / ENSP / FIOCRUZ
3 ENSP / FIOCRUZ
4 ENSP / Universidad de Chile
Apresentação/Introdução
Reformas de bases neoliberais no sistema de saúde chileno (1973-1990) ocasionaram fragmentação institucional, segmentação social e desigualdades. Governos progressistas impulsionaram reformas (anos 2000), com avanços limitados devido a aspectos estruturais. O período recente, é marcado por resposta sanitária à Covid-19 e por medidas governamentais orientadas à universalização e à equidade.
Objetivos
Analisar processos de reformas recentes no sistema de saúde chileno, discutindo os principais desafios para universalidade e equidade. Discutiu-se limites históricos e estruturais para mudanças mais profundas e perspectivas para sua consolidação.
Metodologia
Estudo em abordagem qualitativa, que se utilizou de revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas com atores-chave. Foram entrevistados gestores públicos, técnicos e acadêmicos com participação na formulação ou na implementação de processos de reformas ou com expertise no sistema de saúde. O período de análise abarcou os anos de 2020 a 2024. A análise se estruturou nos eixos: (1) contexto político e institucional; (2) macro funções e organização do sistema; e (3) interações entre os setores público e privado. A triangulação de fontes permitiu observar os arranjos institucionais e as mudanças ao longo do período.
Resultados
Reformas incrementais no sistema de saúde (anos 2000), orientaram-se ao fortalecimento do componente público e à ampliação da cobertura populacional. Já no contexto de epidemia de Covid-19, houve fortalecimento do sistema de saúde, destacando-se a APS e a vigilância em saúde. No atual governo, desde 2022, adotaram-se medidas como a eliminação de copagamentos e a criação de nova modalidade de asseguramento no Fondo Nacional de Salud e a universalização da APS. Mas, permanecem a manutenção de interesses do setor privado; a fragmentação institucional, inclusive, nas relações público-privadas; e a instabilidade no financiamento, que comprometem as possibilidades de transformação estrutural.
Conclusões/Considerações
Os movimentos de reformas recentes reforçam a importância do protagonismo do Estado para fortalecimento do sistema público de saúde. Contudo, há desafios relacionados à trajetória histórica, às capacidades político-institucionais, aos interesses do setor privado em saúde, aos embates políticos e ao financiamento desse sistema. O alcance da universalidade e da equidade no sistema de saúde exigem pactuação coletiva em defesa da saúde como direito.
INTERFERÊNCIA LEGISLATIVA NA REGULAÇÃO SANITÁRIA: O CONTROLE POLÍTICO SOBRE A ANVISA NO CONTEXTO BRASILEIRO
Pôster Eletrônico
1 IFES; IMS (UERJ)
2 IMS (UERJ)
3 ANVISA
Apresentação/Introdução
O controle político do Poder Legislativo sobre a Anvisa revela dinâmicas institucionais que afetam a autonomia técnica da agência. A regulação sanitária, ao lidar com temas sensíveis à saúde e ao mercado, torna-se alvo de pressões político-econômicas que desafiam a função pública do Estado no campo da saúde coletiva.
Objetivos
Analisar a natureza, frequência e estratégias de controle político exercidas pelo Legislativo sobre a Anvisa, compreendendo como tais intervenções influenciam a regulação sanitária e os processos decisórios da agência.
Metodologia
A pesquisa adota abordagem teórico-metodológica que articula a Teoria Crítica do Estado e o Neoinstitucionalismo Histórico, para compreender o papel do Estado e das instituições na regulação sanitária. Empregou-se análise documental de normas e Projetos de Decreto Legislativo (PDLs), com ênfase na análise de conteúdo das proposições legislativas voltadas à Anvisa. A investigação também envolveu levantamento bibliográfico e uso de métodos qualitativos e quantitativos. As iniciativas foram classificadas por tema, estratégia de controle e autoria parlamentar, permitindo identificar padrões de interferência e relações com interesses econômicos, como o financiamento de campanhas por setores regulados.
Resultados
Foram identificadas estratégias diversas de controle legislativo, com maior autonomia da Anvisa em temas como cosméticos e farmacopeia, e maior interferência em medicamentos, alimentos e serviços. Observou-se protagonismo de partidos como PT, PMDB e PSDB, com destaque para PDLs relacionados ao agronegócio. Parlamentares favoráveis à flexibilização de agrotóxicos apresentaram vínculos com financiamento empresarial do setor. A atuação judicial, por sua vez, tende a favorecer a discricionariedade técnica da Anvisa. A crescente judicialização reforça os limites e disputas em torno da regulação, revelando um cenário institucional assimétrico e tensionado.
Conclusões/Considerações
O controle legislativo sobre a Anvisa reflete disputas entre interesses econômicos e a autonomia técnica estatal. A regulação sanitária é atravessada por tensões institucionais que evidenciam a vulnerabilidade das políticas públicas em contextos periféricos. O estudo revela a centralidade do Legislativo na disputa regulatória e destaca os desafios da governança democrática na proteção da saúde coletiva.
MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE: CONTRADIÇÕES ENTRE A ACUMULAÇÃO CAPITALISTA FLEXÍVEL E O DIREITO À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
Apresentação/Introdução
No desenvolvimento do modo de produção capitalista, na sua fase contemporânea neoliberal, o trabalho tem sido reestruturado em função da dominância do mercado financeiro. Assim, o estudo da oferta e demanda de profissionais de saúde no mercado de trabalho como condição para a reprodução dos serviços de saúde na garantia da saúde enquanto direito social e dever do Estado suscita uma problemática.
Objetivos
O objetivo deste trabalho é caracterizar o mercado de trabalho em saúde no Brasil no século XXI, nos anos de 2000 a 2024.
Metodologia
Este é um estudo de abordagem qualitativa e analítica, em que foi realizada uma revisão de escopo da literatura científica sobre o mercado de trabalho em saúde no Brasil entre 2000 e 2024, através da combinação dos descritores “mercado de trabalho” e “mão de obra em saúde” nas bases de dados Pubmed/Medline, Lilacs, Embase e Google Acadêmico. Os artigos foram processados no Rayyan e os dados coletados foram organizados em uma matriz de análise orientada por categorias derivadas da economia política da saúde, com ênfase na integração profissional ao mercado, dinâmica do mercado, divisão do trabalho, setores de reprodução dos serviços, distribuição espacial e formas de organização do trabalho.
Resultados
Foi identificada a tendência de insegurança no emprego através da flexibilização, terceirização e precarização dos vínculos laborais, como na pejotização, como elementos estruturantes da integração do profissional de saúde ao mercado. A força de trabalho em saúde é feminina e jovem. A concentração geográfica de trabalhadores está em regiões mais desenvolvidas, como Sul e Sudeste, enquanto a maior rotatividade está em contextos de menor desenvolvimento socioeconômico, como Norte e Nordeste. O crescimento de cursos de graduação revela um descompasso entre oferta e demanda de profissionais. A inserção profissional nos setores público e privado reforça a dualidade do sistema de saúde brasileiro.
Conclusões/Considerações
A precarização atinge as profissões de forma desigual, com efeitos sobre a autonomia profissional, o cuidado e a responsabilização das equipes. A acumulação flexível reconfigura o mercado de trabalho em saúde, acentuando a precarização do trabalho e a mercantilização do cuidado. Urge reconhecer os trabalhadores como sujeitos na luta por um projeto de saúde que confronte a lógica neoliberal e valorize o trabalho em torno de um direito social.
UM RETRATO DA FINANCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE: ESTRATÉGIAS COMERCIAIS E OFERTAS ASSISTENCIAIS DAS CLÍNICAS POPULARES DE DUAS CAPITAIS BRASILEIRAS.
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz-RJ
2 Fiocruz-AM
3 IMS/UERJ
4 UFMA
5 UFABC
6 Queen Mary University of London
7 USP
Apresentação/Introdução
No Brasil, a saúde oscila entre direito e mercadoria. Nos últimos 15 anos, clínicas populares privadas e cartões de desconto sem regulação cresceram como pretensas respostas às lacunas assistenciais do SUS. Apesar do acesso rápido, ampliam desigualdades e afetam os mais vulneráveis. O estado da arte atual não contempla as reais consequências desse modelo de financeirização no país.
Objetivos
A análise proposta é parte de pesquisa que visa analisar as relações público-privadas da saúde em territórios periféricos de capitais nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, e seus nexos com a financeirização da saúde.
Metodologia
A metodologia mapeou clínicas populares em São Luís e Manaus. Consideraram-se ativas as que tinham presença online, ofertavam várias especialidades e consulta com clínico geral por até R$200. Excluíram-se consultórios isolados ou de uma só especialidade. A busca iniciou-se via CNAE (8630-5/01, /02, /03) e foi complementada manualmente com Google, listas locais e conhecimento dos pesquisadores. A coleta envolveu sites, redes sociais e contatos diretos. Registraram-se preços, especialidades, exames, rede, cartões de desconto e teleconsulta. Incluíram-se ainda, manualmente, empresas com CNAEs distintos dos especificados acima e buscaram-se filiais de redes por dados online.
Resultados
Nas clínicas analisadas, a ultrassonografia foi o exame mais ofertado: 67,7% em São Luís e 98% em Manaus. A mamografia também teve destaque, presente em 66% e 98%, respectivamente. Além disso, São Luís apresenta maior oferta de exames cardiovasculares, enquanto Manaus prioriza os preventivos e laboratoriais. Quanto às especialidades médicas em ambas as cidades, a Clínica Geral é a especialidade mais comum, estando em quase 100% das clínicas, seguida por pediatria, ginecologia e dermatologia. A telemedicina aparece em 20,3% das clínicas de São Luís e 14,5% das de Manaus, mostrando sua crescente adoção entre as clínicas populares.
Conclusões/Considerações
As clínicas populares apresentam ofertas semelhantes, oferecem consultas típicas da atenção primária do SUS, mas também atendem demandas de mercado, como as estéticas. Além disso, possuem maior uso de recursos tecnológicos, porém não apresentam proposta de cuidado integrado após identificação de casos que exigem atenção especializada.
DESPRIVATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE: INTRODUZINDO O DEBATE
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
Nas últimas décadas o neoliberalismo redefiniu o papel do Estado e impulsionou a mercantilização das políticas sociais. Nos sistemas de saúde, houve aumento dos gastos, promoção de seguros segmentados e prestadores privados, ampliando desigualdades e espaços de acumulação. Em resposta à crises, iniciativas de desprivatização surgem como alternativa para universalização de serviços públicos.
Objetivos
Os objetivos deste trabalho são (1) introduzir elementos teórico e conceituais sobre a desprivatização de serviços públicos, com foco nas políticas de saúde; (2) delinear uma agenda de investigação sobre a desprivatização dos sistemas de saúde.
Metodologia
O trabalho é parte da construção do marco teórico e metodológico do projeto “Observatório da Desprivatização dos Sistemas de Saúde”, sediado na UFRJ. A partir da revisão de escopo da literatura científica, documentos de organizações políticas e instituições, buscou-se: contextualizar historicamente os processos privatização e seus impactos na organização social dos sistemas de saúde, apontando tendências internacionais contemporâneas; situar a emergência da discussão teórica e política sobre a desprivatização de serviços públicos; sistematizar e categorizar aspectos, dimensões, processos e experiências relacionadas à desprivatização dos sistemas de saúde.
Resultados
A desprivatização refere-se a processos políticos de retomada do controle público e comunitário sobre a propriedade e gestão de serviços essenciais. Passa pela redefinição da relação entre sociedade, Estado e mercado na produção e distribuição de recursos associados à reprodução social. Experiências concretas se intensificaram na década de 2010, principalmente no nível local, mas também podem estar atreladas a conflitos sociais mais amplos. Nos sistemas de saúde, a desprivatização é associada aos desafios de construção de sistemas públicos, universais e integrais de saúde, como condição a superação de modelos assistenciais segmentados, fragmentados, desiguais e centrados na acumulação.
Conclusões/Considerações
A disputa contemporânea pelo direito à saúde exige alternativas que fortaleçam o setor público e limitem o papel do setor privado no financiamento e provisão de serviços. A desprivatização, como conceito e como ação, pode subsidiar estratégias técnicas e políticas para a construção de sistemas de saúde universais, integrais e igualitários, fomentado reformas estruturais que promovam a saúde como bem comum, em especial nos países do Sul Global.
MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE NO BRASIL DO SÉCULO XXI: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
Apresentação/Introdução
Existe uma vasta disponibilidade de estudos na literatura científica acerca do mercado de trabalho em saúde, o que permite compreender como a produção científica tem abordado as transformações entre capital e trabalho nas últimas décadas. Entretanto, não foram identificadas produções que sistematizem esses dados, enquanto estudos tendem a focalizar nos aspectos demográficos da força de trabalho.
Objetivos
O objetivo deste trabalho é identificar e analisar a produção científica relativa ao mercado de trabalho em saúde no Brasil encontrada em bases de dados selecionadas, de 2000 a 2024.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo realizada nas bases de dados PubMed/Medline, LILACS, Embase e Google Acadêmico, a partir dos descritores “mercado de trabalho” e “mão de obra em saúde”. Após triagem no software Rayyan, foram incluídos 46 artigos publicados entre 2008 e 2023. A análise contemplou a distribuição dos estudos por periódicos, regiões geográficas, tipos de estudo, categorias profissionais analisadas e temáticas abordadas. Os artigos foram agrupados em categorias temáticas de forma indutiva, onde foram analisados o conteúdo dos estudos.
Resultados
Predominaram os estudos na região Sudeste. Observou-se maior presença de métodos quantitativos, especialmente com dados secundários. As profissões mais abordadas foram odontologia, enfermagem e medicina. As categorias foram: vínculos de trabalho e precarização; distribuição de profissionais e regionalização; formação profissional e inserção no mercado; acesso e disponibilidade de profissionais; divisão sexual do trabalho; custos da formação; e políticas e programas específicos. A literatura tende a naturalizar a precarização do trabalho em saúde, com ênfase descritiva, raramente articulando os achados a categorias estruturantes das contradições do capitalismo dependente brasileiro.
Conclusões/Considerações
A produção sobre o mercado de trabalho em saúde é concentrada em certos recortes profissionais, com escassa atenção a dimensões como raça e classe, o que reflete limites que dificultam a problematização das desigualdades que atravessam o setor. Urge superar análises setoriais e incorporar categorias teóricas como precarização, financeirização e luta de classes, de modo a fortalecer projetos contra-hegemônicos de valorização do trabalho em saúde.
A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E O USO DE CARTÕES DE DESCONTO COMO ESTRATÉGIAS DE ATRAÇÃO DAS CLÍNICAS POPULARES
Pôster Eletrônico
1 ILMD - Fiocruz
2 IMS/UERJ
3 EPSJV - Fiocruz
4 UFMA
5 USP
6 Queen Mary
7 UFABC
Apresentação/Introdução
A oferta de pacotes promocionais que combinam serviços e produtos é uma estratégia já consolidada para ampliar visibilidade e vendas. No entanto, seu impacto nos serviços de saúde, especialmente em clínicas populares, é pouco explorado. Isso vale também para os cartões de desconto, cujo uso efetivo ainda é pouco conhecido nessas clínicas.
Objetivos
Analisar a oferta de pacotes promocionais e de cartões de desconto em clínicas populares de Manaus (AM) e São Luís (MA).
Metodologia
Foram mapeadas clínicas populares em São Luís e Manaus como parte de uma pesquisa que está analisando as características destas clínicas nessas cidades. A busca pelas clínicas foi realizada nas bases juntas comerciais das respectivas cidades a partir dos CNAE (8630-5/01, /02, /03). Foram incluídas as que tinham presença online, ofertavam várias especialidades e consulta com médico até R$200,00. Além dessas, a lista com as clínicas foi complementada manualmente utilizando-se o site Google, listas locais e conhecimento dos pesquisadores. Foi realizada análise individual de cada uma das clínicas permitindo evidenciar uso de pacotes promocionais e cartões de desconto.
Resultados
Identificou-se que as principais plataformas de divulgação das clínicas populares são principalmente Instagram e Facebook, com campanhas intensificadas em datas específicas. Nessas ocasiões, são ofertados “combos” promocionais, que incluem consultas com médicos ou outros profissionais de saúde e exames, especialmente em datas como Dia da Mulher, Outubro Rosa e Novembro Azul. Essa prática ocorre em 96,4% das clínicas de Manaus e 45,8% das de São Luís. Quanto ao uso de cartões de desconto, observou-se que esse modelo é adotado por 27,3% das clínicas em Manaus e 23,7% em São Luís.
Conclusões/Considerações
O modelo empresarial das clínicas populares levanta questões éticas, pois exames e procedimentos podem ser ofertados mais por interesse comercial do que por necessidade médica. O uso de cartões de fidelização, sem clareza sobre os limites dos serviços, pode induzir ao consumo e comprometer a continuidade do cuidado, apontando para a urgência de maior regulamentação e fiscalização.
O CONCEITO DE CLÍNICA POPULAR DE SAÚDE NO BRASIL: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz-AM
2 UFMA
3 Fiocruz-RJ
Apresentação/Introdução
Na última década, o Brasil foi marcado por crise política e econômica e medidas de austeridade fiscal que agravaram problemas estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário há expansão das clínicas populares, serviços privados que ofertam atenção fragmentada e fazem da saúde mercadoria. Em meio a luta por saúde como direito, é preciso compreender essa nova expressão do privado.
Objetivos
O presente trabalho objetiva compreender o conceito de clínica popular de saúde no Brasil, a partir da produção acadêmica nacional.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo desenvolvida com base nos manuais da Joanna Briggs Institute (JBI), a partir da pergunta norteadora: “Como os artigos e outras produções acadêmicas brasileiras conceituam clínicas populares de saúde (CPS)?”. As buscas ocorreram nas bases de dados Periódicos CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a partir dos termos-chave "clínica popular", "clínicas medicas populares" e "clínica de baixo custo". Foram incluídos estudos completos publicados em português, inglês ou espanhol que apresentassem explicitamente o conceito de clínica popular de saúde. Utilizou-se instrumento de extração de dados segundo modelo proposto pela JBI.
Resultados
A partir de 70 referências encontradas, 22 compuseram a amostra final. Fez-se a identificação e o mapeamento das características chaves elencadas nos conceitos de CPS, sendo as principais: estabelecimentos privados de saúde, oferta de consultas médicas especializadas e exames, preço baixo, voltados à população baixa renda usuária do SUS e sem plano de saúde, localizados em regiões movimentadas e próximos a serviços públicos de saúde. A maioria dos estudos são das áreas Saúde Coletiva (9) e Administração (8). Alguns autores apontam a expansão das CPS como consequência da falta de resolutividade do SUS, outros relacionam esse fenômeno com o aprofundamento da lógica neoliberal no setor saúde.
Conclusões/Considerações
A consolidação das principais características das CPS faz compreendê-las como setor privado de saúde voltado para população de baixa renda, o que reforça desigualdades estruturais. É um modelo de negócio que está na contramão dos princípios do SUS e que ainda é pouco explorado no campo da Saúde Coletiva. A compreensão do conceito é passo importante para que seja possível entender e atuar junto aos impactos das CPS no sistema de saúde brasileiro.
INTERESSES ORGANIZADOS EM SAÚDE GLOBAL: O CASO DO RELANÇAMENTO DO GRUPO EXECUTIVO DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE (GECEIS)
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
Investigamos a interseção entre políticas de desenvolvimentismo e arranjos participativos em saúde no Brasil, com foco no papel do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS) para o fortalecimento da capacidade estatal no setor farmacêutico. Argumentamos que o GECEIS é resultado de uma trajetória institucional que fortalece o potencial transformador da participação pública.
Objetivos
Identificar como as trajetórias de arranjos participativos em políticas desenvolvimentistas e de saúde se interseccionam após a pandemia, consolidando um sistema deliberativo capaz de fomentar coalizões em temas desafiadores técnica e politicamente.
Metodologia
Fundamentado no institucionalismo histórico e utilizando o rastreamento de processos como principal abordagem metodológica, o estudo explora como conjunturas críticas — nomeadamente a pandemia de COVID-19 e a eleição presidencial de 2022 — catalisaram uma reconfiguração dos arranjos institucionais. Argumenta-se que o GECEIS surge como um mecanismo híbrido de governança, combinando expertise burocrática e participação pública, promovendo a formação de coalizões entre o Estado, a sociedade civil e o setor privado. A partir da análise documental, entrevistas com elites e rastreamento de políticas, o projeto busca compreender como o GECEIS contribui para a agenda de política industrial do Brasil.
Resultados
A pesquisa em andamento parte da hipótese de que o GECEIS surge de uma conjuntura crítica — pandemia e eleição de Lula 3 — que integra os subsistemas de desenvolvimento econômico e fortalecimento do SUS. Sua criação estabelece novos pontos de acesso (Skocpol, 1985) e arranjos participativos que promovem convergência, formação de coalizões (Fung, 2012; Weible, 2016) e o papel cívico de associações (Fung, 2003). Esses arranjos favorecem a institucionalização de políticas para fortalecer a resposta do sistema de saúde a emergências, enfrentando a “tirania do urgente” da Saúde Global.
Conclusões/Considerações
Desafiando o ceticismo geral com arranjos participativos de caráter mais amplo e técnico, defendemos que a trajetória do emprego de arranjos participativos em políticas desenvolvimentistas e de saúde no Brasil, na verdade, contribuiu para que surgissem arranjos institucionais mais eficazes. Tal eficácia pode ser observada pela capacidade de promover ações coordenadas em temas de alta complexidade, incluindo em arenas internacionais.
OS CAMINHOS DO DINHEIRO E A PRODUÇÃO DE TERRITÓRIOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A racionalidade estatal estabelece continuamente diversas formas de apreensão do espaço. No contexto das políticas públicas de saúde, essa racionalidade se traduz no estabelecimento de dinâmicas territoriais que definem os fluxos das pessoas por entre as malhas institucionais, onde a negociação em torno da alocação de recursos entre municípios de uma mesma região destaca-se como questão central.
Objetivos
Analisar a influência do processo decisório acerca da alocação de recursos entre municípios na produção de territórios em saúde.
Metodologia
Trata-se de uma etnografia desenvolvida entre 2022 e 2024 em uma Unidade Regional de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (URSAP). O trabalho de campo teve início a partir da análise de documentos produzidos nas reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR). Posteriormente, a observação participante estendeu-se às reuniões da CIR e ao trabalho realizado no âmbito da sua Secretaria Executiva. Deste modo, os interlocutores deste estudo foram documentos produzidos no âmbito da URSAP e os seus trabalhadores. Os dados apreendidos foram registrados em diário de campo, sistematizados e analisados pela técnica de codificação temática.
Resultados
O processo decisório das reuniões da CIR mostrou-se permeado de múltiplos interesses em permanente disputa. O desenho territorial da política de saúde era notadamente tributário dos caminhos para os quais os recursos financeiros seriam destinados, a depender das negociações e pactuações feitas entre gestores municipais, bem como entre estes e os prestadores de serviços privados. Os mecanismos de gestão e transferência de recursos, assentados numa racionalidade e tecnicalidade estatal e de mercado, enunciavam o território da política de saúde mais como um depositário final de intervenções e não tanto como um espaço de vida e relações como compreende a Saúde Coletiva.
Conclusões/Considerações
Nas discussões da CIR os caminhos do dinheiro ocupavam lugar central no processo decisório em saúde e na produção de fluxos territoriais. O desenho do território na política de saúde acompanhava não as especificidades de cada lugar, mas as pactuações estabelecidas pelos gestores conforme seus interesses e alianças, revelando controvérsias e contradições na construção do SUS no nível local.
ENTRE A EXPANSÃO E A IRREGULARIDADE: A LACUNA DE CADASTRO DAS CLÍNICAS POPULARES NO CNES DE DUAS CAPITAIS BRASILEIRAS
Pôster Eletrônico
1 IMS - UERJ / CEDAPS
2 Fiocruz-AM
3 UFMA
4 Fiocruz-RJ
5 UFABC
6 Queen Mary University of London
7 IMS - UERJ
Apresentação/Introdução
No biênio 2024-2025, a divulgação científica acerca de serviços médicos em clínicas populares no Brasil ganhou relevância. Quatro de cinco documentos usaram o CNES como única fonte de informação. Apesar da obrigatoriedade do cadastro de todos os estabelecimentos de saúde prevista por portarias do MS, a baixa representatividade dessas clínicas no CNES aponta uma irregularidade que requer atenção.
Objetivos
Oportunizar a discussão a respeito dos prejuízos da ausência de equipamentos que prestam serviços de saúde humana no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e analisar como as clínicas populares se apresentam na base oficial do CNES
Metodologia
Trata-se de um recorte de pesquisa exploratória sobre as relações público-privadas e a financeirização da saúde em territórios periféricos de três capitais brasileiras. As clínicas populares foram identificadas por critérios como valor do atendimento e oferta de especialidades, a partir de bancos de empresas cujos códigos Classificação Nacional das Atividades Econômicas abrangem atividades ambulatoriais, pequenos procedimentos e exames. Para Manaus (AM) e São Luís (MA), os dados dessas clínicas foram cruzados com o banco de estabelecimentos de saúde cadastrados no CNES, visando analisar a classificação das clínicas populares entre os diferentes tipos de estabelecimentos no sistema
Resultados
Em Manaus, somente 34,6% das clínicas identificadas pelo CNAE fazem parte desse cadastro e em São Luís, quase metade das clínicas populares identificadas não faziam parte desse cadastro. Essa constatação também reforça a falta de dados, regulamentação e controle sobre as clínicas populares hoje em funcionamento nas capitais analisadas, e, segundo (SANTOS; GODOY; SANTOS, 2024), o cruzamento análogos demonstram que em mais da metade das clínicas populares localizadas nos municípios metropolitanos do estado do Pará, não apresentam registro de informações CNES, o que pode indicar tendência nacional
Conclusões/Considerações
Diante da expansão da última década e da obrigatoriedade legal do cadastro no CNES, a baixa representatividade das clínicas populares no sistema evidencia fragilidades no monitoramento e dificulta diagnósticos precisos sobre oferta e qualidade de serviços médicos no Brasil. Para empresários que priorizam demanda espontânea e pagamentos diretos, a ausência pode se configurar como uma estratégia de mercado, ainda que à margem da legislação vigente.
A COMPLEMENTARIEDADE NO SUS E O CRESCIMENTO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
A complementariedade de serviços pelo setor privado, priorizando instituições sem fins lucrativos, é prevista constitucionalmente. Para isso são criados instrumentos de gestão pelo Ministério da Saúde - MS, no entanto, estudos apontam para a lacuna sobre a transitoriedade das instituições privadas por meio de CNPJs e crescimento desse setor no SUS, requisitando inclusive de mais estudos.
Objetivos
Identificar formas de viabilização jurídica para complementariedade de serviços no SUS.
Metodologia
Estudo qualitativo, descritivo e documental por meio de levantamento de documentos do MS sobre contratação de serviços no SUS e legislações sobre participação do setor privado no SUS, destaque para lei nº 13.019, de julho de 2014 que dispõe da Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e Lei nº 9.637, de maio de 1998 que qualificar as Organização Social (OS).
Os dados são parte de uma pesquisa em andamento que envolve o estudo sobre a complementariedade no SUS. A análise vem sendo associada a literatura recente por meio de levantamento bibliográfico realizado no primeiro semestre de 2025.
Resultados
O MS aponta quatro tipos de instrumentos contratuais utilizados no SUS. Para serviços complementares: convênios que são cooperação entre poder público e setor sem fins lucrativos; e contratos administrativos entre poder público e particulares. Já nas parcerias, termos de parceria entre gestor do SUS e Oscip para prestar serviços e adquirir bens; e contrato de gestão entre poder público e OS. Na prática, o setor filantrópico tem legislação especifica (convênios, parcerias e contrato de gestão) e também compete em contrato administrativo. Existe uma priorização política de investimento. Em 2023 foi aberto um total de R$256,7 milhões por ano para o setor filantrópico em 17 estados.
Conclusões/Considerações
Estudos apontam para o crescimento do setor filantrópico por dentro do SUS, seja desenvolvendo a gestão de serviços ou complementando-o. Trata-se de uma priorização política em detrimento do estatal direto e privado com fins lucrativos. Para tanto, a facilidade de criar CNPJ´s dessas instituições e fluidez jurídica requer desdobramento dos reais interesses políticos que atravessam essa relação.
O CAPITAL E A SAÚDE NO BRASIL: TENDÊNCIAS DE ACUMULAÇÃO, TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E A DEPENDÊNCIA PANDÊMICA NO CONTEXTO DAS CONTRARREFORMAS ESTATAIS
Pôster Eletrônico
1 EPSJV/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O presente trabalho analisa as tendências recentes de acumulação do capital no setor saúde brasileiro, articulando os impactos das contrarreformas do Estado, das reconfigurações jurídico-institucionais e dos desdobramentos sociais, econômicos e produtivos acentuados pela pandemia de Covid-19. Problematiza-se o avanço da mercantilização e seus efeitos sobre a saúde coletiva e o SUS.
Objetivos
Analisar as tendências de acumulação do capital no setor saúde brasileiro entre 2010 e 2023, com foco nas transformações político-institucionais e econômicas que reconfiguram a saúde como campo de disputa, mercantilização e dependência tecnológica.
Metodologia
O estudo adota abordagem histórico-estrutural, fundamentada na teoria crítica do Estado e na economia política da saúde. Realizou-se análise documental e de dados secundários, incluindo legislações, políticas públicas, relatórios de mercado e documentos institucionais produzidos entre 2010 e 2023. Foram examinados os processos de produção, comercialização e regulação de bens e serviços de saúde, além de indicadores econômicos setoriais. A análise contemplou o período pré e pós-pandêmico, permitindo identificar dinâmicas estruturais como financeirização, oligopolização,expansão de conglomerados privados e dependência tecnológica,com destaque para os mecanismos de apropriação do fundo público.
Resultados
Identificou-se uma crescente expansão do setor privado da saúde,com concentração e centralização de capital de capitais,resultando na consolidação de grandes conglomerados hospitalares,laboratoriais e de planos de saúde. Observou-se o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) como espaço de disputa,porém com hegemonia de interesses privados. A pandemia de Covid-19 agravou a dependência do país em tecnologia e insumos críticos e evidenciou a fragilidade da capacidade produtiva nacional.Identificou-se o aprofundamento da financeirização e a intensificação da atuação estatal como indutor de mercado, por meio da transferência de volumosos recursos públicos ao setor privado.
Conclusões/Considerações
A análise evidencia que as tendências de acumulação do capital na saúde brasileira aprofundam a subordinação do SUS à lógica mercantil. A pandemia acelerou processos de financeirização, privatização e dependência tecnológica. A superação desses desafios requer políticas públicas que revertam a primazia do capital no setor saúde e avancem na construção de um projeto de soberania sanitária, com fortalecimento do SUS e do parque produtivo nacional.
EQUIDADE E EXPANSÃO DA COBERTURA PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE NA AMÉRICA LATINA. REVISÃO INTEGRATIVA.
Pôster Eletrônico
1 UFC
Apresentação/Introdução
A Cobertura Universal de Saúde (CUS) tem sido apresentada como a terceira transição global da saúde. Por outro lado, a falta de equidade tem sido considerada a deficiência mais grave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), pois estes se concentraram em metas nacionais quantificáveis, negligenciando as populações mais vulneráveis.
Objetivos
Realizar uma revisão integrativa da literatura para analisar conceitos, estratégias e métodos de mensuração utilizados para a equidade e a inclusão das populações vulneráveis no contexto da cobertura universal de saúde.
Metodologia
Foi realizada uma busca na base de dados PubMed utilizando as palavras "universal health coverage" ou "universal health care" combinadas com os termos "equity" ou "inequity" ou "vulnerable populations" e com "Latin America" ou cada um de seus países constituintes. Se limitou ao período de 2010 a 2025. 159 artigos foram recuperados, sendo 129 textos completos. A revisão por pares dos títulos e resumos de cada artigo foi realizada por dois dos autores. Após o filtro, baseado no objetivo do estudo e criterios de exclusão, foram escolhidos 31 artigos.
Resultados
Uma revisão narrativa do ano 2014, advoga por um universalismo progressivo para reduzir as barreiras no aceso, que identifique com clareza as populações desfavorecidas e suas necessidades insatisfeitas. Da revisão dos estudos, pode se dizer que não é comum achar uma definição de equidade em saúde, aparecendo mais como implícita. Sobre as estratégias, predominam estudos quantitativos sobre inequidade e saúde reprodutiva, materna, infantil, havendo um índice composto mais utilizado (ICC) e pouco sobre outras condições crónicas, finalmente, temos visto variadas formas de mensuração de aceso assim como da equidade ou inequidades.
Conclusões/Considerações
A equidade é parte do conceito da CUS, se ela procura não deixar ninguém para trás, mas não é automática, precisa ser definida, explicitada nas políticas, e adequadamente medida. A vulnerabilidade se dá por muitas condições, nesta revisão foram achadas algumas delas como a idade, o gênero, a ruralidade, a etnia, a renda, mas também existem outras, como a diversidade sexual, os migrantes, e elas ainda são interdependentes.
PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA PELA DETERMINAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE DOENÇA
Pôster Eletrônico
1 UFPR
Apresentação/Introdução
A pandemia de covid-19 foi a maior crise sanitária da história recente. Apesar de ser uma doença viral, fatos como a disparidade nos casos, mortes e super-representação dos desfechos no Brasil em relação ao mundo apontam que as explicações não podem ser somente biológicas. Portanto uma análise que busque desvelar os processos de outras esferas se faz necessária para melhor compreensão.
Objetivos
Analisar a determinação social da Covid-19 no Brasil, identificando diferenças de mortalidade em distintos segmentos sociais: raça, gênero, escolaridade, ocupação e faixa etária e discutir os impactos das políticas públicas adotadas.
Metodologia
Pesquisa descritivo-analítica. Os dados foram obtidos por revisão integrativa com os descritores ‘covid-19 AND Determinantes Sociais da Saúde’; ‘covid-19 AND Determinação Social da Saúde’; ‘covid-19 AND iniquidade social AND mortalidade’ e ‘covid-19 AND desigualdade social AND mortalidade’ nas bases de dados BVS e SciELO; e de um estudo ecológico gerando os indicadores de mortalidade de diferentes segmentos com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do IBGE (Censo e PNADC). A análise e discussão dos dados ocorreu tendo como referenciais teóricos o materialismo histórico-dialético expresso na teoria da determinação social do processo saúde-doença.
Resultados
A mortalidade de covid-19 no Brasil é resultado da forma de produção social. Como base social temos o capitalismo que toma a vida humana como mercadoria força de trabalho passível de reposição. Enovelado ao capitalismo temos o racismo e o patriarcado que se atualizam e determinam as condições de vida das coletividades e suas formas de adoecer. A nível do Estado sob regência do capital-neoliberal ocorre o desmonta e precarização das políticas sociais, fragilizando o SUS e mitigando a capacidade de enfrentamento da pandemia. O negacionismo do governo mistificou a pandemia, dificultou o enfrentamento e proteção da vida enquanto protegia grandes empresas.
Conclusões/Considerações
O capitalismo ao generalizar a forma mercadoria coloca o valor de troca acima do valor de uso tornando vida humana e natureza recursos exploráveis para o acúmulo de capital e os sistemas de opressão hierarquizam grupos em mais ou menos exploráveis aprofundando desigualdades. Isso evidencia a necessidade de políticas e ações que confrontem essas estruturas para haver equidade em saúde.
ESTADO DEPENDENTE BRASILEIRO: IMPACTOS SOBRE A SAÚDE PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA
Pôster Eletrônico
1 IMS/UERJ
2 FSS/UERJ
Apresentação/Introdução
O estudo buscou analisar a configuração do Estado no desenvolvimento das políticas sociais e na organização da classe trabalhadora, investigando a saúde pública e sua defesa no movimento sindical. Observaram-se as ações praticadas pelo Estado na ditadura empresarial-militar, onde se percebe uma mudança significativa no caráter combativo dos sindicatos e um fortalecimento do setor privado na saúde.
Objetivos
Buscou-se investigar a atuação do Estado brasileiro, considerando sua posição dependente frente ao cenário internacional, e o processo de desmonte das políticas sociais e de desorganização dos trabalhadores a partir da ditadura empresarial-militar.
Metodologia
Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tema, considerando a trajetória da formação social e do sindicalismo brasileiros, focando no período da ditadura empresarial-militar enquanto um evento que marcou a história do país e mudou significativamente a atuação classista dos sindicatos e, por consequência, sua capacidade de luta por direitos. A partir da Teoria Marxista da Dependência (TMD), considerando a configuração do Estado dependente brasileiro e a literatura consultada, foi possível alcançar alguns resultados e possíveis razões para os impasses na consolidação das políticas sociais, na organização da classe trabalhadora e no seu distanciamento do sistema público de saúde.
Resultados
O estudo tornou nítida a atuação do Estado dependente no estímulo à acumulação de capital privado na saúde e a correlação entre a dependência e os grandes desafios que o SUS enfrenta para sua efetivação, com os impactos da determinação estrutural da formação histórica brasileira e das políticas institucionais. O Estado atua pra atender aos interesses do capital, garantindo, através de mecanismos e leis, o favorecimento do setor privado. Os resultados apontaram também para influência do ‘sindicalismo livre’, com uma ação sindical voltada principalmente para ganhos econômicos, resultando em um distanciamento da ação política de ampliação dos direitos sociais, incluindo a luta em defesa do SUS.
Conclusões/Considerações
O caráter dependente do Estado brasileiro constitui terreno fértil para a precarização dos serviços públicos, em geral, e para o enfraquecimento do SUS, em particular. A ditadura empresarial-militar instituiu grandes retrocessos no movimento sindical e na saúde, desorganizando a classe trabalhadora e fortalecendo o setor privado, assegurando a acumulação de capital e impondo limites estruturais para o SUS público, gratuito e universal.
EQUIDADE NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO SUS: UMA CRÍTICA A PARTIR DA PERSPECTIVA MARXISTA SOBRE OS LIMITES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A discussão crítica sobre o processo das políticas públicas exige uma visão mais ampla da natureza do Estado capitalista1. O subfinanciamento crônico do SUS nunca possibilitou a existência de uma alocação equitativa dos recursos em saúde. O propósito desta discussão é relacionar os limites das políticas de alocação de recursos financeiros no SUS com o debate sobre os limites das políticas públicas.
Objetivos
Abordar o processo de alocação de recursos financeiros no SUS, buscando analisar seus problemas no tocante aos critérios equitativos, sob a perspectiva da Teoria da derivação do Estado a partir dos limites das políticas públicas.
Metodologia
Trata-se de um ensaio teórico entre a obra de Huwiller e Bonnet1 sobre suas contribuições para o entendimento dos limites das políticas públicas no Estado capitalista, a partir do debate da derivação do Estado (compreendendo-o como categoria “forma-Estado”) e a trajetória do processo de alocação de recursos financeiros no SUS, sobretudo no desenho de alocação implementado no governo Lula (2023-2026).
Resultados
Huwiler e Bonnet1 buscaram aprofundar a análise do processo de políticas públicas à luz do debate da derivação do Estado, que se revela através de um mecanismo de “ensaio e erro”, ou seja, através de tentativas de adequação aos requerimentos da reprodução capitalista1. Mesmo que se pretenda discutir alocação do ponto de vista equitativo, ainda é muito presente o discurso da eficiência, ou seja, da maximização dos lucros e da utilidade dos serviços2. Agências internacionais têm influenciado historicamente os modelos de atenção no SUS, recomendando ajustes para implementação de programas focalizados e condicionando estes ajustes a empréstimos financeiros3.
Conclusões/Considerações
A análise da alocação de recursos financeiros do Governo Lula apresenta problemas no tocante à questão da equidade, o que o qualifica como uma alocação de recursos condizente aos limites das políticas públicas na sociabilidade capitalista.
VIVÊNCIAS DO VER-SUS SUDESTE: FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO POPULAR E COMPROMISSO COM O SUS
Pôster Eletrônico
1 UFES
Período de Realização
De 10 de abril a 17 de abril de 2025
Objeto da experiência
Relato do projeto piloto de formação de Facilitadores do VER-SUS Sudeste, que impulsiona a educação popular e reforça o compromisso social com o SUS.
Objetivos
Sensibilizar profissionais da saúde em formação para as desigualdades e potências do SUS, por meio da escuta ativa, diálogo com comunidades e participação social, contribuindo para uma aprendizagem crítica e ampliando o conceito de saúde na ótica da educação popular fundamentada em Paulo Freire.
Descrição da experiência
O projeto piloto de formação de facilitadores do Programa VER-SUS Sudeste ocorreu na região metropolitana da cidade de Vitória/ES, reunindo 53 estudantes de saúde, entre residentes e graduandos, dos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Durante 7 dias, foram realizadas rodas de conversa, visitas a equipamentos de saúde e ações de educação popular em saúde, todas fundamentadas na pedagogia freireana, que valoriza o diálogo e a construção coletiva do saber.
Resultados
A vivência aproximou os estudantes dos territórios, permitindo reconhecer as potências e fragilidades do SUS no cotidiano dos usuários. Identificaram-se problemas como desigualdade no acesso aos serviços, precarização das condições de trabalho e racismo estrutural. A experiência fortaleceu o compromisso sociopolítico dos participantes, estimulou o diálogo interprofissional e ampliou o olhar crítico sobre as comunidades e a educação popular, reafirmando-a como ferramenta de transformação social.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a valorização de um SUS universal, equânime, gratuito e integral, que reconheça as diversas realidades e desafios dos usuários, fortalecendo o diálogo sobre as especificidades de cada território. Os participantes compreenderam que o cuidado em saúde ultrapassa a dimensão teórica e técnica, envolvendo aspectos políticos, culturais e sociais, e requer um olhar crítico para os determinantes sociais da saúde e para as desigualdades estruturais vividas diariamente.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto evidenciou a educação popular em saúde como caminho para promover autonomia e participação social. Recomenda-se ampliar espaços de vivência e diálogo entre instituições de ensino e comunidades, incentivando a formação interprofissional e o protagonismo local. Também é essencial consolidar políticas públicas que reconheçam e apoiem práticas populares de cuidado no SUS para potencializar a promoção da saúde e a garantia do direito à vida.
MAIS FAMÍLIAS, MAIS DIREITOS: A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS NA EXPANSÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SEUS DESAFIOS
Pôster Eletrônico
1 Secretaria do Município de Duque de Caxias
2 IFF/Fiocruz e Secretaria do Município de Duque de Caxias
Período de Realização
O acompanhamento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família ocorreu entre 2021 e 2024.
Objeto da experiência
Cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família em Duque de Caxias, destacando as estratégias e desafios da gestão.
Objetivos
Analisar a experiência do município de Duque de Caxias no acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família entre 2021 e 2024, identificando as estratégias adotadas para aumentar a cobertura do acompanhamento da saúde dos beneficiários e os principais desafios enfrentados.
Descrição da experiência
A experiência do Programa Bolsa Família no município de Duque de Caxias, entre os anos de 2021 e 2024, evidenciou avanços significativos no que se refere ao acompanhamento das condicionalidades da saúde. Foram realizadas ações de sensibilização e capacitação das equipes, divulgação das condicionalidades da saúde, impressão de bilhetes para serem entregues nas escolas municipais, impressão de mapas com relação de famílias com objetivo de realizar busca ativa e descentralização da digitação.
Resultados
Na primeira vigência de 2021, o quantitativo de beneficiários do Programa Bolsa Família foi de 16.136, com 18,76% acompanhados nas condicionalidades de saúde. Em 2024, dos 157.400 beneficiários, 90.948 foram acompanhados (57,78%), representando aumento de 208%. O avanço resultou da sensibilização dos profissionais, realização de treinamentos e descentralização da digitação, permitindo que as unidades de saúde da família e algumas unidades básicas de saúde registrassem os dados.
Aprendizado e análise crítica
Os treinamentos melhoraram o atendimento às famílias, fortalecendo a avaliação nutricional e permitindo descentralizar a digitação. A cobertura aumentou, mas ainda há desafios relacionados à infraestrutura, continuidade das equipes, disponibilidade de instrumentos adequados, áreas de difícil acesso e limitações na cobertura da Atenção Básica, que impactam o avanço das ações.
Conclusões e/ou Recomendações
O relato mostra avanços no acompanhamento dos beneficiários e na qualificação do trabalho. Recomenda-se seguir investindo na formação das equipes, ampliar a busca ativa, otimizar o uso de recursos tecnológicos e fortalecer a articulação intersetorial, visando ampliar a cobertura e assegurar os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade.
ANÁLISE CRÍTICA DO SANGUE COMO MERCADORIA A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO DE UMA LEITURA INTERDISCIPLINAR DE “O CAPITAL”
Pôster Eletrônico
1 UNIFESP
Período de Realização
março a julho de 2024
Objeto da experiência
A mercantilização do sangue
Objetivos
Apresentar aprendizado pela disciplina Leituras interdisciplinares de O Capital Livro I, apontando uma reflexão crítica da mercantilização do sangue humano pela tríade: mercadoria, trabalho e valor, perante os fundamentos do processo da crítica da economia política clássica elaborada por Karl Marx
Metodologia
Expõe o aprendizado construído na disciplina de Leituras Interdisciplinares de ‘O Capital’ – Livro 1, ofertado pela UNIFESP, no Instituto Saúde e Sociedade, pelo Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, pela visão de um doutorando. A disciplina foi composta por 16 encontros, cumpridas de forma remota, com aulas guiadas pelos discentes via seminários, sempre enfatizando os aspectos metodológicos e epistemológicos do pensamento marxiano.
Resultados
conhecimento da importância de uma disciplina de retorno ao método dialético, que auxilia a identificar as principais categorias estruturantes do processo de produção na sociabilidade capitalista elaborado por Karl Marx. E como cada capítulo foi apresentado em seminários, onde o discente assumiu também, um papel mais dialógico, possibilitou-se um treino à docência, ao estimular debate com diferentes vertentes do ensino. Sendo base à construção do objeto de pesquisa nos projeto dos discentes.
Análise Crítica
A apropriação de mercadorias ocorre devido ao interesse dos capitalistas pelo lucro, que se realiza com a venda das mesmas. A PEC 10/2022 prevê a autorização da coleta remunerada do plasma humano e sua comercialização, reintroduzindo, o sangue no circuito de valorização do capital. A mudança iniciada na Constituição de 1988, que culminou na configuração mercantil do sangue, partiu da compreensão de que sangue não seria mercadoria, e sim um bem inalienável.
Conclusões e/ou Recomendações
Cada mercadoria só é valor de troca quando é valor de uso para outrem, este processo social de equivalência é o que permite uma modificação na compreensão sobre o que alguma coisa pode ou não ser uma mercadoria neste modo da produção a depender da necessidade de expansão do processo de acumulação em cada momento histórico. o sangue é tido como mercadoria em momentos onde necessidade de acumular, encontra fronteiras para sua própria autoexpansão.
PRECARIZAÇÃO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HC-UFU E OS REFLEXOS DO SUBFINANCIAMENTO PARA A SAÚDE COLETIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFU
Período de Realização
13 de janeiro de 2025.
Objeto da experiência
Visita técnica à Agência Transfusional (AGETRA) do Hospital de Clínicas da UFU (HC-UFU) e análise da sua infraestrutura.
Objetivos
Relatar a experiência vivenciada por um grupo de estudantes do curso de medicina durante a visita técnica na Agência Transfusional AGETRA/HC-UFU, destacando a infraestrutura e seus impactos no processo de trabalho e no atendimento da agência.
Descrição da experiência
A visita à AGETRA do HC-UFU foi guiada por uma médica hematologista e revelou um cenário de severa precarização infraestrutural da agência. Observou-se problemas estruturais como o espaço físico exíguo e inadequado, o qual impossibilita a disposição adequada de equipamentos básicos, como geladeiras, e a ausência de uma agência transfusional no novo prédio do hospital, voltado a traumas. Essa carência obriga um translado de sangue que dura 14 minutos, crítico em emergências.
Resultados
A distância da AGETRA à unidade de trauma impede a tipagem sanguínea ágil. Isso leva ao uso protocolar de sangue O negativo, doador universal, para salvar vidas, esgotando seus estoques e gerando carência para outros pacientes. O espaço físico exíguo resulta diretamente no comprometimento da organização dos equipamentos. Observou-se ainda que os profissionais enfrentam condições de trabalho inadequadas, como a ausência de uma área de descanso apropriada, o que contraria normas da ANVISA.
Aprendizado e análise crítica
Os alunos articularam a vivência às relações entre Estado, mercado e políticas de saúde. As falhas vistas exemplificam a sujeição de políticas públicas a interesses corporativos. A justificativa administrativa de que a AGETRA não é prioridade para mudança por existirem setores a serem realocados que pagam aluguel ilustra como a lógica de mercado ofusca o aspecto vital desse serviço. Nesse sentido, o subfinanciamento limita a garantia da saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
A vivência proporcionou aos participantes o desenvolvimento da capacidade de análise crítica. A experiência evidencia a urgência de investimentos na infraestrutura da AGETRA e em serviços essenciais do SUS. Recomenda-se a priorização de recursos para setores vitais, a revisão das políticas de financiamento da saúde e o fortalecimento da participação popular para que as necessidades do povo prevaleçam sobre interesses financeiros.
O CRAS COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO E DISPUTA: DESAFIOS, CONTRADIÇÕES E APRENDIZADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL DE MULHERES, IDOSOS E FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE
Pôster Eletrônico
1 Unicesumar
2 Unicesumar - ICETI
Período de Realização
Vigência do Estágio em Psicologia no CRAS entre abril e junho de 2025.
Objeto da experiência
A vivência enquanto estagiário de psicologia no SUAS, com ênfase no papel do psicólogo no desenvolvimento de vínculos e da proteção social.
Objetivos
Compreender o funcionamento da Proteção Social Básica, os impactos do CRAS na vida das famílias, e como a formação profissional pode contribuir para o fortalecimento da cidadania e da participação social, analisando criticamente as contradições da política pública.
Metodologia
O estágio ocorreu em território vulnerável, com a população adscrita, em especial mulheres chefes de família e idosos. As ações incluíram escutas, orientações, visitas e participação em grupos. Foram observadas situações de violência, omissão de informações e dificuldades no acesso a direitos. Mesmo com limitações, o CRAS se mostrou essencial no acolhimento e fortalecimento de vínculos.
Resultados
A experiência revelou o papel do CRAS na construção da autonomia, acesso a direitos e redes de apoio. Identificou-se uma sobrecarga nas mulheres e sofrimento psíquico nos idosos. Ainda, o processo de autodeclaração permitiu omissões, gerando tensões entre usuários e equipe. A atuação técnica do profissional de psicologia exige escuta, análise crítica e sensibilidade social, para que o processo de trabalho seja pautado em políticas públicas de proteção social e não no assistencialismo.
Análise Crítica
A vivência possibilitou refletir sobre o controle social, as contradições do Estado e a disputa entre interesses públicos e privados. Foi possível compreender o SUAS como campo de luta por direitos e a importância de uma atuação ética e crítica diante das desigualdades estruturais no território. Isso reforça a compreensão sobre as teorias de Paulo Freire e Milton Santos no processo de formação do psicólogo social com atuação na Proteção Social Básica e na saúde coletiva como um todo.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência permitiu um aprofundamento crítico sobre o processo de assistência social e promoção da autonomia das famílias no cuidado social. É essencial reconhecer o CRAS como espaço de cuidado e mobilização, que demanda profissionais críticos, atentos às desigualdades e comprometidos com a justiça social. Recomenda-se o fortalecimento intersetorial das políticas públicas, ampliação do financiamento ao SUAS e valorização da escuta qualificada.
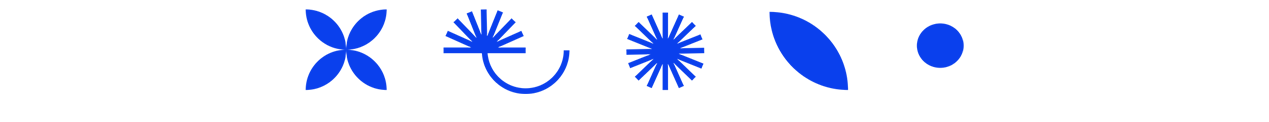
Realização:

