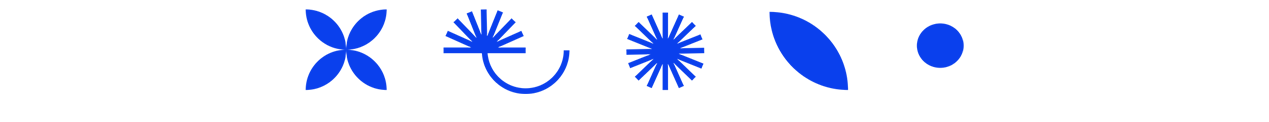
Programa - Pôster Eletrônico - PE16 - Gêneros, Sexualidades e Saúde
ESTRATÉGIAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL DO HOMEM TRANS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA CIENTÍFICA
Pôster Eletrônico
1 SMS
2 UFRJ
Apresentação/Introdução
Homens trans gestantes enfrentam barreiras significativas no acesso ao cuidado pré-natal, devido à cisnormatividade institucional e ausência de políticas específicas. Na Atenção Primária à Saúde (APS), as práticas ainda negligenciam as particularidades dessa população, comprometendo o cuidado integral, equânime e humanizado.
Objetivos
Analisar estratégias descritas na literatura científica para o acompanhamento do pré-natal de homens trans na APS e identificar barreiras, potencialidades e propostas que qualifiquem o cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).
Metodologia
Foi realizada integrativa da literatura, com abordagem qualitativa. As buscas foram realizadas nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando descritores como “homem trans”, “pré-natal” e “atenção primária”. Foram selecionados 18 estudos publicados no Brasil entre 2013 e 2024. Os trabalhos foram organizados em um quadro sinóptico e as principais estratégias de cuidado no contexto da APS foram identificadas após leitura completa e análise de conteúdo.
Resultados
As estratégias identificadas foram: (1) qualificação de profissionais para atendimento livre de discriminação; (2) adaptação de protocolos, com acolhimento respeitoso, nome social e linguagem inclusiva; (3) construção de vínculo e escuta qualificada. Os estudos demonstram que práticas sensíveis ao gênero contribuem para a adesão ao pré-natal, melhoria do cuidado e redução de danos, embora sua implementação ainda seja pontual e dependente de iniciativas locais e individuais.
Conclusões/Considerações
O acompanhamento pré-natal de homens trans exige estratégias institucionais que garantam o respeito à identidade de gênero e aos direitos reprodutivos. A formação continuada das equipes e a revisão dos fluxos assistenciais são fundamentais para promover a equidade, a integralidade e a humanização no cuidado prestado pela APS.
GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE HOMENS GAYS NO BRASIL: REDES DE PARENTESCO E AMIZADE NAS NARRATIVAS DAS GESTANTES
Pôster Eletrônico
1 UFRRJ
Apresentação/Introdução
A gestação de substituição é uma biotecnologia reprodutiva em que uma mulher cisgênero (ou uma pessoa com útero) gesta para outrem a partir de embrião produzido com material genético heterólogo. Como a gestação de substituição não pode ser comercial no Brasil torna-se necessário que a gestante seja parente de um dos pais ou tenha vínculos afetivos/de amizade muito estreitos com ele/s.
Objetivos
Analisar a produção do parentesco e laços de afetos entre mulheres cisgênero e os casais gays para quem elas gestaram seus/as filhos/as; Refletir sobre a experiência da gestação para outrem.
Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa de perspectiva cartográfica, constituída por estudo teórico e realização de entrevistas. Vimos acompanhando a produção do parentesco e redes de amizade a partir de entrevistas com cinco mulheres cisgênero brasileiras que gestaram para amigos próximos ou irmãos e cunhados. Estas entrevistas integram o projeto de pesquisa “Inseminação caseira e gestação de substituição: desafios para os estudos de família e parentesco”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados
Os resultados apontam para quatro categorias/tópicos principais presentes nas narrativas das gestantes de substituição: 1) a experiência da gestação de substituição no corpo; 2) a constituição e gestão dos afetos entre as gestantes e os pais gays; 3) as redes de parentesco e amizade produzidas na experiência da gestação de substituição; 4) o lugar da homossexualidade na constituição do parentesco e redes de afetos.
Conclusões/Considerações
. As mulheres que gestaram para os casais gays demonstraram grande protagonismo no que tange seus próprios corpos e os projetos parentais de seus irmãos/amigos e suas famílias. Em suas narrativas, elas afirmaram que a cessão temporária de útero partiu delas próprias, criando a possibilidade do projeto parental de seus irmãos/amigos, bem como vivenciaram suas gestações a partir de seus desejos e limites.
AMAMENTAÇÃO COMPARTILHADA E NOVOS ARRANJOS DE CUIDADO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE CASAIS DE MULHERES CISGÊNERAS
Pôster Eletrônico
1 FSP/USP
Apresentação/Introdução
As múltiplas possibilidades de experimentação do cuidado são marcas potentes da capacidade de resistência nos territórios habitados por aqueles que acabam por ter de pensar suas existências para além da cisheteronormatividade colonial. Uma das materializações desse processo de experimentação é a dupla amamentação, prática em que mais de um responsável pela criança se encarrega da amamentação.
Objetivos
Discutir a relação entre as motivações para a dupla amamentação e a produção de cuidado coletivo a partir da experiência de casais de mulheres cisgêneras que optaram pela amamentação compartilhada.
Metodologia
Estudo de desenho qualitativo desenvolvido a partir de entrevistas de roteiro semi-estruturado. As entrevistas foram conduzidas entre março e dezembro de 2024, com casais de mulheres cisgêneras que realizaram a dupla amamentação. Participaram da pesquisa 3 casais e 1 mãe não gestante cuja ex-parceira não aceitou participar. Para a interpretação e análise dos dados, mobilizamos as teorias decoloniais e de gênero, compreendendo a marca da colonialidade na construção de sentidos e modos de organizar a vida no Sul Global.
Resultados
Diversas foram as motivações para a escolha pela dupla amamentação, como poder experimentar o aleitamento em cenas de impossibilidade de gestar e a possibilidade de criação de um outro tipo de vínculo com a criança - descrito pelas participantes como um vínculo mais próximo e/ou mais forte - por vezes, visto como ferramenta na produção de uma organização diferenciada das tarefas de cuidado. Outra motivação relatada foi a ampliação de possibilidades de arranjos na rotina pensando a dinamização da maternidade com o trabalho remunerado, em alguns casos, como também uma forma de evitação da introdução de fórmulas lácteas.
Conclusões/Considerações
As motivações relatadas dão importantes pistas sobre as possibilidades plurais de arranjos de cuidado que surgem das dissidências sexuais e de gênero, por vezes subvertendo a lógica capitalista de organizar a vida, potencializando a produção de vida nas brechas da colonialidade. Pensar os elementos que surgem das práticas do território é então fundamental para uma produção científica implicada na construção de outro modo de habitar o mundo.
MULHERES TRANS EM SITUAÇÃO DE RUA: ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE E PROTEÇÃO NO CONTEXTO DA RUA
Pôster Eletrônico
1 Instituto René Rachou/ Fiocruz Minas
Apresentação/Introdução
A vida de mulheres trans em situação de rua, devido ao seu contexto social e a insuficiência de políticas públicas, faz com que elas estejam expostas à violência e a dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Assim, as estratégias de cuidado em saúde e proteção contra a violência, por meio de ações que não estão prescritas em políticas públicas, são uma alternativa para o autocuidado.
Objetivos
Esse trabalho teve como objetivo discutir as estratégias de cuidado e proteção no contexto da rua, construídas por mulheres trans em situação de rua.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com utilização de entrevistas semiestruturadas, realizadas em 2023. Foram entrevistadas nove mulheres trans em situação de rua, com idade entre 25 e 37 anos, atendidas pelo Consultório na Rua de Belo Horizonte, que tiveram interesse e que assinaram previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas foram realizadas nas ruas da Regional Noroeste do município, transcritas pela pesquisadora e, posteriormente, foi realizada análise de conteúdo.
Resultados
As mulheres entrevistadas buscam um serviço da Secretaria de Segurança e Proteção para realização de autocuidado, para proteção contra violência durante o dia e para acompanhamento ao Centro de Saúde como forma de agilizar e convencer os demais profissionais da necessidade do atendimento, além do Consultório na Rua para atendimento de saúde. Foi citado por elas, o agrupamento no mesmo ponto de fixação, para sentirem-se mais seguras da violência na rua. A experiência dessas mulheres evidencia que elas possuem acesso aos serviços do Estado, mas que ainda precisam construir as próprias estratégias de cuidado para se protegerem da violência nas ruas e para serem atendidas nos serviços de saúde.
Conclusões/Considerações
A solidariedade entre mulheres trans em situação de rua, através da construção de vínculos e integração social, contribui para construção de estratégias de proteção contra violência durante o dia, através da inserção em serviços públicos, e agrupando-se à noite, para se sentirem seguras na rua. Assim, produzem cuidado em saúde para além dos percursos instituídos pelas políticas públicas, que por vezes são ineficientes na atenção a esse público.
PATERNALISMO BENEVOLENTE: GÊNERO E DESIGUALDADES ESTRUTURAIS NA HISTÓRIA E PRÁTICA DO FILANTROCAPITALISMO
Pôster Eletrônico
1 USP
2 UNB
Apresentação/Introdução
A filantropia historicamente tem marginalizado o protagonismo das mulheres, relegando-as a papéis secundários. Este texto revisita o papel feminino na assistência social e questiona a atuação das grandes fundações filantrópicas contemporâneas, revelando práticas de controle e desigualdade disfarçadas sob discursos de empoderamento e ajuda humanitária.
Objetivos
Analisar criticamente, a partir de uma revisão narrativa, o papel da mulher na filantropia e como o filantrocapitalismo perpetua desigualdades estruturais por meio de discursos paternalistas e assistencialistas.
Metodologia
Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa baseada em estudos históricos, sociológicos e feministas. O texto mobiliza autoras e autores como Mott, Davis, Haydon, Eikenberry, Tickner e Bhering para examinar documentos, práticas e discursos da filantropia, desde o século XIX até a contemporaneidade. A abordagem interseccional permite identificar como o gênero, classe, raça e colonialismo se entrelaçam nas práticas filantrópicas, especialmente nas intervenções voltadas às mulheres no Sul Global.
Resultados
A análise revela que mulheres foram fundamentais na construção e manutenção da filantropia, mas historicamente invisibilizadas. As práticas contemporâneas do filantrocapitalismo mantêm a lógica patriarcal ao representar mulheres como “cuidadoras naturais” ou soluções mágicas para a pobreza. Casos como as intervenções das Fundações Ford e Rockefeller revelam traços de controle populacional. Mesmo quando voltadas ao “empoderamento feminino”, muitas dessas ações reforçam a meritocracia, ignoram estruturas opressoras e perpetuam desigualdades.
Conclusões/Considerações
A filantropia internacional, mesmo com avanços éticos, ainda opera sob lógicas patriarcais e coloniais. Intervenções sem escuta ou participação efetiva podem reproduzir estigmas, violências e práticas eugenistas. É urgente repensar essas ações com base em justiça social e interseccionalidade, reconhecendo o protagonismo feminino e a complexidade das desigualdades estruturais.
ATRAVESSAMENTOS NA GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO DE PESSOAS TRANSMASCULINAS: UMA ANÁLISE SOCIOANALÍTICA
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
Pessoas designadas do sexo feminino ao nascer, mas que não se identificam com esse gênero podem ser compreendidas como transmasculinas. Caso não tenham realizado cirurgias de reafirmação de gênero, podem ser fisiologicamente capazes de gestar. Para aqueles que experienciam o período gravídico-puerperal, diversas situações podem surgir, indo além das geralmente associadas a uma gestação cisgênero.
Objetivos
Sendo assim, este tem como intuito discutir, a partir do referencial teórico da Análise Institucional Socioanalítica, os atravessamentos vivenciados por pessoas transmasculinas durante o ciclo gravídico-puerperal.
Metodologia
O trabalho de campo ocorreu de agosto a outubro de 2024. Foram contatados 19 sujeitos, identificados por reportagens no Google e publicações em redes sociais. Quatro aceitaram participar, e a técnica bola de neve acrescentou mais um, totalizando 5. As entrevistas ocorreram via Google Meet, com duração entre 59 minutos e 107 minutos. Utilizou-se uma representação em forma de ciclo com os termos: reafirmação de gênero, gestação, parto e puerpério, nos quais os participantes registraram duas palavras que expressavam suas vivências. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Espírito Santo, sob o registro CAAE 7815214.4.0000.5060.
Resultados
Participaram cinco sujeitos: três homens trans, uma pessoa não binária transmasculine e uma pessoa transmasculina, com idades entre 22 e 34 anos, todos autodeclarados brancos. O primeiro atravessamento abordado foi a transfobia, vivenciada no desrespeito ao nome social e na desigualdade de gênero durante consultas e exames, praticadas por profissionais de saúde, familiares e desconhecidos. Também se discutiu a disforia de gênero, intensificada pela interrupção da testosterona durante a gestação e a amamentação, o que impactou a autopercepção e a relação com o corpo. Além disso, as entrevistas destacaram a falta de recursos financeiros e de rede de apoio.
Conclusões/Considerações
A experiência gestacional de indivíduos transmasculinos desafia a lógica normativa que associa exclusivamente aos corpos cis femininos a capacidade de gestar, parir e formar famílias. A partir das reflexões discutidas, sugerimos que novas pesquisas acadêmicas se voltem às especificidades da saúde reprodutiva nas transmasculinidades, ampliando o debate com novos olhares e realidades distintas das postas neste estudo.
"ATUEMOS COMO JUÍZES COM ALTO GRAU DE SENSIBILIDADE": UMA ANÁLISE DO DISCURSO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA SOBRE O CORPO DA MULHER
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Apresentação/Introdução
Este trabalho integra uma pesquisa de doutorado, que investiga o discurso do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre o corpo da mulher, com foco nos processos reprodutivos.
Objetivos
Realizar uma análise do discurso do CFM sobre o corpo da mulher e seu ciclo reprodutivo, a partir dos documentos oficiais publicados no site da autarquia durante o período de 2003 a 2023.
Metodologia
Estudo qualitativo, baseado na análise de documentos produzidos pelo CFM e publicados em seu site entre 2003 e 2023. Para a coleta de dados, utilizamos o buscador de normas do CFM, a partir de 13 palavras-chave relacionadas a processos reprodutivos femininos: reprodução, gestação, gravidez, pré-natal, parto, parturição, aborto, abortamento, pós-parto, puerpério, menstruação, menarca e menopausa. O estudo se ancora na análise de discurso franco-brasileira, com base nas teorias de Foucault, especialmente nas noções de biopoder, biopolítica, medicalização da sociedade, e histerização do corpo feminino. Também dialoga com os estudos de gênero, a filosofia e a crítica feminista à ciência.
Resultados
A coleta inicial resultou em 496 documentos. Após o recorte temporal, exclusão de duplicatas e leitura das ementas, 89 foram selecionados para análise. Como exemplo, entre os materiais relacionados à “reprodução”, há 2 resoluções, 12 pareceres e 12 despachos. Em um parecer, o CFM orienta médicos a “atuarem como juízes com alto grau de sensibilidade”, extrapolando sua função técnica. Já em resolução sobre reprodução assistida, o Conselho determina que médicos escolham doadoras de óvulos com base em “semelhança fenotípica”, atribuindo a eles, e não à receptora, essa decisão.
Conclusões/Considerações
Os primeiros achados apontam para a centralidade da medicina reprodutiva na normatização do corpo feminino, revelando um duplo movimento: de um lado, a biologização e a medicalização da experiência reprodutiva; de outro, a tentativa de fazer com que procedimentos tecnocientíficos — como a reprodução assistida — simulem os parâmetros da reprodução “natural”, preservando determinados marcadores sociais (como semelhança fenotípica).
ANÁLISE DOS CUIDADOS RELACIONADOS À SAÚDE SEXUAL E ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS ENTRE JOVENS ESTUDANTES DE UM MUNICÍPIO GOIANO.
Pôster Eletrônico
1 UNB, Secretaria Municipal de Saúde de Catalão / VISAT
2 UNB, Faculdade de Ciências da Saúde / Departamento de Saúde Coletiva
3 UFCAT, Insttituto de Biotecnologia / Departamento de Enfermagem
4 UNB, Departamento de Estatística
Apresentação/Introdução
As Infecções Sexualmente Transmissíveis representam um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil. São afecções que acometem ambos os sexos, especialmente jovens com idade inferior a 25 anos, de diferentes classes sociais e etnias. Observa- se amplamente na literatura especializada, que são causadas por mais de 30 agentes etiológicos, dentre eles vírus, bactérias, fungos e protozoários.
Objetivos
Objetivou-se, neste estudo, analisar e conhecer a realidade, bem como a prática de cuidados adotada pela população de jovens estudantes do município de Catalão - GO, relacionadas à sua saúde sexual, às IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais.
Metodologia
Foram realizadas sete oficinas de promoção da saúde para discussão dos dilemas do cotidiano; entrevistados 107 estudantes de instituições públicas de ensino, com idade entre 16 e 25 anos, preenchidos questionários sobre dados sociodemográficos: faixa etária, gênero, escolaridade, situação econômico-financeira, renda, estado civil, com quem e onde vivem, e sua ocupação, constituindo assim um perfil básico de cada participante do estudo, conhecimento a respeito das IST, de que forma é acessada a informação, por quais meios é recebida, como é veiculada nos meios e espaços em que os estudantes estão inseridos. Em seguida, houve a realização de análises descritivas e testes estatísticos.
Resultados
Quando o perfil sociodemográfico dos jovens foi relacionado com a ocorrência de IST nos últimos 12 meses, identificou-se que as variáveis não ser heterossexual (p=0,005), não morar com os pais (p=0,007) e ser estudante ou jovem aprendiz (p=0,002), foram fatores protetores. Ao relacionar o perfil dos jovens com conhecimento em IST, as variáveis que mostraram interferir foram idade (p=0,003), escolaridade (p=0,028), residir com os pais (p=0,001) e não ter atividade especificada (p=0,002). Jovens entre 17 ou 18 anos, com ensino médio incompleto, que ainda residem com os pais e não estudam nem trabalham, são os que não apresentam conhecimento em IST.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam a necessidade da implantação de políticas públicas voltadas para estudantes na faixa etária da pesquisa. Faz-se necessária a articulação entre os três níveis de governo: federal, estadual e municipal, para que as políticas públicas sejam implementadas. Espera-se contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos jovens estudantes catalanos e das suas parcerias.
ESTUDOS SOBRE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ NO BRASIL: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
A Política Nacional de Saúde Integral LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836/2011, é um marco no reconhecimento das demandas e vulnerabilidades da população LGBTQIAPN+ no acesso à saúde. Ela orienta o Plano Operativo de Saúde Integral LGBT, com diretrizes para a atuação dos entes federados na garantia de um cuidado específico e ampliado.
Objetivos
Caracterizar os estudos sobre assistência à saúde da população LGBTQIAPN+ no Brasil.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo conduzida conforme as diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) e relatada segundo o PRISMA-ScR. Foram incluídos estudos originais que abordassem a assistência à saúde da população LGBTQIAPN+ no Brasil, sem recorte temporal. As buscas foram realizadas em seis bases de dados. Após triagem por título e resumo, os artigos elegíveis foram lidos na íntegra por dois revisores. A extração dos dados foi realizada por meio de instrumento estruturado, com variáveis como tipo de estudo, região, público-alvo, serviços ofertados e experiência do paciente. A análise seguiu abordagem descritiva, visando mapear as principais características dos estudos incluídos.
Resultados
Os 42 estudos analisados foram realizados em todas as regiões do Brasil, predominando o Sudeste. A maioria utilizou métodos qualitativos, e incluiu além da população LGBTQIAPN+, profissionais de saúde, gestores, familiares e estudantes. Os temas abordaram: acesso aos serviços de saúde, experiências profissionais, políticas públicas, saúde trans e terapias hormonais, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, formação profissional e impactos da COVID-19. A produção científica cresceu a partir de 2017, com pico em 2021. A análise descritiva revela diversidade temática e metodológica, evidenciando múltiplas barreiras enfrentadas por essa população no acesso e na qualidade da atenção à saúde.
Conclusões/Considerações
Os estudos analisados apontam um panorama diversificado sobre a assistência à saúde da população LGBTQIAPN+ no Brasil, com destaque para temas como acesso aos serviços, políticas públicas, saúde trans, saúde mental e experiências profissionais. A concentração geográfica das publicações e a limitada abordagem de alguns grupos e temas indicam a necessidade de descentralizar as investigações futuras.
O ESTIGMA COMPRIMIDO: PREP, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E BARREIRAS À PREVENÇÃO DO HIV NA PLATAFORMA TIKTOK®
Pôster Eletrônico
1 Unisantos
Apresentação/Introdução
Embora consolidada como política pública no Brasil, a PrEP ainda é marcada por
estigmas e moralizações que atravessam sua aceitação social. No TikTok®, uma das
plataformas digitais mais acessadas por públicos prioritários da prevenção,
emergem discursos que revelam tensões entre ciência, desejo e julgamento moral
sobre o cuidado em saúde sexual.
Objetivos
Analisar as representações sociais da PrEP em comentários no TikTok®,
identificando sentidos associados à estigmatização, banalização, dúvida e
resistência à sua adoção.
Metodologia
Trata-se de estudo qualitativo, fundamentado na Teoria das Representações
Sociais (Moscovici) e na Análise de Conteúdo (Bardin). Foram analisados 74
comentários em postagens públicas sobre PrEP no TikTok®, com alto engajamento,
publicados entre 2023 e 2025. As mensagens foram categorizadas em três núcleos
temáticos: estigma e moralização; barreiras de acesso e desinformação; e dúvidas
sobre adesão e efeitos. O corpus foi interpretado à luz das disputas simbólicas em
torno das sexualidades, do HIV e das estratégias de prevenção combinada. A
pesquisa respeitou os princípios éticos para uso de dados públicos com
anonimização.
Resultados
As representações da PrEP oscilaram entre o reconhecimento de sua eficácia e a
desqualificação simbólica de seus usuários. Predominaram discursos que
associam seu uso à promiscuidade, à irresponsabilidade sexual e ao abandono da
camisinha. Comentários também revelaram desinformação sobre acesso pelo SUS
e confusão com a PEP. Relatos de efeitos adversos e insegurança na adesão
reforçaram a percepção de vulnerabilidade. O TikTok®, ao mesmo tempo que
reproduz estigmas, constitui um território estratégico para práticas
comunicacionais mais empáticas e disruptivas.
Conclusões/Considerações
A prevenção ao HIV exige mais que eficácia técnica: requer reconhecimento
simbólico e legitimação social. O TikTok® revelou-se um campo fértil para
compreender os sentidos atribuídos à PrEP. É urgente que as políticas públicas
incorporem estratégias comunicacionais que enfrentem o estigma, valorizem o
cuidado e dialoguem com os modos de vida das populações em vulnerabilidade.
DIFERENÇAS DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL NA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Pôster Eletrônico
1 Unisinos
2 HCPA
Apresentação/Introdução
A percepção da imagem corporal pode ser influenciada por fatores como gênero e orientação sexual. No contexto universitário, marcado por intensas mudanças pessoais e sociais, compreender essas diferenças é essencial para promover saúde mental e prevenir agravos relacionados à insatisfação com o corpo.
Objetivos
Avaliar diferenças na percepção da imagem corporal em estudantes universitários de diferentes gêneros e orientações sexuais.
Metodologia
Estudo de caráter transversal e abordagem quantitativa. Participaram do estudo 856 estudantes universitários, a partir de amostragem por voluntariado. A coleta de dados ocorreu no formato online entre agosto e outubro de 2022. A percepção da imagem corporal foi avaliada pelo Body Shape Questionnaire (BSQ) e os dados sociodemográficos, incluindo informações de gênero e orientação sexual, foram obtidos por um questionário padronizado. A análise de associação entre gênero e orientação sexual e percepção da imagem corporal foi realizada a partir do teste qui-quadrado, considerando um nível de significância de 5%, e do cálculo de razão de prevalências.
Resultados
Dos 856 participantes, 40,1% eram mulheres heterossexuais, 28,2% mulheres homo/bissexuais, 22,8% homens heterossexuais e 9,0% homens homo/bissexuais. Houve diferença significativa na insatisfação com a imagem corporal entre os grupos (p<0,001). Mulheres homo/bissexuais apresentaram maior prevalência de insatisfação grave (24,9%), seguidas por mulheres heterossexuais (20,7%), homens homo/bissexuais (10,4%) e homens heterossexuais (4,1%). A insatisfação foi 98% maior entre homens homo/bissexuais em comparação a heterossexuais (IC95% 1,4–2,8), sem diferença significativa entre mulheres (RP: 1,13, IC95% 0,98 – 1,29).
Conclusões/Considerações
As diferenças observadas na imagem corporal entre os grupos indicam vulnerabilidades específicas que podem impactar a saúde dos estudantes. Os dados reforçam a necessidade de intervenções focadas na promoção da autoimagem positiva e no enfrentamento das pressões estéticas entre estudantes, com atenção especial à população LGBTQIA+.
SAÚDE LGBTQIAPN+ NO BRASIL: UMA REVISÃO DE ESCOPO SOBRE DESAFIOS, POLÍTICAS E CAMINHOS PARA A EQUIDADE NO CUIDADO
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
A população LGBTQIAPN+ enfrenta desafios singulares no acesso e na qualidade da assistência à saúde, marcados por desigualdades, estigmas e preconceitos. Tais fatores ampliam a vulnerabilidade a condições físicas e mentais adversas. No Brasil, torna-se essencial mapear lacunas e avanços na assistência para embasar políticas públicas inclusivas e promover a equidade (Reis; Carvalho, 2023).
Objetivos
Descrever o estado atual da assistência à saúde da população LGBTQIAPN+ no Brasil, promovendo o debate sobre soluções que garantam a integralidade e a equidade no cuidado à saúde dessa população.
Metodologia
Este estudo é uma revisão de escopo conduzida conforme as recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI) e reportada segundo o checklist PRISMA-ScR. Realizado entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, buscou responder à questão sobre a assistência à saúde da população LGBTQIAPN+ no Brasil. Foram realizadas buscas nas bases Embase, LILACS, Web of Science, SciELO e PubMed. A triagem dos artigos foi feita por dois revisores de forma independente, com resolução de discordâncias por um terceiro. Após aplicação dos critérios, 42 artigos foram incluídos para análise indutiva dos dados, organizados em tabelas e diagramas alinhados ao objetivo da pesquisa.
Resultados
A análise dos estudos revela avanços na assistência à saúde da população LGBTQIAPN+, como acesso ao processo transexualizador, que, embora desigual entre regiões, representa progresso. Há também serviços especializados, como o Consultório LGBT, além de iniciativas que promovem o empoderamento. Apesar disso, persistem desafios: assistência fragmentada, ausência de profissionais capacitados, preconceito e despreparo. Ainda há práticas pautadas na patogenização e dificuldade de acesso a especialistas. Para enfrentar essas questões, recomenda-se capacitação contínua, monitoramento das políticas públicas e ações educativas, visando promover cuidado integral, equitativo e livre de discriminação.
Conclusões/Considerações
Embora haja avanços no acesso e na criação de serviços especializados para a população LGBTQIAPN+, a assistência ainda sofre com preconceito, fragmentação e falta de preparo profissional. Desafios incluem resistência, despreparo e exclusão, que comprometem o atendimento. É essencial ampliar a capacitação, descentralizar o processo transexualizador e implementar políticas inclusivas que assegurem cuidado integral e equitativo a essa população.
DIREITOS REPRODUTIVOS DE HOMENS TRANSGÊNERO: DESAFIOS E CAMINHOS PARA A GARANTIA DA CIDADANIA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de São Carlos
Apresentação/Introdução
Homens transgênero enfrentam barreiras no acesso à saúde sexual e reprodutiva, como estigma e despreparo profissional. A Política Nacional de Saúde LGBT prevê cuidados integrais, mas ainda há exclusões. A gestação paterna desafia normas binárias e demanda inclusão e reconhecimento no SUS e ainda são escassos os estudos que abordam a gestação de homens transgênero de forma estruturada.
Objetivos
Analisar os desafios enfrentados por homens transgênero no acesso a direitos reprodutivos e buscar estratégias para integrar essa população nas políticas públicas de saúde reprodutiva, promovendo a equidade e a cidadania.
Metodologia
Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases SciELO, PubMed e LILACS, com os descritores: 'Pessoas Transgênero' (D063106), 'Direitos Sexuais e Reprodutivos' (D046269) e 'Saúde Reprodutiva' (D060728). A busca foi realizada em novembro de 2024, sem restrição de tempo. Foram incluídos estudos em português, inglês e espanhol, sem restrição de tempo. Também foram analisados documentos normativos do SUS e diretrizes internacionais para o cuidado de pessoas trans. A análise concentrou-se nas barreiras de acesso, boas práticas e recomendações para a inclusão de homens trans nos serviços de saúde reprodutiva.
Resultados
Foram identificados 29 estudos nas bases consultadas. Após remoção de duplicatas e triagem por título e resumo, 4 artigos foram incluídos, além da Política Nacional de Saúde LGBT. Os artigos revelaram barreiras como estigma, ausência de protocolos inclusivos e falta de capacitação profissional. As produções destacam o impacto negativo da transfobia institucionalizada e apontam a urgência de estratégias para promover o acesso humanizado. As recomendações incluem: capacitação das equipes, elaboração de protocolos específicos e adoção de linguagem inclusiva nos atendimentos.
Conclusões/Considerações
A gestação de homens transgênero constitui uma realidade concreta que demanda reconhecimento institucional. É imprescindível qualificar profissionais para ofertar cuidado reprodutivo inclusivo e embasado nos princípios do SUS. A escassez de estudos sobre o tema evidencia a invisibilização das demandas dessa população e reforça a necessidade de políticas públicas e produção científica estruturada.
ABORTAMENTO: APRENDIZADOS E EXPERIÊNCIAS DE RESIDENTES EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
Pôster Eletrônico
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Apresentação/Introdução
O abortamento é considerado a complicação mais comum relacionada à gestação e representa um importante problema de saúde pública. Afeta mulheres em seu período reprodutivo, produzindo impactos físicos, psicológicos e emocionais, além de ser um componente importante dos indicadores de morbimortalidade materna.
Objetivos
Analisar a percepção de residentes de enfermagem obstétrica acerca do abortamento durante a residência e discutir a percepção de residentes em enfermagem obstétrica sobre aspectos psíquicos, técnicos, éticos e legais no contexto do abortamento
Metodologia
Estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa. Os participantes foram enfermeiras do segundo ano da residência em enfermagem obstétrica captadas pela técnica de bola de neve, a partir da rede de contatos das pesquisadoras. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas remotas, utilizando roteiro semi-estruturado. As entrevistas ocorreram entre os meses de abril e julho de 2024. O material foi transcrito e analisado utilizando a análise de conteúdo. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ.
Resultados
Cinco categorias emergiram da análise: A Supervalorização do técnico em detrimento do emocional; Dificuldades estruturais e organizacionais dos campos práticos; Limitações dos profissionais que assistem o abortamento; O processo de abortamento legal vivenciado na residência; Estratégias das residentes para lidar com aspectos emocionais do abortamento. Foi possível notar como cada profissional lida com o abortamento de modo diferente e isso influencia na forma como residentes aprendem. Também foram identificadas lacunas na formação de residentes, sobretudo no aspecto relacional. O enfoque no preparo técnico perpetua os sentimentos de desconforto e despreparo frente ao abortamento.
Conclusões/Considerações
Lacunas na formação dos residentes de enfermagem obstétrica contribuem para a manutenção de um ciclo que limita a assistência humanizada ao abortamento. A pesquisa evidencia a necessidade de aprimorar a formação de profissionais e residentes, incluindo o acolhimento e a escuta ativa, e a reflexão sobre aspectos éticos, morais, religiosos e emocionais envolvidos no abortamento.
“PAI NÃO FUNCIONA!”: CONCEPÇÕES DE TRABALHADORAS DA ENFERMAGEM ACERCA DA PRESENÇA DO HOMEM COMO ACOMPANHANTE DA PUÉRPERA
Pôster Eletrônico
1 MINISTÉRIO DA SAÚDE
2 UNIVERSIDADE SANTO AMARO
3 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Apresentação/Introdução
As políticas públicas brasileiras legitimam a presença da figura paterna durante o ciclo gravídico-puerperal, destacando a importância e vantagens de sua participação, que propicia um tipo de vinculação fundamental ao exercício da parentalidade. Contudo, barreiras físicas e de atribuições de gênero se colocam contra a permanência de homens acompanhando puérperas durante a internação.
Objetivos
Discutir as concepções de trabalhadoras da enfermagem de uma maternidade pública do município de São Paulo acerca da presença do homem como acompanhante da puérpera, durante o período de internação seguinte ao parto.
Metodologia
Esta pesquisa de natureza qualitativa [CAE: 58051916.6.0000.5421], teve coleta de dados por etnografia, no setor de internação pós-parto de uma maternidade pública do município de São Paulo, e contou com dez entrevistas em profundidade com trabalhadoras da equipe de enfermagem (dos turnos diurno e noturno) que lá atuavam. Foram produzidos diários de campo e um banco de dados das transcrições das entrevistas, sendo o conjunto desse material analisado a partir de triangulação de métodos (etnografia/entrevistas/interdisciplinaridade do grupo de pesquisa), sob referencial hermenêutico-filosófico.
Resultados
A presença de outras mulheres como acompanhantes na internação das puérperas era valorizada pela enfermagem como agente facilitador e de apoio ao seu trabalho, pela sobrecarga de funções e grande número de pacientes para atender durante o turno. Expressaram resistência em receber homens para essa função, geralmente os pais dos recém-nascidos, sob a premissa da incapacidade masculina para o cuidado. Os homens acompanhantes eram tratados como presença indesejável, sem estrutura física para ampará-los, e segundo a enfermagem, atrapalhavam o trabalho e causavam constrangimento às outras pacientes, internadas nos quartos coletivos, no momento de exames físicos e da amamentação.
Conclusões/Considerações
Em contexto de cisão entre as dimensões técnica do trabalho e ético-sociais do cuidado em saúde, as trabalhadoras da enfermagem resistiam à atuação de homens como acompanhantes das puérperas. Desautorizando a aptidão do masculino para o exercício do cuidado, reproduziam estereótipos de gênero de forma conveniente à sobrecarga do serviço, com amplificação de tensões e influência negativa na construção do vínculo parental.
NARRATIVAS DE MULHERES COM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: DESAFIOS PARA A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Espírito Santo
Apresentação/Introdução
Durante a pandemia de Covid-19, a inclusão de gestantes no grupo de risco e os protocolos sanitários intensificaram a medicalização do parto, restringindo espaços de fala. Este estudo compartilha narrativas de mulheres com gestação de alto risco internadas em uma maternidade de Vitória (ES), evidenciando resistências e desafios à humanização do cuidado.
Objetivos
Compartilhar narrativas de mulheres com gestação de alto risco internadas durante a pandemia, analisando como suas experiências revelam desafios e resistências relacionados à humanização do cuidado, à maternidade e aos direitos reprodutivos.
Metodologia
Inspirado na metodologia das Escrevivências de Conceição Evaristo, participaram do estudo 22 mulheres internadas em uma maternidade de Vitória (ES). Suas histórias foram apresentadas em forma de contos literários, tomando a pandemia como analisador das práticas de cuidado no contexto da gestação de alto risco. As narrativas foram analisadas a partir de três eixos: concepções de cuidado e maternidade; papel social da identidade mulher-mãe; e projetos, protagonismos e resistências. Essa abordagem permitiu valorizar a perspectiva das mulheres e refletir sobre como seus relatos expressam processos de luta, resistência e enfrentamento, que ultrapassam o período de hospitalização.
Resultados
Os resultados apontaram que a pandemia agravou desafios preexistentes, como a discriminação de gênero e políticas que reforçam o sexismo e o racismo estruturais. As mulheres relataram vivências de restrição, medo e solidão, evidenciando como o risco se consolidou como categoria central na assistência, muitas vezes em detrimento de práticas mais humanizadas. As narrativas revelaram também formas de resistência e protagonismo, ressaltando a importância de práticas que valorizem a escuta ativa e o fortalecimento dos direitos reprodutivos. O estudo mostrou que, apesar do contexto adverso, as mulheres elaboraram estratégias para enfrentar as dificuldades e afirmar sua autonomia.
Conclusões/Considerações
A pandemia expôs e cronificou desafios históricos no cuidado obstétrico, como a medicalização e a fragilidade na garantia dos direitos reprodutivos. As narrativas mostraram que práticas humanizadas, baseadas na escuta e no protagonismo das mulheres, são essenciais para superar desigualdades persistentes e resistir à perpetuação de violências estruturais no cuidado às gestantes de alto risco.
GÊNERO E DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
O debate em torno do gênero vem crescendo ao longo dos anos e atravessado cada vez mais o campo da saúde coletiva. Diante disso, nos perguntamos: “O que está sendo produzido no campo da Saúde Coletiva na temática de gênero nos últimos cinco anos, com ênfase na determinação social da saúde?”.
Objetivos
Conhecer os estudos de gênero no campo da Saúde Coletiva e na perspectiva da determinação social da saúde.
Metodologia
Pesquisa de revisão bibliográfica no Portal de Periódicos da CAPES e no SciELO. A chave de pesquisa utilizada foi ("Determinação Social da Saúde" OR "Saúde Pública/ Coletiva tb?") AND ("minorias sexuais e de gênero" OR "políticas inclusivas de gênero" OR "diversidade de gênero" OR "normas de gênero" OR "construção social de gênero" OR "estudos de gênero" OR "performatividade de gênero" OR "binarismo de gênero" OR "expressão de gênero" OR "políticas anti-gênero"), em 31 de junho de 2025. Os resultados foram filtrados pelos últimos cinco anos e os trabalhos duplicados excluídos. Os termos utilizados foram retirados dos DecS, excetuando-se “políticas anti-gênero” por sua atualidade.
Resultados
Após a exclusão dos resultados duplicados e estudos que não abordavam a temática, foram encontrados 20 estudos (14 na base Scielo e 6 no Portal CAPES), que foram divididos em 4 grupos a partir da abrangência com a qual gênero é retratado nos trabalhos da leitura através de seus resumos. Encontramos 7 estudos onde gênero aparece enquanto diversidade; 6 onde o tema aparece enquanto campo; 4 onde o termo é usado como sinônimo de mulheres (cis) e; 3 onde gênero aparece como uma categoria binária de análise.
Conclusões/Considerações
Consideramos que a relação da prevalência dos estudos nos grupos da diversidade sexual e do campo de gênero com as transformações históricas que atravessam esse campo nas últimas décadas. Embora a produção acerca da temática no campo da Saúde Coletiva tenha crescido nos últimos anos, ela ainda se mostra incipiente quando cruzamos diferentes abordagens, como a da determinação social da saúde ou das políticas anti-gênero.
BARREIRAS E VULNERABILIDADES NO CUIDADO EM SAÚDE PARA PESSOAS TRANS: UM ESTUDO NO ESPAÇO TRANS DO HC-UFPE
Pôster Eletrônico
1 IAM/ FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A identidade de gênero é uma construção cultural que vai além do biológico e desafia o binarismo. Pessoas trans e travestis rompem esse modelo, enfrentando diariamente barreiras e vulnerabilidades para garantir e proteger sua saúde, muitas delas decorrentes do preconceito. No Brasil, que lidera os índices de violência contra essa população, a discriminação institucional dificulta o acesso a saúde.
Objetivos
Analisar como as necessidades, a discriminação e as condições de saúde afetam o acesso ao cuidado em saúde.
Metodologia
Estudo de caso realizado no Espaço Trans do HC-UFPE. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 participantes (usuários/as e profissionais) seguindo critérios pré-estabelecidos e técnica de saturação. As entrevistas usaram roteiro que versava sobre aspectos socioeconômicos; necessidades e condições de saúde; tempo de acompanhamento; tempo de atuação no serviço e percepção do acesso ao processo transexualizador. A análise seguiu a técnica de condensação de significados. Após pré-análise, exploração e tratamento dos resultados, foram criadas unidades naturais de significado e identificado temas centrais relacionados ao objetivo. Estudo aprovado pelo CEP HC/UFPE (parecer nº 6.628.271).
Resultados
Os(as) entrevistados(as) ressaltam que o sentimento de desconforto com o próprio corpo requer apoio adequado e que o preconceito e a moralização causam marginalização, afetando o processo saúde-doença-cuidado. Apontam que o acesso ao pleno cuidado também é dificultado pelas regulamentações do processo transexualizador, que adotam visão cisnormativa e limitam direitos. Apontam que apesar das políticas para esta população, é preciso avançar na valorização de suas especificidades e nas ações de enfrentamento ao preconceito, promovendo inclusão e respeito.
Conclusões/Considerações
As condições e necessidades de saúde das pessoas trans refletem o modo como a sociedade reconhece ou rejeita suas identidades e o acesso a direitos. A disforia de gênero exige apoio especializado e qualificado, que considere seus contextos e desejos. É preciso superar o arcabouço político permeado pela cisnormatividade, avançando com a promoção da inclusão, do respeito à diversidade e da equidade na saúde, enfrentando a discriminação estrutural.
POLÍTICAS PÚBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS: CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO ENTRE USUÁRIOS LGBTQIAPN+
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
A população LGBTQIAPN+ enfrenta historicamente diversas barreiras no acesso a direitos, políticas públicas e espaços de visibilidade social. As relações entre essa população, movimentos sociais e o Estado são marcadas por estigmas, exclusão e desigualdade, mas também por resistência, mobilização política e construção coletiva de identidade, reconhecimento e cidadania plena.
Objetivos
Evidenciar o conhecimento entre usuários LGBTQIAPN+ sobre políticas públicas específicas e outras normas legais e participação em movimentos sociais.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado no município de Jequié-BA, entre junho e julho de 2024. A pesquisa foi realizada com 10 participantes LGBTQIAPN+. A coleta de dados ocorreu por meio da Técnica Bola de Neve, com aplicação de roteiro de entrevista semiestruturada sobre saúde, movimentos sociais e políticas públicas. As entrevistas foram analisadas através da Análise de Conteúdo de Bardin. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, através do parecer n°. 6.852.610/2024 e CAAE 79239024.8.0000.0055.
Resultados
Houve consenso sobre a importância de políticas específicas. Contudo, o conhecimento sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT) mostrou-se limitado, o que revela fragilidades na sua divulgação e incorporação no cotidiano dos serviços. Percebeu-se maior reconhecimento de outras normas e legislações LGBTQIAPN+, como casamento igualitário e criminalização da LGBTfobia, ainda que seu entendimento se limite a vivências pessoais. A participação em movimentos sociais varia: alguns se envolvem, enquanto outros evitam devido a insegurança ou falta de tempo, com expressão de diferentes níveis de mobilização e envolvimento político.
Conclusões/Considerações
Avançar na promoção dos direitos da população LGBTQIAPN+ requer consolidar a articulação entre as políticas públicas e a mobilização social. A ampliação da divulgação e incorporação efetiva das diretrizes existentes deve ser prioridade, assim como o incentivo à participação política e social desses grupos. Tais ações são essenciais para superar desigualdades e garantir o acesso pleno a direitos, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva.
ITINERÁRIOS DE CUIDADO DE HOMENS TRANS E PESSOAS TRANSMASCULINAS NO CONTEXTO DA CISHETERONORMATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A saúde pública é um dos campos em que conflitos de saberes são evidenciados, tendo em vista que é aqui que as políticas determinam formas “saudáveis, normais e corretas” de se viver. O cuidado, aqui é entendido como produzido e interpelado por múltiplos atores. Conjuga-se a ideia de cuidado múltiplo com os itinerários de cuidado, entendendo que não existe um caminho único na busca do cuidado.
Objetivos
Este trabalho pretende analisar como são produzidos os itinerários de cuidado de homens trans e pessoas transmasculinas a partir de um sistema pautado na cisheteronormatividade, onde é esperado e reforçado que todas as pessoas são cisgêneras e heterossexuais.
Metodologia
A partir de uma etnografia com homens trans e pessoas transmasculinas busco analisar os itinerários de cuidado de homens dessa população. Integram os locais de observação desta pesquisa: um ambulatório trans localizado na cidade de Porto Alegre e eventos organizados pelo movimento social transmasculino. Por fim, utilizo dados da pesquisa “Juventude, sexualidade e reprodução”, um estudo multicêntrico qualitativo desenvolvido com o objetivo de compreender os comportamentos sexuais e reprodutivos de jovens de 16 a 24 anos, explorando os contextos e desdobramentos dessas dinâmicas no âmbito das relações mediadas por mídias sociais. Ambas pesquisas foram aprovadas nos devidos comitês de ética.
Resultados
Compõem o corpus empírico deste trabalho as anotações presentes no diário de campo e a entrevista de um homem trans de 23 anos. O caminho para a saúde de homens trans e homens trans é sinuoso e complexo, como aparece na biografia de Pietro, marcado por inúmeras barreiras. Questões como saúde sexual e reprodutiva, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e saúde mental são completamente desconhecidas e ignoradas por uma parte dos profissionais. Como resultado, se apoiam em outros homens trans e pessoas transmasculinas, principalmente do movimento social, com maior experiência para buscar apoio, informações e mesmo formas de acessar serviços mais sensíveis às suas demandas.
Conclusões/Considerações
Homens trans e transmasculinos que conseguem adentrar os sistemas de saúde precisam moldar suas identidades para o que o conhecimento médico reconhece como transexual. Com o acesso à saúde dificultado, esse grupo se apoia em suas redes de apoio ressignificando o próprio conceito de cuidado. Seus percursos são um terreno fértil para evidenciar os mecanismos que resultam em alguns sujeitos são considerados mais (ou menos) dignos de serem cuidados.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS DE MULHERES ADULTAS EM IDADE FÉRTIL: UM ESTUDO TRANSVERSAL DO ESTADO DO PARANÁ
Pôster Eletrônico
1 UFPR
Apresentação/Introdução
A mortalidade de mulheres adultas em idade fértil integra o grupo dos óbitos em idade reprodutiva e, independentemente da causa básica notificada, constitui evento de investigação obrigatória. Além de representar um indicador relevante para a saúde pública, trata-se de um fenômeno complexo, influenciado por múltiplos fatores de natureza biológica, social e assistencial.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos de mulheres adultas em idade fértil, de 18 a 49 anos, no estado do Paraná, de 2014 a 2023.
Metodologia
Foi realizado um estudo epidemiológico, transversal e descritivo, com os dados secundários coletados pelo software Tabwin, no sistema de informação sobre mortalidade (SIM). A pesquisa considerou o período de janeiro de 2014 até dezembro de 2023, envolvendo todos os municípios do Estado do Paraná, com foco nos óbitos de mulheres adultas em idade fértil, de 18 a 49 anos. Considerou-se as seguintes variáveis: idade; raça/cor; escolaridade, estado civil e a causa básica de óbito. A organização e a análise descritiva dos dados foram feitas através de uma planilha Excel® e o Software RStudio.
Resultados
Foram analisados dados de 35468 mulheres, a maioria na faixa etária de 45-49 anos (31,45%). Calculou-se taxa de mortalidade por mil mulheres vivas segundo a raça/cor, sendo maior taxa (18,55) para mulheres indígenas, seguida respectivamente por brancas (14,63) e pretas (13,89). Do total de mulheres, 28,66% possuíam nível de escolaridade Médio (antigo 2º Grau) e 45,63% eram solteiras. As principais causas observadas foram Neoplasias (25,65%); Causas externas (18,07%), dessas sendo acidentes de transportes (42,03%), agressões (33,50%) e lesões autoprovocadas (17,29%); Doenças do aparelho circulatório (14,94%); Doenças infecciosas e parasitárias (13,32%); Doenças do aparelho digestivo (4,77%).
Conclusões/Considerações
A predominância de óbitos entre mulheres indígenas, brancas e pretas pode refletir a diversidade demográfica do estado e reforça a importância de aprofundar as análises considerando a raça/cor e os determinantes sociais. Também, é necessário fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde da mulher, com ênfase na prevenção e detecção precoce de neoplasias, bem como no enfrentamento a acidentes, violência autoprovocada e outras agressões.
SER MÃE DE ADOLESCENTE NO BRASIL É QUESTÃO DE SAÚDE? UMA ANÁLISE DA LITERATURA ESPECIALIZADA
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz)
2 Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz Bahia
Apresentação/Introdução
Mesmo com a entrada maciça de mulheres na esfera produtiva, o cuidado permanece sendo uma atribuição predominantemente feminina. A maternidade é apontada como condição que acentua a sobrecarga das mulheres, sendo os filhos adolescentes um fator potencializador do sofrimento mental. Nossa hipótese é que a saúde mental de mães de adolescentes ainda carece de reflexão na literatura especializada.
Objetivos
Este artigo teve como objetivo mapear, com base na literatura científica indexada, os principais problemas que afetam mães de adolescentes brasileiros na contemporaneidade, influenciando sua saúde mental e seu processo de cuidado - de si e do outro.
Metodologia
Trata-se de revisão de literatura, realizada em fevereiro de 2024, abordando questões de saúde mental enfrentadas por mães de adolescentes no Brasil. Foram incluídos estudos experimentais, observacionais e qualitativos publicados como artigos em periódico indexado e escritos em inglês, português ou espanhol. Uma estratégia de busca foi elaborada, com descritores e palavras-chave, e adaptada a cada uma das bases consultadas: Medline/PubMed, Web of Science (Clarivate), Lilacs (BVS) e SciElo. Os temas dos artigos foram agrupados em categorias segundo análise categorial de Bardin e aplicou-se síntese semelhante a suas conclusões, destacando fatores de risco e proteção para adolescentes e mães.
Resultados
As buscas resultaram em 195 artigos, sendo analisados 41. Desses, 32 focaram em adolescentes e apenas 9 em mães. Os problemas dos adolescentes foram: saúde mental; consumo de drogas lícitas/ilícitas; violência intrafamiliar; bullying; comportamento sexual; dependência de internet; autoavaliação de saúde ruim; e consumo de medicamentos. Fatores de risco incluíram baixa escolaridade, juventude, emprego e problemas mentais das mães. Já maior escolaridade e apoio emocional maternos atuaram como proteção. Nas mães, as questões referidas foram: saúde mental; temores quanto ao uso de drogas pelos filhos; e reconhecimento de problemas mentais nos filhos e/ou busca por ajuda.
Conclusões/Considerações
O trabalho mapeou questões de saúde mental de adolescentes brasileiros e apontou desafios enfrentados por suas mães. A maioria dos estudos focou em adolescentes, revelando indiretamente a sobrecarga materna. Destacou-se o impacto de condições sociodemográficas e do comportamento das mães em tais problemas. São necessárias mais pesquisas sobre saúde mental materna nesse segmento, numa perspectiva interseccional, para subsidiar políticas públicas.
DOULAS NEGRAS COMO APOIO ANCESTRAL ÀS GESTANTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Pôster Eletrônico
1 UnB
Apresentação/Introdução
As disparidades raciais na saúde são evidentes na alta taxa de mortalidade materna entre mulheres negras no Brasil. Dados do estudo Nascer no Brasil II revelam que essas mulheres enfrentam mais mortes evitáveis e violência obstétrica. Neste cenário, destaca-se a importância das doulas negras como resposta ao racismo obstétrico.
Objetivos
Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a atuação das doulas negras, analisando sua relevância na humanização do parto, na mitigação do racismo obstétrico e na promoção da equidade racial no cuidado em saúde.
Metodologia
A pesquisa consistiu em uma revisão integrativa da literatura, com busca nas bases LILACS, MEDLINE, BVS, SciELO e PubMed. Utilizaram-se descritores como: doulas, parto humanizado, racismo obstétrico, equidade racial e ancestralidade. Foram incluídos estudos em português, inglês e espanhol com foco na atuação de doulas negras. A análise qualitativa baseou-se em referenciais da história social das mulheres negras, da saúde da população negra e dos estudos feministas e de gênero, com ênfase em direitos sexuais e justiça reprodutiva, permitindo identificar lacunas e tendências na produção científica.
Resultados
A revisão revelou escassez de estudos sobre doulas negras, apesar de sua importância. As evidências apontam que essas profissionais oferecem suporte físico e emocional, reduzem intervenções médicas desnecessárias e resgatam práticas ancestrais como chás, massagens e banhos de ervas. Elas atuam como mediadoras culturais e comunicacionais entre gestantes negras e profissionais de saúde, favorecendo o respeito às suas demandas e combatendo o racismo institucional que nega analgesia ou impõe procedimentos sem consentimento. Sua presença contribui para uma assistência obstétrica mais equânime e respeitosa.
Conclusões/Considerações
A atuação das doulas negras é essencial para a construção de uma assistência perinatal digna, que respeite a autonomia e os saberes das mulheres negras. É urgente ampliar pesquisas sobre esse cuidado e reconhecer a doulagem como estratégia de promoção da equidade racial. Políticas públicas devem valorizar essas profissionais e integrar seus saberes aos modelos de atenção à saúde materna.
“A GENTE COMBINAMOS DE NÃO MORRER”: RACISMO, VIOLÊNCIA DE GÊNERO E PRISÃO, ENCRUZILHADAS NA TRAJETÓRIA DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS
Pôster Eletrônico
1 ENSP/Fiocruz
2 UFSC
Apresentação/Introdução
O corpo transfeminino é socialmente (in)desejado e o (cis)tema atua na perspectiva que pode punir e dominar. São corpos abjetos que não produzem comoção mesmo quando “tombam” por ação ou omissão do Estado. Essa realidade é atravessada por situações de vulnerabilidade, fruto das estruturas sociais de gênero, classe e raça, comum em um país de tradição escravocrata, punitivista e de seletividade penal.
Objetivos
Discutir o racismo e as violências de gênero que atingem às mulheres trans e travestis privadas de liberdade no Brasil e, bem como, suas implicações para as condições de saúde no sistema prisional.
Metodologia
Trata-se de um levantamento bibliográfico fruto do projeto de pesquisa de doutorado, fundamentado na teoria da interseccionalidade, por entender que ela se apresenta como uma importante chave analítica para avaliar e refletir quanto às iniquidades sociais, em suas múltiplas categorias, em especial, como os marcadores sociais da diferença: raça, violência de gênero e prisão agem em encruzilhadas, de maneira relacional e sem hierarquizar as opressões, de modo que, todos operam simultaneamente e assim sustentam as estruturas de opressão e intensificam o quadro vulnerabilização de grupos que historicamente teve os seus direitos negados, dentre eles o direito à saúde e à vida.
Resultados
As práticas sexistas e racistas são moldadas pelo discurso colonial, resultando em violência, especialmente contra mulheres negras. Ao incluir a perspectiva de gênero, o corpo transfeminino, se torna um dos principais alvos de extermínio. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, mas os dados não são oficiais, o que mostra o quanto essa pauta, complexa e relevante, é negligenciada. Condição essas que reforça uma agenda anti-gênero, o lugar de subalternidade e do corpo que está dissonante ao (cis)tema marcado por abjeções. O aprisionamento, por sua vez, é um mecanismo de controle para sucumbir os corpos que resistiram à primeira estratégia de apagamento dessa população.
Conclusões/Considerações
Atentamos que a intersecção de raça, violência de gênero e prisão é profunda, apontamos à necessidade que seja pautada no campo da saúde pública. Pois, essa população sofre múltiplas violências, que implicam sobre elas rótulos que as subjugam, invisibilizam e expõem a vulnerabilidades. Destacamos a importância de resistir, ressignificar os preconceitos e encontrar caminhos para (sobre)viver em meio a essa sociedade racista, sexista e punitivista.
GÊNERO E RURALIDADES: A FORÇA DA MULHER DO CAMPO NO BAIXO SUL DA BAHIA
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
A CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO FEMININO ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA À DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO, QUE DESIGNA A FORÇA DA MULHER COMO INFERIOR, SECUNDÁRIA, REPRODUTIVA E NÃO REMUNERADA (VASCONCELOS; 2009). NO CAMPO, ESSA DIVISÃO PODE APARECER ATRAVÉS DE IDEAIS VINCULADOS AO PATRIARCADO ESTRUTURAL, SITUAÇÃO QUE, POR MUITAS VEZES, REFLETE EM MECANISMOS DE INVALIDAÇÃO DE PRÁTICAS COMANDADAS POR MULHERES.
Objetivos
IDENTIFICAR O PAPEL DA MULHER NO CAMPO E COMPREENDER COMO A FORÇA FEMININA ATUA NA DESCONSTRUÇÃO DO MACHISMO.
Metodologia
OS DADOS DESTA PESQUISA DERIVAM DO BANCO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO ECLIPSE (EMPOWERING PEOPLE WITH CUTANEOUS LEISHMANIASIS: INTERVENTION PROGRAMME TO IMPROVE PATIENT JOURNEY AND REDUCE STIGMA VIA COMMUNITY EDUCATION), UM PROJETO DE BASE ETNOGRÁFICA QUE ATUOU EM DIFERENTES COMUNIDADES NO BAIXO SUL DA BAHIA. ATRAVÉS DESTE PROJETO, TIVEMOS A
OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, RODAS DE CONVERSAS E GRUPOS CONSULTIVOS, QUE TINHAM COMO OBJETIVO A IDENTIFICAÇÃO DA PERSPECTIVA DAS MULHERES SOBRE O
EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO. ESSE MATERIAL FOI INCLUÍDO NO ACERVO DE DADOS DO PROJETO, SENDO POSTERIORMENTE ORGANIZADO E UTILIZADO EM DIVERSAS PRODUÇÕES.
Resultados
DURANTE AS ANDANÇAS PELOS TERRITÓRIOS E SUBSEQUENTE ACESSO AOS ESCRITOS RELACIONADOS AOS MÉTODOS UTILIZADOS, OBSERVAMOS QUE O PAPEL DAS MULHERES NAS COMUNIDADES SUGERE NOVAS CONJUNTURAS E COMPÕE UMA SUPERAÇÃO A ESTIGMAS SUSTENTADOS PELO MACHISMO E PATRIARCADO. A MULHER, QUE EM MUITOS CASOS, ERA COLOCADA COMO SUBALTERNA, VIVENCIA A POTÊNCIA DE SER QUEM É E ESTIMULA O EMPODERAMENTO FEMININO. DESSA FORMA, PERCEBEMOS QUE AS COMUNIDADES PESQUISADAS SÃO EXEMPLO DE MANIFESTAÇÃO FEMININA DE FORÇA, RESISTÊNCIA E SOBRETUDO, INSPIRAÇÃO PARA A SOCIEDADE, DEMONSTRANDO O QUANTO ESTAMOS AQUÉM DE CARACTERÍSTICAS VALIOSAS JÁ CONQUISTADAS POR ESTAS MULHERES DA ZONA RURAL.
Conclusões/Considerações
DIANTE DISSO, DESTACAMOS QUE APESAR DA PERMANÊNCIA DE IDEAIS PATRIARCAIS EM ALGUMAS RELAÇÕES DO CAMPO, AS MULHERES CONSEGUEM ROMPER O PADRÃO E ALCANÇAR AUTONOMIA. NESSE SENTIDO, DEIXAM DE ATUAR APENAS COMO CUIDADORA, MAS TAMBÉM COMO LÍDER COMUNITÁRIA, PROFISSIONAL LIBERAL E EMPREENDEDORA. COM ISSO, O MEIO RURAL PASSA POR TRANSFORMAÇÕES QUE CONTRAPÕEM A LÓGICA SOCIAL, GARANTINDO QUE AS MULHERES TENHAM VOZ NAS DECISÕES DA COMUNIDADE.
ESTIGMA COMO DETERMINANTE SOCIAL NA EXPERIÊNCIA DO ABORTO E DO HIV: VIOLAÇÕES DE DIREITOS E IMPACTOS NA ATENÇÃO À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ/UFRJ/UERJ/UFF
Apresentação/Introdução
Este estudo analisou como estigma, enquanto determinante social da saúde, afeta o acesso ao aborto e ao cuidado no HIV. Através de entrevistas, revisão bibliográfica e experiências de ativismo, evidenciou-se como como o julgamento moral, por meio do silenciamento, da desinformação e da culpabilização comprometem o acesso à saúde e à cidadania.
Objetivos
O objetivo é investigar como o estigma interfere na experiência de aborto ou de pessoas vivendo com HIV e relacionar como ambos os fatores afetam negativamente o acesso a serviços, a integralidade do cuidado e o direito à saúde.
Metodologia
A metodologia foi qualitativa, com base em entrevistas com mulheres que abortaram, ativistas e profissionais de saúde, articuladas à revisão bibliográfica e documental sobre aborto e HIV. Utilizou-se a perspectiva da determinação social da saúde, dialogando com a saúde sexual e reprodutiva e feminismos. Foram mobilizados protocolos oficiais, cartilhas e dados de organizações como a Anis/UNB e do Ministério da Saúde. A proposta foi identificar como o estigma atravessa o cotidiano, a assistência em saúde e as relações sociais, desde a prevenção até o tratamento e suporte pós-evento. A análise interseccional permitiu evidenciar desigualdades e vulnerabilidades agravadas por marcadores sociais.
Resultados
O estigma opera como barreira estruturante, afetando o acesso à saúde. No aborto, a criminalização e a culpabilização da sexualidade feminina resultam em atendimentos precários, violência obstétrica, isolamento e sofrimento psíquico. No HIV, observou-se desinformação, omissões de diagnóstico e de tratamento, negação de direitos sexuais e reprodutivos e práticas discriminatórias. Importante ressaltar que profissionais da saúde também são afetados, o que impacta diretamente a qualidade do serviço. Em ambos os contextos há medo, silenciamento, desinformação e barreiras institucionais que comprometem os princípios do SUS, como a universalidade, equidade e integralidade da atenção.
Conclusões/Considerações
Aborto e HIV, embora distintos, compartilham o estigma como barreira estrutural aos direitos e revelam a persistência de leis e de práticas moralizantes na saúde, comprometendo o acesso à informação, à saúde e à dignidade. Na Saúde Coletiva, é urgente fortalecer ações intersetoriais e estratégias de cuidado que enfrentem o estigma como expressão de iniquidades sociais, com ênfase na promoção da equidade, autonomia e justiça reprodutiva e social.
SAÚDE LGBTQI+: PERCEPÇÕES SOBRE O ACESSO, ACOLHIMENTO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UEPA
2 UFPA
Apresentação/Introdução
O acesso à serviços de saúde é fundamental na garantia de direitos sociais, ocupacionais e para qualidade de vida. A LGBTQI+fobia, como um Determinante Social da Saúde, compromete a equidade no atendimento, favorecendo situações de desassistência e agravamento das demandas dessa população.
Objetivos
Compreender como ocorre o acesso da população LGBTQI+ aos serviços de saúde.
Metodologia
Pesquisa qualitativa, exploratória, desenvolvida entre agosto e setembro de 2024, com aprovação ética (parecer nº 6.920.279). Participaram 9 pessoas LGBTQI+; maiores de 18 anos, voluntárias e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados ocorreu através da Entrevista Semiestruturada e o Diário de Campo, com encontros via Google Meet. Utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin para análise dos dados, seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A pesquisa seguiu os princípios éticos da Resolução 466/12 e diretrizes da CONEP, com validação por transcrição e revisão cruzada das entrevistas.
Resultados
Destacaram-se pontos recorrentes nos relatos dos participantes. Sobre serviços de saúde ofertados pela rede privada e convênios, relatou-se despreparo profissional, ausência de acolhimento e dificuldade no repasse de informação sobre especificidades da sexualidade e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis entre mulheres cisgênero, bissexuais e lésbicas. Ainda, notou-se dificuldades no acesso pelo SUS, tanto no acompanhamento da saúde física e mental quanto na busca por especialistas que auxiliem na terapia hormonal, recorrendo a atendimentos particulares. Em contraste, serviços específicos para saúde LGBTQI+ proporcionaram maior escuta e cuidado em suas experiências.
Conclusões/Considerações
Evidencia-se que a população LGBTQI+ enfrenta graves problemas no acesso e na qualidade dos serviços de saúde, o que compromete o cuidado integral à saúde, ratificando a urgência na reformulação e elaboração de formas de assistência, a partir da capacitação profissional e políticas inclusivas, principalmente nos serviços públicos, visando amenizar as violências sistemáticas e invisibilidade social vivenciadas.
ASSOCIAÇÃO ENTRE AGENCY E COMUNICAÇÃO SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM ADOLESCENTES MUITO JOVENS: ANÁLISE A PARTIR DO GLOBAL EARLY ADOLESCENT STUDY
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A OMS definiu, em 2010, a adolescência inicial (10–14 anos), fase marcada por intensas transformações. Apesar da importância, essa faixa etária é negligenciada, sobretudo na saúde sexual e reprodutiva. O GEAS busca suprir essa lacuna e o agency se destaca como fator protetor para o desenvolvimento autônomo e crítico.
Objetivos
O estudo tem como objetivo avaliar a comunicação sobre saúde sexual e reprodutiva entre adolescentes de 10 a 14 anos e compará-la aos níveis de agency desses indivíduos, analisando as diferenças segundo o sexo.
Metodologia
Os dados foram coletados em áreas de baixa renda da zona leste de São Paulo entre agosto e novembro de 2012. Participaram 996 adolescentes cadastrados em quatro UBSs, que atenderam aos critérios de elegibilidade. Questionários foram aplicados em domicílio por pesquisadores treinados. Após análise exploratória e imputação com o método kNN, os padrões de comunicação sobre SSR e os escores de agency serão analisados por sexo (p<0,05). Serão realizadas regressões logísticas multivariadas para investigar a associação entre variáveis independentes e comunicação sobre SSR. As análises serão conduzidas no Stata 17.0. O estudo foi aprovado pelo CEP da Prefeitura de SP.
Resultados
As análises estatísticas estão em andamento, com término previsto para julho. Hipotetiza-se que a comunicação sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR) varia conforme o sexo, sendo mais comum entre meninas. Os níveis de agency também diferem por sexo, com meninos apresentando escores mais altos em voz, tomada de decisão e liberdade de movimento. Supõe-se que fatores como características sociodemográficas, puberdade, estrutura familiar e segurança no bairro estejam associados à comunicação sobre SSR. Espera-se ainda que maiores níveis de agency se associem positivamente à comunicação sobre SSR, com variações conforme o sexo.
Conclusões/Considerações
Após as análises, será realizada a discussão e interpretação dos resultados. Espera-se que o estudo contribua para identificar lacunas no conhecimento e na comunicação sobre saúde sexual e reprodutiva entre adolescentes de 10 a 14 anos, subsidiando futuras intervenções e políticas públicas mais eficazes e sensíveis às questões de gênero e agency.
" MATERNIDADES RESISTENTES": NARRATIVAS DE TRABALHADORAS SEXUAIS USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2 Universidade Federal de Campina Grande
3 Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A maternidade vivida por trabalhadoras sexuais, que fazem uso de substâncias psicoativas, é constantemente discriminada e negligenciada. Envoltas por estigmas de gênero, moralidade e pobreza, essas mães rompem com a normatividade do cuidado idealizado para mulheres e vivenciam maternidades resistentes ao abandono estatal e situadas à margem da sociedade.
Objetivos
Evidenciar como a maternidade é percebida pelas mulheres trabalhadoras sexuais e usuárias de substâncias psicoativas, compreendendo os sentidos atribuídos ao cuidado materno.
Metodologia
A pesquisa tem abordagem qualitativa, sendo guiada pelo método da história oral temática e aprovada pelo comitê de ética. Participaram do estudo 11 trabalhadoras sexuais, que faziam uso de substâncias psicoativas, integrantes de uma associação situada em uma cidade do Nordeste do Brasil. As narrativas foram transcritas, transcriadas e analisadas à luz da análise temática. Este estudo é um recorte de uma dissertação do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir da leitura das histórias narradas, identificou-se a presença recorrente da maternidade nas trajetórias dessas mulheres, evidenciando formas singulares de cuidado e resistência.
Resultados
A maternidade emergiu como presença marcante nas histórias. A maioria relatou ausência de políticas públicas de apoio à maternidade solo e sob condições de vulnerabilidade, e negligência dos serviços de saúde no acompanhamento e apoio à maternidade vinculada às intersecções do trabalho e uso de substâncias psicoativas. No entanto, o trabalho sexual foi descrito como meio de sustento e forma legítima de cuidado. Algumas mulheres atribuíram à maternidade as mudanças nos padrões de uso, de substâncias como redução, substituição ou abstinência, além de evidenciarem normativas internas nos territórios que regulam o consumo, reconhecendo nelas mães que, se organizam para maternar e resistir.
Conclusões/Considerações
As narrativas tensionam a lógica dominante da maternidade idealizada, revelando experiências que, mesmo à margem, sustentam formas legítimas de cuidado. Essas maternagens, produzidas na resistência ao estigma, à negligência estatal e à moralidade seletiva, demandam reconhecimento ético e político. É afirmar que, mesmo na margem, há vínculo, esforço e potência de vida que exigem justiça social e políticas públicas integradas.
NOVAS ESTRATÉGIAS PARA AVALIAR A SATISFAÇÃO COM USO DO IMPLANTE E DIU COM COBRE ENTRE USUÁRIAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO
Pôster Eletrônico
1 USP
2 UFMG
3 PMSP
Apresentação/Introdução
A satisfação com o uso de métodos contraceptivos está associada à continuidade e, consequentemente, à prevenção de gestação não intencional. Estudos mostram maior satisfação com métodos reversíveis de longa duração (LARC), como o DIU e o implante, porém estratégias pelas quais a satisfação foi avaliada variam, podendo superestimar resultados e limitar a comparabilidade entre os estudos.
Objetivos
Avaliar a satisfação com o uso do implante e do DIU com cobre, comparando duas estratégias: satisfação completa (expectativa, experiência, efetividade e continuidade) e satisfação autorreferida.
Metodologia
Estudo transversal realizado com 331 mulheres de 15 a 49 anos atendidas em hospital público da cidade de São Paulo/SP para inserção do DIU com cobre e implante, em 2021. A coleta envolveu entrevistas telefônicas e análise de prontuários. Avaliou-se duas formas de satisfação com o método em uso: completa (baseada em quatro atributos, que são expectativa, experiência, efetividade e continuidade) e autorreferida (resposta direta). Foram analisadas variáveis sociodemográficas, reprodutivas e padrão de efeitos colaterais. A análise estatística incluiu testes qui-quadrado e foi realizada no software R, estratificando-se por tipo de método: DIU com cobre e implante de etonogestrel.
Resultados
Usuárias de implante eram mais jovens, negras e em situação de maior vulnerabilidade social do que as do DIU. A satisfação completa foi relatada por 43,8% das usuárias de implante e 31,0% entre as de DIU. A maioria revelou que a satisfação estava relacionada à expectativa de que o método fosse seguro para prevenção da gravidez, à experiência com o uso melhor do que se esperava, à sensação de tranquilidade proporcionada pela eficácia do método e à continuidade no uso, indicando adesão ao método. Já a satisfação autorreferida foi maior: 92,4% no grupo do implante e 87,6% no do DIU. Efeitos colaterais que melhoraram ao longo do tempo estiveram associados à maior satisfação em ambos os grupos.
Conclusões/Considerações
As estratégias utilizadas não foram equivalentes. A avaliação por quatro atributos mostrou que a segurança foi o motivo mais relatado pelas mulheres para estarem satisfeitas, confirmando ser a ponderação (expectativa versus experiência) um elemento importante para a satisfação com o uso do método. Por sua vez, o uso da pergunta direta facilita a comparação com outros estudos e é bom custo-benefício para pesquisas e prática clínica.
ACESSO DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: EVIDÊNCIAS DE UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 UFSC
2 UFRGS
Apresentação/Introdução
Apesar dos avanços normativos, pessoas LGBTQIAPN+ ainda enfrentam desigualdades no acesso à Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Barreiras institucionais, estigmas e despreparo das equipes dificultam a efetivação da equidade, contrariando os princípios da PNAB e da Política Nacional de Saúde Integral LGBT.
Objetivos
Mapear e analisar as evidências científicas sobre o acesso da população LGBTQIAPN+ à APS no Brasil.
Metodologia
Realizou-se uma revisão de escopo conforme diretrizes do PRISMA-ScR e manual do Joanna Briggs Institute, com protocolo registrado no OSF (DOI: 10.17605/OSF.IO/7KR2F). A busca foi realizada em março de 2025 nas bases PubMed, EMBASE, SCOPUS, Web of Science, LILACS e SciELO, sem restrição de data. Após remoção de duplicatas, triagem e leitura na íntegra, 28 artigos foram incluídos. Os dados foram extraídos e analisados por meio de mapeamento temático, com categorização e síntese dos achados em planilha estruturada.
Resultados
Dos 28 estudos analisados, prevaleceram métodos qualitativos com enfermeiros, médicos e usuários LGBTQIA+. Identificou-se que até 70% das pessoas trans evitam a APS, e cerca de 50% não têm vínculo com a APS. As barreiras incluem estigmas, uso incorreto do nome social, patologização de identidades e ausência de protocolos clínicos. Apenas 5% das UBS cadastraram nome social de usuários trans. Por outro lado, experiências com rodas de conversa, educação permanente e inclusão de hormonização nas UBS mostraram ampliação do acesso, redução de evasões e fortalecimento do vínculo terapêutico.
Conclusões/Considerações
A APS possui potencial transformador, mas ainda reproduz lógicas cisheteronormativas que dificultam o cuidado integral à população LGBTQIAPN+. Qualificar profissionais, promover estratégias inclusivas e aplicar políticas existentes são caminhos necessários para a efetivação da equidade no SUS.
SAÚDE SEXUAL FEMININA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Pôster Eletrônico
1 UFPI
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A população feminina de comunidades quilombolas enfrenta alguns desafios, como a baixa escolaridade e piores condições de vida, que contribuem reduzindo o adequado conhecimento no cuidado em saúde. No que se refere a sexualidade feminina, o mesmo acontece, e apesar da criação de políticas como a PNAISM, ainda são observadas lacunas em relação ao cuidado direcionado às mulheres negras.
Objetivos
Descrever os perfis reprodutivos e trajetórias de saúde sexual das mulheres quilombolas, incluindo idade da menarca e uso de contraceptivos.
Metodologia
Estudo descritivo, com análise quantitativa, envolvendo mulheres adultas (> 18 anos), de comunidades quilombolas do estado do Piauí. Realizou-se entrevistas individuais e domiciliares, utilizando o questionário semiestruturado da Pesquisa Nacional de Saúde, adaptado para a população quilombola. Utilizou-se o módulo F (Saúde da mulher) do questionário. Ao final foram entrevistadas 162 mulheres. O trabalho foi aprovado no comitê de ética, CAAE: 78510124.5.0000.5214
Resultados
A média da menarca entre as quilombolas foi de 13 anos. A idade média de início da atividade sexual foi de 18 anos, com variação entre 12 e 42 anos. Nota-se ainda, que das mulheres com vida sexual ativa, em idade reprodutiva, 45,7% usavam métodos contraceptivos, sendo pílula anticoncepcional o método mais utilizado (56,8%); apenas 16% faziam associação com o uso da camisinha . Daquelas que não usavam nenhum método, 6,8% justificaram não saber como evitar ou onde procurar mais informações e 20,5% já haviam realizado ligadura de trompas. Apenas 11,1% das mulheres entrevistadas participavam de grupos de planejamento familiar.
Conclusões/Considerações
O desconhecimento sobre o uso adequado de preservativos e a falta de planejamento familiar contribuem para o aumento de gestações não planejadas e de infecções sexualmente transmissíveis. Estudos indicam maior prevalência dessas condições em populações mais vulnerabilizadas, o que reforça a necessidade de programas de saúde locais voltados à redução das desigualdades sociais e raciais.
CORPOS EM MOVIMENTO: TRANSFORMAÇÕES NA SAÚDE TRANS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO AMAZONAS
Pôster Eletrônico
1 UEA
2 UFAM
Apresentação/Introdução
O Processo Transexualizador (PrTr), fruto da mobilização social, representa um marco para saúde trans no Brasil. Contudo, perpetuam-se barreiras estruturais, revelando as desigualdades regionais. Neste contexto, o Amazonas apresenta uma trajetória singular, que reflete dinâmicas locais de articulação política e engajamento social que influenciaram a implementação de dispositivos de cuidado.
Objetivos
Buscou-se analisar o percurso histórico, político e institucional da saúde trans no Amazonas, mapeando as transformações promovidas pela participação de atores e atrizes envolvidos na articulação e mobilização social pela implementação do PrTr.
Metodologia
Adotou-se uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, com base na análise documental e levantamento de ações da mobilização social. Foram selecionados dossiês institucionais, portarias, resoluções e atas de reuniões registrados entre os anos de 2017 e 2024. Foi feito um esforço de sistematização cronológica e categorização por análise temporal e contextual, evidenciando as transformações históricas . A síntese em eixos temáticos destacou padrões, desafios superados e conquistas. A análise permitiu contextualizar políticas e ações no período, avaliando a influência de fatores externos na efetivação do PrTr e no avanço das políticas de saúde para a população LGBT no estado.
Resultados
Revela-se a articulação entre movimentos sociais, UEA e órgãos públicos, especialmente da justiça e cidadania, com ações como capacitações, audiências públicas e grupos de trabalho. As ações com vistas a visibilidade e sensibilização, culminaram na institucionalização do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros em 2018, a consolidação da equipe em 2019 e o projeto TransOdara em 2020. Nos anos seguintes destacam-se: em 2021, a instituição da Política Estadual de Saúde Integral LGBTI+, a dispensação de hormônios em 2023 e em 2024 realiza-se a Jornada de Cirurgias Corporais em Pessoas Trans e Intersexo em parceria com o hospital universitário da UFAM.
Conclusões/Considerações
Apesar dos avanços, permanecem nestes sete anos analisados, entraves burocráticos quanto às habilitações de serviços, dificuldade para ampliação da rede na capital e no interior e a prática transfóbica de profissionais. Ainda assim, a experiência amazônica serve como modelo de articulação entre sociedade civil e Estado para a construção de uma saúde pública mais equitativa e humanizada, engajada na superação de barreiras estruturais e simbólicas.
GÊNERO E SAÚDE MENTAL: SENTIMENTOS VIVENCIADOS POR MULHERES NAS ROTAS CRÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA EM LONDRINA - PARANÁ
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual de Londrina
Apresentação/Introdução
A violência de gênero se manifesta de diversas formas, incluindo agressão física, psicológica, sexual e econômica. A "rota crítica" das mulheres vítimas de violência abrange diferentes pontos de contato, como delegacias, unidades de saúde, assistência social e suporte psicológico. No entanto, a falta de integração entre esses serviços pode resultar em revitimização e barreiras no acesso à proteção.
Objetivos
Analisar como essas rotas são construídas e quais são os principais sentimentos vivenciados pelas mulheres no contexto de Londrina.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, fundamentado na história oral temática. Foram entrevistadas sete mulheres, maiores de 18 anos, que vivenciaram situações de violência e buscaram apoio da rede de enfrentamento. As entrevistas foram realizadas individualmente, remotamente entre abril e junho de 2021. A questão norteadora das entrevistas foi: qual o caminho percorrido em busca de cuidado considerando a violência sofrida? As entrevistadas relataram abertamente suas experiências em relação à violência vivenciada, sem interferência da pesquisadora.
Resultados
Vergonha, culpa, medo e sensação de humilhação impedem com que as mulheres permaneçam no caminho de busca por proteção, enquanto o sentimento de acolhimento proporciona maior segurança para a continuidade dos seus movimentos de rompimento dos ciclos de violência. Uma lacuna comum entre os caminhos percorridos pelas participantes desta pesquisa está relacionada ao acompanhamento psicológico ou formas de acolhimento delas em suas rotas a partir da rede de assistência. O percurso das mulheres no encontro com esse tipo de cuidado é mais particular, elas não são prontamente encaminhadas aos serviços de acolhimento psicológico, sendo priorizada a recepção da queixa e cuidados biológicos.
Conclusões/Considerações
As formas de cuidado ofertadas podem se apresentar de maneira distante das necessidades verbalizadas pelas mulheres ao longo de seus caminhos e ao retomarem as memórias de suas histórias percebem que os recursos efetivos para o cuidado são mais independentes e subjetivos. A capacitação dos profissionais e a integração dos serviços são essenciais para melhorar a resposta institucional ao cuidado em saúde mental de mulheres que vivenciaram violência.
O LUTO NO CAMPO DA SAÚDE COLETIVA: UMA AGENDA POLÍTICA EM CONSTRUÇÃO
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ
2 UFRJ
Apresentação/Introdução
O luto é um fenômeno que atravessa a vida de todas as pessoas e tem sido um tema para reflexões acadêmicas, pauta para a agenda de movimentos sociais e objeto de interesse para políticas públicas de saúde. A pandemia de COVID-19, as mortes de jovens periféricos devido à violência do Estado, a perda gestacional ou neonatal são exemplos de visibilidade do tema do luto na contemporaneidade.
Objetivos
Discutir, à luz de uma perspectiva socioantropológica, os atravessamentos de gênero e sexualidade nas experiências de enlutamento e suas contribuições para as políticas públicas.
Metodologia
Por meio de pesquisas recentes no campo da saúde coletiva, em que os(as) autores(as) estão/estiveram envolvidos(as), buscamos analisar as experiências de luto paterno (Maués, 2021), luto masculino (Carvalho, 2022) e luto lésbico (Machado, 2024), para discutir como o gênero e a sexualidade atravessam essas experiências e como há um jogo de visibilidade/invisibilidade dessa perda e, portanto, da validação social da experiência de luto.
Resultados
Por meio de pesquisas qualitativas, acessamos homens cis homo e heterossexuais e mulheres cis lésbicas para que nos relatassem suas experiências de luto. Constatamos que há uma expectativa social sobre como homens devem atuar diante da perda de um filho(a) e da perda gestacional e/ou neonatal: deve ser o suporte para a mulher enlutada, tendo seu próprio sofrimento, muitas vezes, não reconhecido. Para as mulheres lésbicas, a perda da companheira não é reconhecida como uma viuvez, tendo igualmente, seu luto e seu sofrimento invisibilizado.
Conclusões/Considerações
O luto se configura como uma experiência pessoal e subjetiva e, ao mesmo tempo, social, política e histórica, condicionada por ditames culturais que invisibilizam e desqualificam o sofrimento de homens diante da perda de um(a) filho(a), faltando-lhes muitas vezes repertório emocional para lidar com tal perda. A (in)visibilidade da homossexualidade feminina aparece como um entrave ao reconhecimento público e social do luto lésbico.
ORIENTAÇÃO SEXUAL E ESTRESSE PERCEBIDO: UMA ANÁLISE ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS BRASILEIRAS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2 Universidade Federal da Paraíba
3 Universidade Federal do Acre
4 Universidade Federal do Paraná
5 Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A população LGBTQIAPN+ convive com estressores específicos, além daqueles vivenciados cotidianamente. Esses grupos estão frequentemente expostos a contextos de preconceito e discriminação, o que compromete sua saúde mental. Nesse contexto, o estresse tem sido investigado no ambiente universitário, sobretudo pelos impactos negativos que exerce sobre a saúde física e psíquica dos estudantes.
Objetivos
Investigar a relação entre orientação sexual e estresse percebido entre estudantes universitários de instituições públicas no Brasil.
Metodologia
Estudo transversal, vinculado ao projeto multicêntrico Brazuca Covid. Utilizamos formulário eletrônico, com informações sociodemográficas e da Escala de Estresse Percebido, com coletas entre maio e dezembro de 2023. A população de estudo foi composta por 2.884 estudantes de graduação, que responderam a pergunta sobre orientação sexual, regularmente matriculados em quatro instituições de ensino públicas, em quatro regiões brasileiras. Para verificar associações, utilizou-se o teste qui-quadrado. As análises foram conduzidas no software Stata 13, e a associação foi significativa quando p<0,05. O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa das quatro universidades participantes.
Resultados
Entre os participantes, 70,2% apresentaram estresse elevado, seguidos por 19% com moderado, 10% leve e 0,8% não souberam responder. Enquanto a orientação sexual, 60,2% se autodeclararam heterossexuais e 35,6% pertenciam a alguma minoria sexual. A prevalência do estresse elevado foi observada em 78,3% dos estudantes de minorias sexuais, enquanto entre os heterossexuais foi 65,3% (p<0,001). Analisando separadamente as orientações sexuais, observou-se que os participantes pansexuais apresentaram a maior prevalência de estresse elevado (84%), seguidos da orientação fluida (82%), bissexuais (80%) e homossexuais (76%). Entre os heterossexuais, essa prevalência foi de 62,3% (p < 0,001).
Conclusões/Considerações
Os resultados indicam uma relação entre orientação sexual e estresse percebido entre estudantes universitários, sendo aqueles pertencentes às minorias sexuais que enfrentam níveis maiores em comparação aos seus pares heterossexuais. A exposição contínua a estressores específicos, como preconceito e discriminação, associados às demandas e sobrecargas do ambiente acadêmico, contribui para o comprometimento da saúde mental desses grupos.
O SER E O OBJETO: UMA AUTOETNOGRAFIA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE LGBT NO VIVER E NO PESQUISAR
Pôster Eletrônico
1 UEM
2 Duke University
Apresentação/Introdução
A presente pesquisa surgiu de inquietações e provocações advindas da minha dissertação de mestrado, que versa sobre as violências interpessoais contra LGBTs no Brasil, e que se soma à minha própria vivência. Do ‘viadinho' durante a infância à pessoa não-binária que leciona tentando ser passável, atravessamentos e violências se seguiram e seguem, sempre buscando o ponto que mais dói.
Objetivos
O objetivo deste trabalho é desvelar os atravessamentos e violências experienciados por uma pessoa LGBT no processo de formação enquanto agente de pesquisa.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa autoetnográfica, conduzida sob a influência de Marcio Caetano e de Paul Preciado na organização da escrita. Foi analisada uma notificação de violência autoprovocada de 2020 da autora principal. A notificação de violência do Ministério da Saúde possui campos específicos para indicar a orientação sexual, identidade de gênero e motivação da violência. Foram realizadas codificações dos textos-vivências pela objeto-autora principal, posteriormente validados pelos orientadores. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional da universidade na qual a objeto-autora realiza o doutoramento.
Resultados
A notificação apresentava a objeto-autora como sendo uma pessoa heterossexual e cisgênero, além de não apontar motivação para a violência. A análise do documento fez emergir a categoria “Todos os dias há violência”: pesquisar violência não havia passado na minha mente quando eu tive meu primeiro pensamento suicida. Revejo agora toda a minha trajetória, sem pensamentos. Mas há violência. A existência LGBT é limitada a não ser estatística. Mas nem estatística temos permissão de ser. A experiência de dupla violência (autoprovocada e estrutural) deu origem à tese da objeto-autora, que busca identificar a violência e mortalidade de pessoas LGBT no Estado do Paraná por meio de notificações.
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou a extensa carga de violência experienciada por pessoas LGBT no processo de formação enquanto ser e enquanto pesquisar. O suicídio nesta população retoma o pensamento de que deve haver uma correção para o comportamento desviante do padrão: a cura gay que obriga as pessoas LGBT a findarem suas vidas e as condena a uma eternidade de sofrimento no inferno. A objeto-autora, contudo, se nega a ser apagada.
ENTRE O AFETO E A RESILIÊNCIA: A VISÃO DAS ACOMPANHANTES NO CUIDADO ONCOPEDIÁTRICO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 IMIP
2 FPS
Apresentação/Introdução
O cuidado em oncopediatria ultrapassa a dimensão biomédica integrando aspectos emocionais e sociais. No Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), a maioria das acompanhantes de pacientes oncológicos infantis são mulheres . Esse elemento ressalta a centralidade das mulheres no cuidado, confirmando a sobrecarga emocional e social (GLENN, 2000; TRONTO, 2013; 2015; BIROLI, 2015; 2016).
Objetivos
Geral
Compreender o cuidado a partir da narrativas das mulheres que acompanham pacientes oncológicos do IMIP
Específicos
Examinar a percepção das cuidadoras acerca do cuidado/ sofrimento.
Analisar perfil das acompanhantes
Metodologia
Esta pesquisa qualitativa explora o cuidado como prática socialmente construída, atravessada por gênero, classe e raça. As cuidadoras de crianças no IMIP serão entrevistadas via narrativa, método que permite acessar memórias e afetos. Com base na epistemologia de González Rey, a análise seguirá Bardin, categorizando temas como trabalho e subjetividade. Busca-se dar visibilidade às cuidadoras e suas experiências.
Resultados
A pesquisa está na fase preparatória. Apesar de os dados não terem sido coletados, tem-se como pressuposto a invisibilidade social dessas mulheres. O cuidado é frequentemente naturalizado como uma “obrigação feminina”, o que contribui para que as cuidadoras fiquem à margem de direitos trabalhistas, políticas de apoio e redes de proteção social. Essa situação gera implicações subjetivas, como sentimento de culpa, sobrecarga, solidão e insegurança quanto ao futuro.
Conclusões/Considerações
Apontamos algumas conclusões preliminares baseadas na fundamentação teórica e observação inicial do campo. Acompanhantes dessas crianças são invisibilizadas, assumindo o papel de cuidadoras em detrimento de suas vidas sociais. O cuidado, naturalizado como feminino, reforça desigualdades e a falta de políticas de suporte. O estudo busca dar visibilidade e incentivar medidas institucionais de acolhimento e apoio.
ADOLESCENTES LGBTQIAPN+: COMO TEMOS SIDO DESAFIADOS A NOS IN MUNDIZAR DE SEUS MUNDOS
Pôster Eletrônico
1 UFMG
2 Prefeitura de Contagem/MG
3 IFSC
Apresentação/Introdução
Este texto integra registros cartográficos de uma pesquisa multicêntrica, financiada pelo CNPq, denominada “Práticas e Saberes que vêm das margens: encontros e desencontros com a atenção e a formação em saúde”. Aborda aprendizados realizados junto a adolescentes LGBTQIAPN+ que têm contribuído para reflexões acerca de mundos instituintes e de barreiras de acesso ao cuidado em saúde no SUS.
Objetivos
Analisar a produção de saberes e práticas de cuidado com adolescentes LGBTQIAPN+, analisando como as equipes de saúde e os processos formativos para o SUS (des)reconhecem e (des)legitimam tais saberes, práticas e existências.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa caracterizada pela atuação central dos sujeitos nos territórios e pela reflexão acerca de suas práticas e saberes.
Contagem/MG foi eleita como um dos campos da pesquisa, que ocorre nas 5 regiões do Brasil, a partir de um levantamento de pesquisadores da UFMG sobre adolescentes LGBTQIAPN+ que têm chegado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS/Contagem em estado grave, muitas vezes tendo atentado contra a própria vida.
A imersão dos pesquisadores no campo, com registro em diário de campo, entrevistas e rodas de conversa, é entrelaçada às experiências vividas por esses sujeitos em situação de vulnerabilidade e compiladas em um exercício cartográfico coletivo.
Resultados
A chegada dos adolescentes nos serviços da RAPS de Contagem tem sido em momentos críticos que, em muitos casos, já se arrastam por dias ou meses. A maioria não tinha acessado e/ou sido acolhidos por algum outro serviço da rede de saúde.
Na escola, sem vínculo com a unidade básica de saúde, aparecem repetições de sofrimentos em estudantes que se isolam; atitudes violentas contra adolescentes LGBTQIAPN+ por parte de pais, outros adolescentes e trabalhadores da educação; mas também movimentos de resistência entre adolescentes com transformações nos modos de se apresentar no mundo. Eles expõem a força do coletivo diante de seus sofrimentos, reunindo-se para demarcar o território com arte.
Conclusões/Considerações
Múltiplas violências estão relacionadas à gravidade das situações dos adolescentes LGBTQIAPN+ que chegam aos serviços do SUS/Contagem. O exercício cartográfico, ao criar olhares para as situações vivenciadas, tem contribuído para mostrar sistemas de dominação e relações interseccionais de poder que afetam as vidas desses adolescentes. Além disso, tem sido delineados vínculos de proteção para suas vidas e articulações de saberes (re)xistentes.
O CUIDADO AO COMPORTAMENTO SUICIDA DE HOMENS HOMOSSEXUAIS EM SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 Famema
Apresentação/Introdução
Dentre as inúmeras manifestações do sofrimento na atualidade, o suicídio vem acompanhado de diversos fatores de risco. Nesse sentido, considerando a determinação do processo de saúde-doença, parte-se do pressuposto de que esse fenômeno é mais prevalente entre homens homossexuais devido ao histórico de violência e vulnerabilidade dos grupos de sexualidades dissidentes.
Objetivos
Investigar como é o cuidado de profissionais da RAPS para homens homossexuais com comportamento suicida, compreendendo noções de saúde mental, o processo de trabalho e se há oportunidades para qualificação diante desta demanda.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo, com pergunta de pesquisa “como o cuidado a homens gays e ao fenômeno do suicídio está apresentado dentro do contexto da RAPS?”. A busca foi realizada nas bases LILACS, Scielo, Web of Science, Medline, Scopus, Index Psicologia, Google Acadêmico e Biblioteca Digital Brasileiras de Teses e Dissertações. Foram incluídos artigos sobre o cuidado profissional na RAPS em português e inglês sem limite temporal. Dos 1348 registros, 121 foram incluídos após a leitura de títulos e resumos. Conforme análise completa dos textos, restaram 17 estudos que foram incluídos na revisão.
Resultados
A partir das categorias iniciais, observou-se que o registro mais antigo data de 2016 e o mais recente de 2024. Analisando os conteúdos, destacaram-se temas na literatura: saúde-doença no cuidado a homens gays e comportamento suicida na RAPS; políticas de saúde nesse contexto; experiência dos profissionais do SUS com homens gays; suicídio na RAPS sob a ótica dos profissionais. O cuidado deveria incluir apoio à saúde mental, combate à discriminação e intervenções para populações vulneráveis em risco de suicídio, mas enfrenta obstáculos devido a estigmas, falta de formação adequada e sobrecarga de trabalho, levando à subnotificação do comportamento suicida.
Conclusões/Considerações
O suicídio entre homens gays deve ser abordado integralmente no SUS. A RAPS foca em atenção humanizada e formação contínua, como definido na Portaria nº 3.088, visando combater estigmas e pensar um cuidado específico. Para isso, é essencial aprimorar e formar profissionais da rede, repensar processos de trabalho e oferecer supervisão clínica, cabendo à gestão municipal prover meios para a instrumentalização dos trabalhadores.
PERFIL DE ACESSO À PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PREP) AO HIV EM RECIFE-PE (2018–2024)
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 FIOCRUZ PERNAMBUCO
3 UNINASSAU
Apresentação/Introdução
A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV é uma estratégia biomédica crucial na prevenção combinada. Incorporada ao SUS em 2017, sua expansão visa ampliar o acesso e promover equidade. Este estudo analisa a implementação da PrEP em Recife-PE, identificando desafios e desigualdades no acesso.
Objetivos
Avaliar o perfil de acesso e da oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV na cidade do Recife-PE, entre 2018 e 2024.
Metodologia
Estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo, com dados secundários do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom) sobre usuários e dispensações de PrEP em Recife (janeiro/2018-dezembro/2024). A população incluiu todos os iniciantes de PrEP no período. Analisaram-se variáveis sociodemográficas, de vulnerabilidade, dispensação, tipo e localização de serviços, e perfil de prescritores. Utilizou-se estatística descritiva, taxas de crescimento (TCA, TCMA) e de descontinuidade. Dispensado de Comitê de Ética (dados públicos anonimizados).
Resultados
Houve crescimento de usuários de PrEP de 115 (2018) para 1.972 (2024), com TCMA de 64,48%. O acesso foi desigual: dispensação concentrada (>95%) em serviços especializados e centrais, com baixa integração com a Atenção Primária (<1%). Usuários com maior escolaridade tiveram maior adesão. Pessoas pardas (33%) e pretas (31%) apresentaram maiores taxas de descontinuidade; brancas/amarelas, a menor (27%). A participação de enfermeiros e farmacêuticos na prescrição aumentou a partir de 2022.
Conclusões/Considerações
A expansão da PrEP em Recife (2018-2024) foi significativa, mas limitada por barreiras estruturais e acesso desigual. A centralização da oferta em serviços especializados e áreas centrais, e a baixa participação da APS restringem o alcance. Persistem altas taxas de descontinuidade em grupos vulnerabilizados (jovens, negros, mulheres, pessoas trans/não binárias), indicando desafios interseccionais.
SEXUALIDADE DE ADULTOS MAIS VELHOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DADOS DA PNS 2019
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
Pouco se sabe sobre o exercício da sexualidade dos idosos, assunto ainda tratado como tabu. Estudos indicam que embora a atividade sexual permaneça entre adultos mais velhos, há queda na frequência e no uso de preservativos. Entender esses padrões é importante sobretudo diante do aumento da vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis (IST) e da invisibilidade da sexualidade na velhice.
Objetivos
Investigar o comportamento sexual e os padrões de uso de preservativos entre adultos brasileiros com 50 anos ou mais, segundo sexo e faixa etária.
Metodologia
Estudo transversal, com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2019). As associações entre faixas etárias (50–59, 60–74 e 75+) e ausência de atividade sexual, uso inconsistente de preservativo nos últimos 12 meses e orientação sexual foram avaliadas por regressões logísticas brutas e ajustadas (raça/cor, escolaridade, coabitação com companheiro/a, estado de saúde), estratificadas por sexo.
Resultados
A atividade sexual, o uso consistente de preservativo e a declaração de ser homo/bissexual decresceram com a idade. Entre homens, passaram de 90,7% (50-59 anos), para 29,9% (75 anos ou mais), 16,3% para 9,9% e 1,0 para 0,3%, respectivamente. Entre mulheres, esses percentuais caíram de 65,9% para 3,9%, de 14,5% para 5,0% e de 0,7% para 0,0%. Após ajustes, entre eles, a chance de inatividade sexual foi de 3,60 para aqueles de 60-74 anos e de 20,57 para 75 anos ou mais, a de uso inconsistente de preservativo de 1,37 e 2,05 e a de se declarar homo/bissexual, de 0,22 e 0,03, respectivamente. Entre as mulheres, essas chances foram de 4,59 e 34,37; 1,24 e 2,85; e 0,23 e 0,03, respectivamente.
Conclusões/Considerações
A idade avançada foi associada à redução da atividade sexual, ao menor uso de preservativos e à invisibilidade LGBT. Tais achados salientam a necessidade de políticas de saúde sexual para idosos, que valorizem sua sexualidade, encorajam práticas seguras e considerem a diversidade sexual em todas faixas etárias.
INSERÇÃO NOS CENÁRIOS DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS: ESTRANHAMENTOS E AFINIDADES
Pôster Eletrônico
1 UFPB
2 UPE
3 FIOCRUZ- Instituto Aggeu Magalhães
Apresentação/Introdução
O cotidiano das práticas dos profissionais de saúde as pessoas que vivem com HIV/AIDS demanda um aprofundamento além dos aspectos biomédicos, mas sociodemográficos, culturais e psicossociais. Portanto, é preciso compreender como ocorre o vínculo profissional no processo de inserção nas políticas públicas de enfrentamento ao HIV/Aids, considerando-se o referencial Teórico das Representações Sociais.
Objetivos
Analisar as representações sociais dos profissionais de saúde na inserção nos cenários de cuidado às pessoas que vivem com HIV/Aids.
Metodologia
Pesquisa qualitativa orientada pela abordagem processual da Teoria das Representações Sociais, com 30 profissionais de saúde que atuaram em um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dois Serviços de Assistência Especializada (SAE) entre julho a outubro de 2022, Recife-PE. Aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco (UPE) com parecer 5.372.046/2022. A coleta de dados ocorreu através de um questionário e uma entrevista semiestruturada. O perfil sociodemográfico foi apresentado em frequências absolutas no software Excel 2019, e os relatos dos profissionais de saúde foram analisados através da análise de conteúdo lexical, pelo software IRAMUTEQ versão 0.7 alpha 2.
Resultados
Quanto ao perfil, 80%(n=24) eram mulheres, 36%(n=11), idade entre 41 a 50 anos, médicos 26%(n=8), 36%(n=11) com mais de 21 anos de formação profissional e 60% (n=18) pós-graduação lato sensu. Já na Classificação Hierárquica Descendente apresentou 342 segmentos de textos, com 83,63% de aproveitamento, com os vocábulos: “HIV/Aids”, “começar”, “experiência”, “atender", “trabalhar" e afinidade. As narrativas revelaram como as RS foram atreladas a estigmas e preconceito, e as motivações, as experiências pessoais durante a prática, demonstrando a compreensão do cuidado como um ato/vínculo com significados compartilhados, reconhecendo o outro diante do enfrentamento ao HIV/Aids.
Conclusões/Considerações
Portanto, o cuidado em saúde emerge da interação entre profissionais e pacientes, e no caso do HIV/Aids, o trabalhar com uma população vulnerável, tem um impacto significativo tanto nos pacientes, quanto nos profissionais de saúde. As representações sociais na prática profissional compreende as necessidades e demandas singulares de cada paciente, bem como as crenças e valores que influenciam suas escolhas e comportamentos relacionados à saúde.
ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE JOVENS EM CONTEXTO DE POBREZA E VIOLÊNCIA: UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA NUMA FAVELA DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 ENSP/Fiocruz
2 IOC/Fiocruz
Apresentação/Introdução
O Brasil tem uma avançada legislação sobre os direitos sociais de adolescentes e jovens e iniciativas bem-sucedidas sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR) no âmbito governamental e não governamental. Mas, especialmente na gestão federal de 2019 a 2022, houve um desmonte de políticas nacionais sobre o tema outrora orientadas pelos direitos humanos; além precarização do SUS.
Objetivos
O estudo analisa as ações de SSR em um serviço de Atenção Primária à Saúde (APS), localizado em uma favela do Rio de Janeiro e as demandas e usos de jovens moradores em relação ao serviço.
Metodologia
A pesquisa, de caráter etnográfico, envolveu: 1) observação direta do cotidiano do serviço de saúde, por meio de visitas semanais ao serviço ao longo de seis meses, incluindo o acompanhamento de Visitas Domiciliares, de ações de vacinação em escolas do território e observação de reuniões de equipe e do grupo de Planejamento Familiar.; 2) entrevistas individuais semiestruturadas com membros da equipe profissional da APS observada; 3) conversas informais com jovens usuárias/os do serviço e moradoras/res do território. Os dados dos registros de campo e das entrevistas foram analisados através da Análise Temática.
Resultados
Segundo os achados, os homens jovens pouco frequentam o serviço; no caso das mulheres jovens, a demanda está centralizada na reprodução (contracepção e pré-natal). As ações de SSR se limitam a eventuais atividades em escolas da região e palestras rápidas sobre métodos preventivos disponíveis no SUS (preservativo, diafragma, DIU, anticoncepcional oral e injetável e laqueadura tubária), sem foco nos segmentos juvenis e nas suas demandas. As profilaxias pré-exposição e pós-exposição ao HIV não são citadas. Foi notório como a confluência da pobreza e de situações de violência no território conforma as trajetórias juvenis e impacta nas políticas de saúde locais.
Conclusões/Considerações
A despeito dos limites impostos pela realidade e dos entraves do atual conservadorismo sobre pautas relativas ao gênero, é preciso avançar no desenvolvimento de ações de prevenção e cuidado sobre sexualidade e reprodução para os segmentos juvenis. Recomenda-se a articulação com os demais dispositivos do território, tendo por base experiencias exitosas e as características socioeconômicas, políticas e culturais da localidade.
OS FAZERES DE PSICÓLOGAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM RELAÇÃO A VIOLÊNCIA SEXUAL: UM ESTUDO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
Apesar de compor as equipes multidisciplinares para o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual e do seu lugar já, consolidado, nas políticas de saúde, existe ainda uma lacuna na formação em psicologia que não fornece intrumentalização necessária para atuar com a temática da violência sexual, a partir de uma perspectiva de promoção dos direitos sexuais e reprodutivos.
Objetivos
Nesse trabalho apresentamos as reflexões tecidas na pesquisa que objetivou analisar o acompanhamento psicológico às sobreviventes de violência sexual na atenção primária de Belo Horizonte - MG, levando em consideração as suas especificidades.
Metodologia
A partir da abordagem metodológica de produção de narrativas foram entrevistadas 10 psicólogas trabalhadoras de diferentes serviços da rede de atenção à saúde, incluindo UBS; serviços substitutivos de saúde mental e maternidades. Às interlocutoras foram localizadas por teia indicações produzidas pela técnica da bola de neve e contatadas por meio de uma carta convite onde a pesquisa foi apresentada.
Resultados
As psicólogas da atenção primária apontaram para a pouca entrada dessas mulheres nos centros de saúde, mesmo em territórios de alta vulnerabilidade e mesmo com o fluxo na cidade que prevê o seguimento do acompanhamento, inclusive, o psicológico após o atendimento ambulatorial, nestes equipamentos. Os resultados suscitaram um vazio que culminou em proposta de continuidade da pesquisa, agora na fase de doutoramento: afinal, por que vítimas de violência sexual não chegam na atenção primária? Ou ainda: por que as psicólogas que atuam na atenção primária não percebem, escutam, acolhem casos de violência sexual?
Conclusões/Considerações
Refletir acerca da atuação da psicologia na atenção primária é questionar qual modelo de atuação somos capazes de ofertar nas políticas de saúde, a mulheres em situação de violência, entendendo ser necessário fugir da divisão mente x corpo e que o cuidado deve ser integral. Além do mais, o contexto de Belo Horizonte, com duas psicólogas no mesmo centro de saúde, pode ser uma potencialidade ou um limite para o acompanhamento deste público?
SAÚDE E TERRITORIALIDADES: ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE SUJEITOS LGBTS EM CONTEXTOS URBANOS
Pôster Eletrônico
1 UFMT
Apresentação/Introdução
A partir de uma discussão sobre os conceitos de território na Saúde Coletiva e na Antropologia, buscamos pensar como este diálogo pode ser útil para gestores e planejadores de políticas públicas. Os dados etnográficos se referem a itinerários terapêuticos LGBTs, que desafiam a saúde pública e seu processo de territorialização, voltado ao planejamento das redes de atenção e promoção à saúde.
Objetivos
Descrever e analisar itinerários terapêuticos da população LGBT de Cuiabá para mostrar que pensar em territorialidades significa ir além dos números e dos objetos físicos e considerar também os fluxos dos sujeitos na produção desses territórios.
Metodologia
As pesquisas foram feitas a partir de entrevistas focadas em narrativas de vida e formulários com perguntas abertas na internet, contando também com a observação participante em espaços de debate entre academia e movimentos sociais LGBTs. Todos estes procedimentos de pesquisa estão balizados pelo método etnográfico, em que se parte da premissa que as percepções que os sujeitos constroem dos serviços de saúde se constituem como uma forma de avaliação dos mesmos e de mensuração de seus limites. A pesquisa também se baseia nos aportes teóricos metodológicos da Antropologia Urbana e da Antropologia da Saúde, em que se privilegia escutar e, sempre que possível, andar/caminhar com os sujeitos.
Resultados
Nos relatos, é muito comum adiar a busca de cuidados, evitando assim os postos de saúde, onde situações de preconceito e despreparo de profissionais parecem ser mais frequentes. Outros buscam atendimento do SAE, onde os profissionais parecem ter um pouco mais trato positivo, pela especialização em atendimento a pessoas que vivem com HIV/Aids. A população trans, por exemplo, quando fala em ambulatório, no caso de Mato Grosso, tem defendido que ele não se restrinja aos atendimentos do processo transexualizador e possa também oferecer consultas de clínicos gerais, uma vez que relatam com frequência o desrespeito ao direito de uso do nome social, com situações vexatórias de transfobia explícita.
Conclusões/Considerações
O atendimento universal preconizado pelo SUS não parece funcionar na prática. As narrativas sobre itinerários terapêuticos LGBTs apontam para territorialidades que não são previstas pelos gestores de saúde e se produzem na ausência das políticas. As etnografias sobre territorialidades podem favorecer a pesquisa e o trabalho em Saúde Coletiva, através dessas experiências de território que o mostram mais dinâmico, menos previsível e mais concreto.
VIOLÊNCIA DE GÊNERO E PRÁTICAS EM SAÚDE: O LETRAMENTO DO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
Esta pesquisa analisa se os currículos dos cursos de Medicina das melhores universidades brasileiras cumprem o artigo 8º, IX da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que prevê a inclusão de conteúdos sobre direitos humanos, equidade de gênero, raça e enfrentamento da violência contra a mulher.
Objetivos
Geral: analisar se a violência de gênero está nos currículos de Medicina das cinco principais universidades do país.
Específicos: identificar a presença do tema, descrever como é tratado e avaliar se essa diretriz legal é implementada na formação superior.
Metodologia
Trata-se de pesquisa é documental com abordagem qualitativa, na análise dos Projetos Pedagógicos (PP) dos cursos de Medicina das cinco universidades brasileiras melhor classificadas nos rankings THE WUR, Scimago e QS. Realizamos a busca dos dados nos sites institucionais das IES, localizando PP, disciplinas, ementas e fluxogramas. A análise utilizou a identificação dos descritores “mulher”, “violência”, “gênero”, “sociedade” e “comunidade”, para a seleção dos documentos. Após a leitura avaliamos sua presença nos currículos, no sentido de preparar os profissionais para as políticas públicas no enfrentamento deste grave problema de saúde pública.
Resultados
A pesquisa avaliou os cursos de Medicina da USP, Unesp, UFRJ, Unicamp e UFMG. Na USP, há cinco disciplinas, sendo uma sobre violência, gênero e saúde (eletiva) e uma obrigatória que aborda violência na Atenção Primária à Saúde (APS). Na UFMG, há duas, com foco em fisiologia e violência sexual. Na Unicamp, oito, destacando Medicina Legal (impacto da violência) e Ética (raízes socioculturais da violência). Na UFRJ, doze, com uma disciplina sobre violência contra crianças e adolescentes e eletivas que tratam de violência, opressão e suas intersecções com a saúde. Na Unesp, oito, sendo uma obrigatória sobre violência e gênero e uma eletiva, focada na saúde da mulher negra e violências estruturais.
Conclusões/Considerações
Os achados até o momento revelam que, o tema aparece de forma esparsa, fragmentada e, frequentemente, como conteúdo eletivo, o que evidencia um descumprimento parcial da Lei 11.340/2006. Um dos limites deste estudo é a restrição à apenas uma profissão da área da saúde, que se justifica por ser uma das mais antigas. Por ser um problema altamente prevalente no Brasil deveria haver maior compromisso das instituições na formação profissional.
GÊNERO E TENDÊNCIAS DA IDADE DE INICIAÇÃO SEXUAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE POR COORTES DE NASCIMENTO COM DADOS DA PNS 2019
Pôster Eletrônico
1 FSP/USP
2 FM/UFMG
Apresentação/Introdução
A idade na iniciação sexual tem sido utilizada como preditor para desfechos negativos relacionados à saúde, como ocorrência de gestações imprevistas e exposição ao risco de contrair IST. No entanto, ela também funciona como um indicador para avaliar mudanças macrossociais em termos de moralidade sexual e costumes, e para incidir no debate sobre políticas públicas da educação e da saúde.
Objetivos
Descrever a idade média de iniciação sexual (IS) no Brasil e investigar sua associação com a coorte de nascimento, analisando a relação segundo gênero, escolaridade, região do país e interior vs. capital.
Metodologia
Estudo transversal, com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019. Foram incluídos 69.331 participantes maiores de 18 anos, que responderam sobre idade na iniciação sexual (IS). A variável explicativa principal foi a coorte de nascimento, agrupada em intervalos de cinco anos. A idade média da IS foi estimada por coorte etária, para homens e mulheres, utilizando modelos de regressão linear robusta. A associação entre a coorte de nascimento e a idade de iniciação sexual foi investigada utilizando modelos de regressão linear robusta, incluindo termo de interação entre coorte de nascimento e gênero. Idem para subgrupos de escolaridade, região do país e interior/capital.
Resultados
A média de idade da IS foi de 16,1 anos entre os homens (IC95%: 16,0–16,2) e de 17,7 anos (IC95%: 17,6–17,7) entre as mulheres. Entre eles, a média caiu de 17,5 anos (nascidos até 1939) para 15,3 anos (2000–2001), e entre elas, de 19,4 para 15,0 anos. Mulheres com maior escolaridade tendem a iniciar a vida sexual mais tardiamente. Há convergência de idade de IS entre os gêneros, para alta e baixa escolaridade, nas coortes nascidas a partir de 1980. A convergência foi observada de forma mais precoce no Sul (coorte de 80–84) e Sudeste (90–94) em relação às demais regiões (95–99). Mulheres residentes em capitais também apresentaram idades médias de IS mais elevadas em comparação às do interior.
Conclusões/Considerações
Diversos fenômenos do campo da saúde estão relacionados à organização social da sexualidade segundo contextos e épocas. É inequívoca a redução na diferença de idade de IS de homens e mulheres. No entanto, ela se processou de forma desigual em diferentes contextos (como os marcados pelas diferenças de escolaridade, de região do país e de capital/interior).
PADRÕES DE DISCRIMINAÇÃO EXPLICITADOS EM ADOLESCENTES DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO BRASIL: ANÁLISE INTERSECCIONAL ENTRE IDADE, GÊNERO E RAÇA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal da Bahia - UFBA
2 Instituto Gonçalo Moniz - FIOCRUZ
3 Simon Fraser University - SFU
4 Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
5 Universidade de São Paulo - USP
Apresentação/Introdução
A discriminação gera, mantém e reproduz injustiças sociais e de saúde. Experiências discriminatórias podem ter início ainda na adolescência e provocar efeitos duradouros ao longo da vida, como aumento do estresse, ansiedade, depressão e restrições no acesso a trabalho, educação e saúde. Compreender os impactos da discriminação vivenciada na adolescência é crucial para mitigar seus efeitos.
Objetivos
Investigar padrões de discriminação explicitados entre adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos que expressam identidades sexuais e de gênero não hegemônicas.
Metodologia
Foram utilizados dados da linha de base da coorte PrEP15-19 Escolhas. A amostra foi composta por 498 homens cis que fazem sexo com homens (HSH), travestis, mulheres e homens trans (TrMHT) de 15 e 19 anos. Entre outubro/2024 e janeiro/2025, foi administrada a Escala de Discriminação Explicita entre os participantes para investigar 18 situações de discriminação sofridas nos últimos 6 meses, incluindo aquelas ocorridas no âmbito: da família, da escola, do trabalho e dos serviços de saúde. Foi realizada a análise de classes latentes (ACL) com covariáveis para identificar os padrões de discriminação associados ao entrecruzamentos de gênero, raça e idade.
Resultados
Do total de participantes, 83,3% eram HSH, 71,7% tinham entre 15-17 anos e 75,1% se classificaram como pretos ou pardos. A ACL revelou 3 classes de respondentes: a 1ª classe (n=257) incluiu indivíduos com as menores probabilidades para explicitar discriminações; a 2ª (n=163) foi composta por sujeitos com probabilidades intermediarias para explicitar de discriminação; e a 3ª (n=78) incluiu respondentes com alta probabilidade para explicitar discriminação, inclusive em serviços ou por profissionais da saúde. A probabilidade de pertencimento à classe 2 foi maior entre TrMHT brancos de 15 a 17 anos; o pertencimento à classe 3 foi maior entre TrMHT negros de 15 a 17 anos.
Conclusões/Considerações
Adolescentes trans, negros e mais jovens tiveram maior probabilidade de relatar alta discriminação, especialmente nos serviços de saúde. Esses achados reforçam a importância de adotar uma perspectiva interseccional nas intervenções contra injustiças sociais, bem como a urgência de ações antitransfóbicas e antirracistas e da qualificação contínua de profissionais e serviços para a oferta de um cuidado livre de discriminação e transfobia.
EXPERIÊNCIAS ADVERSAS NA INFÂNCIA E ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER: RESULTADOS DO ELSA-BRASIL.
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 FPCEUP
3 Fiocruz
Apresentação/Introdução
As experiências adversas na infância (EAI) têm impacto no curso de vida, pelas repercussões no nível psicológico e físico. As EAI estão associadas à inatividade física, bem como, alto consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada e menos horas de sono que contribuem para um estilo de vida menos saudável na idade adulta.
Objetivos
Estimar a prevalência das experiências adversas na infância e a sua associação com a atividade física no lazer, entre os participantes do ELSA-Brasil.
Metodologia
Estudo transversal, realizado com dados da terceira etapa do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). Para avaliar as EAI foram aplicadas o questionário de experiências adversas na infância e para o desfecho o questionário de atividade física (IPAQ). Se calculou frequências absolutas e relativas para caracterização da amostra, χ² de Pearson para verificar as associações entre adversidade e atividade física estratificado por sexo. As análises foram realizadas com STATA 17.
Resultados
Dos 11,762 indivíduos analisados, idade média de 59,4 anos e 55,51% foram mulheres. O 54,1% de homens e 49,9% de mulheres tiveram EAI. Negros e pardos, nível funcional técnico administrativo e apoio apresentaram maiores proporções de EAI. Na análise estratificada por sexo verificou-se maior chance de prática de atividade física leve no lazer nas mulheres, quando vivenciado experiências adversas na infância (OR 1,18; IC 95% 1,06-1,32) em relação aos homens (OR 1,12; IC 95% 1,00-1,25).
Conclusões/Considerações
Neste estudo foi possível observar que mulheres expostas a experiências adversas na infância praticam atividade física de menor intensidade na vida adulta.
PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE LGBTQIAPN+ SOBRE OS SERVIÇOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC
Pôster Eletrônico
1 IFSC
Apresentação/Introdução
O Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir que em todos os níveis de complexidade as ações e serviços de saúde aconteçam sem preconceito ou discriminação. Mesmo com avanços na garantia de seus direitos, a população LGBTQIAPN+ enfrenta adversidades na garantia da assistência à saúde humanizada e vivencia o processo de saúde-doença de forma diferenciada em comparação a outros grupos sociais.
Objetivos
Descrever a percepção da comunidade LGBTQIAPN+ em relação à assistência oferecida pelos serviços públicos de saúde de Joinville/SC, verificando serviços utilizados, dificuldades encontradas para garantir a inclusão e sugestões de melhoria.
Metodologia
Trata-se de pesquisa do tipo survey, aprovada pelo CEP do IFSC (parecer no 6.261.288), realizada em 2023/2. A população foi composta por pessoas LGBTQIAPN+ usuárias da rede pública de saúde de Joinville/SC, residentes no município, maiores de 18 anos. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário próprio, elaborado com base em pesquisas anteriores de outros autores, com 30 perguntas entre abertas e fechadas, disponibilizado no aplicativo Google Forms. A população foi sensibilizada a participar da pesquisa por meios virtuais (redes sociais, aplicativos de mensagem e e-mail). Foram obtidas 112 respostas. Para a análise dos dados utilizou-se estatística descritiva e análise de conteúdo.
Resultados
A amostra foi maioritariamente composta por mulheres cisgênero (45,5%), homossexuais (50,8%), com idade entre 18 e 29 anos (51,7%), solteiro(a/e) (60,7%). Os serviços mais utilizados são UBS (41%), UPA (35,1%), hospital (16,4%) e CAPS (5,77%). Em geral, os participantes estão satisfeitos com os serviços prestados. Relatos de ações discriminatórias, apesar de pouco frequentes, foram mais alarmantes com usuários trans, os quais compuseram 9,8% da amostra. Barreiras ao acesso e à oferta de serviços envolvem: acolhimento, humanização, qualificação profissional, hormonioterapia, atenção à saúde da população trans, divulgação da Política Nacional da Saúde Integral LGBT e educação em saúde.
Conclusões/Considerações
Houve dificuldade para acessar e sensibilizar os membros da comunidade LGBTQIAPN+ a participar da pesquisa, principalmente pessoas trans, cuja causa perpassa aspectos como exclusão, preconceito e ausência de articulação social no município de Joinville/SC. Sugere-se que outras pesquisas avaliem o conhecimento e a percepção dos profissionais da saúde e gestores sobre a temática LGBTQIAPN+ de forma a favorecer o debate e promover a inclusão no SUS.
A PREP COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO E DE DIREITOS HUMANOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
Apresentação/Introdução
Ao tomar a PrEP ao HIV como dispositivo pedagógico de prevenção, objetiva-se compreender como o funcionamento da estratégia pode produzir significados e influir sobre as experiências de cuidado ao HIV e para sexualidade entre as juventudes. O presente relato de pesquisa é fruto de pesquisa de doutorado em Educação na UFRGS, que utilizou dados qualitativos do estudo PrEP1519.
Objetivos
A pesquisa investigou como o acesso à PrEP funciona como dispositivo pedagógico para viabilizar ao cuidado ao HIV/IST e direitos humanos para adolescentes e jovens. A categoria "dispositivo", de Michel Foucault, foi central na investigação.
Metodologia
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que analisou entrevistas em profundidade realizadas por meio de questionário semiestruturado, no âmbito do estudo maior PrEP1519. O estudo maior investigou estratégias de captação e vinculação para o HIV entre jovens de três cidades brasileiras. Para a tese, com recorte sobre o acesso como dispositivo pedagógico, foram analisadas 25 entrevistas, com adolescentes e jovens com idade entre 17 e 20 anos completos. O público-alvo abrangeu gays, lésbicas, bissexuais e pansexuais, de identidade travesti, não-binária, cis e trans. O recorte para a tese abrangeu somente entrevistas realizadas em São Paulo, Brasil.
Resultados
Constatou-se: 1. A diversidade de contextos sociais, familiares e escolares influencia as percepções sobre ser/estar jovem e as dinâmicas e experiências de cuidado ao HIV. 2. A figura do educador de pares contribuiu para facilitar a disponibilidade da PrEP. 3. A preocupação das juventudes com seus pares, contribui para multiplicar o conhecimento da PrEP. 4. Percepção da importância da PrEP para o autocuidado, mas, também, certa indiferença em relação ao uso. 5. As percepções em relação às perspectivas de futuro sobre diferentes esferas da vida, incluindo o cuidado, é influenciada pelo contexto e demonstra resistências às violências estruturais e vulnerabilidades programáticas.
Conclusões/Considerações
O acesso à PrEP opera como dispositivo pedagógico, na medida em que opera sobre a gestão do cuidado ao HIV e provoca a percepção de segurança em relação ao HIV/IST, e vínculo com os serviços públicos de saúde, contribuindo para o direito à saúde das juventudes. Todavia, há certa indiferença quanto ao acesso. A amizade entre as juventudes e o papel da escola surgem como elementos que contribuem para o conhecimento sobre prevenção ao HIV.
VIOLÊNCIAS E ASSÉDIOS NAS EXPERIÊNCIAS AFETIVO-SEXUAIS DE JOVENS EM SÃO PAULO E CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Pôster Eletrônico
1 UNLP/CONICET
2 UFMG
3 USP
Apresentação/Introdução
As experiências afetivo-sexuais na juventude são atravessadas por relações de poder que geram desigualdades de classe, gênero e raça. A vida sexual costuma ser marcada tanto pela descoberta de experiências prazerosas no âmbito da sexualidade quanto pela presença de violências naturalizadas. Por isso, consideramos fundamental investigar como os/as jovens vivenciam essas formas de violência.
Objetivos
Identificar as modalidades e expressões de assédio e violência sexual reconhecidas pors jovens, entre 16 e 24 anos, em suas experiências afetivo-sexuais nas cidades de São Paulo e Conceição do Mato Dentro.
Metodologia
Trata-se de um estudo socioantropológico qualitativo e biográfico, realizado no âmbito do projeto “Jovens da era digital: sexualidade, reprodução, redes sociais e prevenção das IST/Aids”, que trabalhou com jovens de diferentes regiões do país. Neste recorte temático são utilizadasi entrevistas em profundidade com 58 jovens cisgênero de 16 a 24 anos (41 em São Paulo – 21 mulheres e 20 homens – e 17 em Conceição do Mato Dentro – 9 mulheres e 8 homens). Foi feita uma análise temática comparativa entre as localidades.
Resultados
Os/as jovens reconhecem diferentes formas de assédio ou violência sexual, que variam conforme a identidade de gênero e a orientação sexual. Homens heterossexuais raramente relatam essas experiências como problemáticas, exceto o assédio de homens mais velhos, geralmente não percebido como abusivo. Já mulheres heterossexuais e homens homossexuais referem assédios frequentes nas redes e em espaços públicos, o que pode limitar vínculos afetivos. O conhecimento de casos próximos de exposição não consentida de fotos íntimas pode obstaculizar o uso de ferramentas digitais em experiências afetivo-sexuais para mulheres.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam que as violências e assédios sexuais vivenciados pelos/as jovens são atravessados por desigualdades de gênero e orientação sexual. Essas experiências diferem, limitando a exploração da sexualidade e dos vínculos afetivos, sobretudo entre mulheres e homens homossexuais. Visibilizar essas violências é fundamental para orientar programas que coloquem as vozes dos/as jovens no centro das políticas de saúde.
LETALIDADE HOSPITALAR POR ABORTO LEGAL COMPARADA A OUTROS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS NO SUS, ENTRE 2000 E 2015
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
O aborto seguro é prática prioritária em saúde reprodutiva, pois previne mortes
evitáveis. Em contextos de acesso amplo, como nos EUA (1998-2005), a letalidade foi
14 vezes maior em partos do que em abortos legais (8,8/100 mil NV e 0,6/100 mil
abortos, respectivamente). No Brasil, onde o aborto é legal apenas em casos de estupro,
risco à vida e anencefalia, não há dados sobre essa letalidade.
Objetivos
Descrever a letalidade hospitalar em abortos legais, outros abortos e partos no SUS (2000-2015) e analisar fatores sociodemográficos e clínicos relacionados ao óbito materno após aborto legal.
Metodologia
Coorte retrospectiva com dados da Base Nacional de Saúde, incluindo mulheres de 10 a 49 anos com registros de parto ou aborto no SUS (2000-2015), seguidas até 42 dias após o evento. O desfecho foi óbito materno. Incluíram-se 22.958.241 mulheres, com registro de 26.860 abortos legais, 3.305.868 outros abortos e 29.750.872 partos. As variáveis independentes foram tipo de procedimento, faixa etária, raça/cor, região e histórico das gestações prévias. Realizaram-se análises descritivas, com testes exato de Fisher (variáveis dicotômicas) e Qui-quadrado com simulação de Monte Carlo (B=100.000) para variáveis politômicas, adotando p<0,25 como critério conservador para avaliação descritiva.
Resultados
Ocorreram 11 óbitos pós abortos legais, 446 pós outros abortos e 6.124 pós partos, com letalidades respectivas de 46,2, 14,7 e 20,6 por 100 mil (p<0,05). Entre abortos legais, a letalidade foi mais elevada em mulheres pretas (587,1/100 mil) em comparação a pardas (54,9/100 mil) e brancas (26,5/100 mil); em multíparas (89,4/100 mil) em relação a nulíparas (29,3/100 mil); e após parto/cesariana (371,1/100 mil) comparado a curetagem/AMIU (35,7/100.mil).
Conclusões/Considerações
A maior letalidade por aborto legal, contrastando com evidências internacionais, sugere barreiras institucionais e fragilidades no cuidado. A letalidade mais elevada entre mulheres pretas evidencia desigualdades raciais na atenção. Aborto feito por meio de parto/cesariana, sugere acesso tardio ao procedimento e, entre multíparas, maior risco clínico. Ampliar e facilitar o
acesso ao aborto legal pode reduzir sua letalidade.
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ EM SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA
Pôster Eletrônico
1 UNESP
Apresentação/Introdução
A marginalização sócio-histórica da população LGBTQIAPN+ é um marco da sociedade brasileira. Mesmo com avanços, ainda é possível observar entraves no acesso e na qualidade da saúde na Atenção Primária de tal grupo social. Faz-se necessário a análise dos reflexos sociais nos conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais da saúde em relação ao atendimento das pessoas LGBTQIAPN+.
Objetivos
Avaliar conhecimentos, crenças, atitudes e práticas de profissionais de serviços de Atenção Primária à Saúde na atenção a pessoas LGBTQIAPN+.
Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório, tipo estudo de caso múltiplo coletivo. A pesquisa foi desenvolvida por meio de um formulário na forma física ou por Google Forms, com 28 afirmações acerca de conhecimentos, crenças, atitudes e práticas de profissionais de serviços de atenção primária, em relação à população LGBTQIAPN+, avaliadas por meio de uma Escala Likert de 5 pontos sobre as afirmativas. Os formulários foram aplicados em todas as Unidades Básicas de Saúde de um município do interior paulista. Os dados são apresentados inicialmente de modo descritivo, realizando-se a seguir a média das concordâncias para se obter o valor do grau de assentimento de cada afirmativa.
Resultados
Obtiveram-se 126 respostas de trabalhadores de 24 unidades básicas, incluindo médicos (21,4%), enfermeiros (11,9%), técnicos de enfermagem (7,9%), agentes comunitários de saúde (5,5%), profissionais de apoio (39,5%) e outros profissionais de nível superior (13,4%); 63% têm menos de 40 anos, 19% católicos e 13% evangélicos. Destaca-se que 42% dos profissionais concordam ou não concordam nem discordam que a homossexualidade deteriora valores morais, sendo 32% com escolaridade de nível médio e 11% de nível superior. A maioria (65%) reconhece que a violência de gênero e o preconceito constituem barreiras de acesso aos serviços de saúde. O uso do nome social é reconhecido pela maioria (74%).
Conclusões/Considerações
O cruzamento das informações apontou que as variáveis religião, função na unidade e idade influenciam nas respostas relacionadas à população LGBTQIAPN+. Aponta-se a necessidade de ampliar os espaços de debate e educação permanente para dirimir preconceitos e ampliar o conhecimento de modo a garantir acesso e atenção integral à saúde das pessoas LGBTQIAPN+.
IMPACTOS DA PESQUISA SOBRE COVID-19 E INTERSEÇÃO DE SEXO, GÊNERO E RAÇA NO BRASIL, 2020-2021
Pôster Eletrônico
1 HUB-UnB
2 UnB
Apresentação/Introdução
Demonstrar o retorno dos investimentos em pesquisa torna-se fundamental para a legitimação da ciência nas sociedades. Este estudo analisa o impacto dos resultados das pesquisas sobre covid-19 que incorporaram sexo, gênero e raça/etnia financiadas por órgãos governamentais e agências de fomento a pesquisa, entre 2020 e 2021, no Brasil.
Objetivos
Avaliar o impacto dos resultados das pesquisas sobre covid-19 que incluíram sexo, gênero e raça/etnia, considerando as dimensões avanços no conhecimento e capacidades de pesquisa.
Metodologia
Adotou-se a Matriz de avaliação da pesquisa em saúde, desenvolvida pela Academia Canadense de Ciências da Saúde. Foram analisadas as dimensões: a. avanços no conhecimento (número e tipo de publicações, fator de impacto do periódico, citações e participação em eventos); e b. capacidades de pesquisa (formação de estudantes nas equipes). Entre nov/2024 a jan/2025, foram mapeados os resultados produzidos por 61 pesquisas que incorporaram sexo, gênero e raça/etnia, no currículo Lattes das(os) coordenadoras(es), a partir da base de dados do projeto “Covid-19: Análise do financiamento à investigação e elaboração de uma agenda de prioridades de pesquisa no Brasil”, do qual este estudo faz parte.
Resultados
Foram identificadas 340 publicações de 54 pesquisas (89%), principalmente artigos científicos (62%) e resumos em anais (12%). A maioria dos artigos (76%) foi publicado entre 2 a 3 anos após início dos estudos em 2020, destaca-se 2023 (33%) e periódicos internacionais (70%) com fator de impacto superior a 3,0 (52%). O número de artigos publicados variou entre 1 a 13, em média 1,49 e mediana de 1 artigo. A média de citações por artigo foi 18,64. Em 46% dos projetos, os resultados foram divulgados em eventos, com ênfase em congressos (56%). Quanto às capacidades de pesquisa, 310 estudantes foram identificados em 46 projetos, com destaque para a iniciação científica (42%) e mestrado (28%).
Conclusões/Considerações
Os resultados revelam impactos importantes no avanço do conhecimento e capacidades de pesquisa. O predomínio de publicações em periódicos internacionais aponta reconhecimento acadêmico e qualidade. A divulgação em eventos e a formação de estudantes evidenciam esforços para promover os resultados e a capacidade científica do país. O sistema de ciência e tecnologia em saúde deve buscar mecanismos de comunicação com à sociedade e ao sistema de saúde.
TRABALHO DE CUIDADO NO BRASIL: DESIGUALDADES DE GÊNERO, RAÇA E OS LIMITES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS
Pôster Eletrônico
1 UFPE
Apresentação/Introdução
O trabalho de cuidado é essencial à reprodução social, mas é historicamente distribuído de forma desigual, sobrecarregando principalmente mulheres. Este estudo discute como as desigualdades de gênero e raça impactam o cuidado no Brasil, evidenciando a insuficiência das políticas públicas e os impactos na condição de vida de quem o exerce.
Objetivos
Compreender acerca as desigualdades de gênero e raça imbricadas no trabalho de cuidado, destacando os impactos na vida das cuidadoras e a insuficiência das políticas públicas brasileiras para enfrentar essas questões.
Metodologia
Foi utilizada a abordagem qualitativa, fundamentada na teoria da reprodução social dialeticamente reconstruída abrangendo questões de gênero e raça. Para tanto, recorremos a dados secundários de organismos internacionais, como a OIT, além de literatura acadêmica relevante. A análise considerou as relações entre trabalho reprodutivo, desigualdades estruturais e a ausência de políticas públicas efetivas no Brasil. O estudo buscou evidenciar os impactos sociais e de saúde resultantes da sobrecarga de cuidado.
Resultados
Os resultados apontam na direção de uma crise do cuidado, onde a distribuição desigual deste aprofunda desigualdades de gênero e raça, com maior sobrecarga para mulheres negras e de baixa renda. Evidenciou-se a relação direta entre a ausência de políticas públicas estruturantes e as repercussões ao bem-estar dos cuidadores. Também se destaca o papel secundário do Estado brasileiro na organização do cuidado, agravando os impactos sociais.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que o cuidado, essencial à vida social, segue invisibilizado e desvalorizado. A ausência de políticas públicas efetivas amplia desigualdades de gênero, raça e classe. Urge a implementação de políticas integradas e universais que reconheçam e valorizem o trabalho de cuidado.
O TEMPO DO CORPO E DA VOZ: ENVELHECIMENTO DE MULHERES NEGRAS EM MARGENS URBANAS
Pôster Eletrônico
1 UNIFOR
2 FATENE
3 WYDEN
Apresentação/Introdução
introdução
As experiências de envelhecimento entre mulheres negras e periféricas revelam práticas de resistência marcadas por memórias afetivas, desigualdades estruturais e vínculos comunitários. Este estudo parte do entendimento de que as vivências dessas mulheres constituem um patrimônio imaterial e político, capaz de ressignificar os modos de envelhecer em contextos historicamente marginalizados.
Objetivos
Objetivos
Compreender os desafios enfrentados por mulheres idosas, negras, nordestinas e periféricas no Brasil, destacando suas vivências de resistência, superação e produção de saberes em territórios vulnerabilizados.
Metodologia
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo baseado na metodologia da história oral temática (HOT), realizado com 10 mulheres idosas moradoras da Comunidade do Dendê – CE. Foram incluídas: mulheres idosas, autodeclaradas pretas, residentes da Comunidade a menos 10 anos e gozar de boa saúde mental. A coleta ocorreu entre março e abril de 2025. Foram realizadas entrevistas narrativas com foco em memória, preconceito, trabalho, fé, vínculos comunitários e trajetórias de vida. A análise interpretativa foi guiada por referenciais decoloniais, com atenção às intersecções entre gênero, raça, classe e território. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (6.589.670).
Resultados
Resultados
As narrativas revelaram trajetórias marcadas por pobreza, trabalho precoce, racismo, desigualdades de gênero e invisibilidade social persistente, compondo um retrato complexo das múltiplas formas de exclusão vivenciadas ao longo da vida. Em meio a esse cenário de precariedade, emergem vínculos potentes de solidariedade entre vizinhas, parentes e lideranças comunitárias, além de uma fé profundamente enraizada que atua como força de enfrentamento. A escuta dessas histórias gerou um acervo de experiências que desafiam os modelos hegemônicos de velhice e reafirmam identidades coletivas.
Conclusões/Considerações
Considerações finais
As vivências narradas por mulheres negras e periféricas apontam a urgência de políticas públicas que reconheçam os múltiplos modos de envelhecer no Brasil. A história oral mostrou-se ferramenta potente para valorizar saberes silenciados, promover justiça epistêmica e ampliar o reconhecimento das trajetórias de resistência e superação no envelhecimento popular.
OS SENTIDOS DA SEXUALIDADE NO PUERPÉRIO: A PERSPECTIVA DAS MULHERES
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A sexualidade é um direito humano fundamental influenciada por aspectos, psicológicos, biológicos, sociais e culturais nas diferentes fases do ciclo vital. Na gestação e no puerpério a sexualidade das mulheres ainda é culturalmente associada a mitos e fonte de dúvidas e angustias.
Objetivos
Os objetivos foram compreender os sentidos atribuídos a sexualidade, as orientações recebidas nos serviços de saúde e fontes de informação acessadas por mulheres que tiveram filhos nos últimos 12 meses.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa na qual foram realizadas dez entrevistas semi-dirigidas com mulheres que tiveram filhos nos últimos doze meses. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e seguiu todos os princípios preconizados para a pesquisa com seres humanos. As participantes foram recrutadas pelo método bola de neve. Das dez mulheres entrevistadas, sete possuíam ensino superior completo e três, ensino médio completo. Duas se autodeclararam brancas, sete pretas ou pardas e uma amarela. As idades variaram entre 21 e 40 anos. As entrevistas foram integralmente gravadas, transcritas, e submetidas a análise discursiva que consistiu na produção e interpretação mapas dialógicos.
Resultados
Os resultados indicam que as mulheres percebem transformações na sexualidade no período gestacional e puerperal. Na gestação, observaram tanto o aumento da libido quanto um período de estabilidade e de baixa da libido. No puerpério, a amamentação interfere nas vivências da sexualidade. Há associação entre falta de libido e aspectos psicossociais como cansaço, medo da dor e inseguranças geradas pelas mudanças. Também há percepção de fatores biológicos, como o ressecamento vaginal e seus impactos. Durante pré-natal e pós-parto, 4 em 10 mulheres receberam orientações, mas nenhuma via SUS ou UBS; as principais fontes de informações foram a internet, seguida da rede de relações pessoais.
Conclusões/Considerações
A pesquisa identificou que a atenção a saúde sexual é uma lacuna nos cuidados em saúde oferecidos às mulheres na gestação e no pós-parto. Assim, para a promover a equidade é fundamental que os serviços de saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde, reconheçam as demandas das mulheres acerca da sexualidade neste período e criem espaços seguros para acolhê-las.
ESTRESSE NO TRABALHO DOMÉSTICO E SAÚDE MENTAL DE MULHERES: INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO PÓS-PANDEMIA DA COVID-19
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Apresentação/Introdução
O adoecimento mental da população é um problema histórico, que envolve fatores biológicos, sociais e à sobrecarga de papeis. Há evidências de maior vulnerabilidade das mulheres, com papel importante do trabalho doméstico e do estresse gerado por essas atividades, especialmente devido à sua desvalorização social. Este estresse pode estar associado ao adoecimento psíquico feminino, especialmente no pós-pandemia.
Objetivos
Avaliar o estresse psicossocial no trabalho doméstico não remunerado e o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em mulheres, utilizando o modelo de Desequilíbrio Esforço Recompensa Doméstico (DER_DOM).
Metodologia
Trata-se de estudo transversal com amostra probabilística (amostragem por conglomerado) de 2.731 mulheres com 15 anos ou mais da zona urbana de município baiano, em 2022-2023. Os dados foram coletados face-a-face com uso de questionário estruturado, contendo o GENERAL ANXIETY DISORDER (GAD-7) e o DER_DOM, permitindo mensurar o TAG e estresse psicossocial no trabalho doméstico, respectivamente. Além das variáveis sociodemográficas, ocupacionais, hábitos de vida e atividades domésticas. Técnicas de estatística descritiva, bivariada e regressão logística estratificada por modificadores de efeito foram utilizadas, com adicional verificação da qualidade do modelo multivariado.
Resultados
Estimou-se prevalência de 29,5% de TAG entre as mulheres avaliadas, com o dobro de frequência entre aquelas com maior estresse psicossocial no trabalho doméstico não remunerado (DER-DOM) (RP=2,08; IC95%: 1,84–2,37). Também foi evidenciada maior prevalência de TAG entre aquelas de 15 a 45 anos (RP=1,24; IC95%: 1,10-1,40), sem parceiro/a (RP=1,16; IC95%: 1,02–1,32), e com menor renda per capita (RP=1,31; IC95%:1,03–1,65). Outras variáveis não apresentaram associações significativas.
Destaca-se que 37,5% das mulheres encontram-se em situação de desequilíbrio entre esforço e recompensa no trabalho doméstico não remunerado.
Conclusões/Considerações
Revela-se elevada prevalência de TAG e de estresse no trabalho doméstico entre mulheres. As questões de gênero e saúde precisam ser colocadas em pauta para ampliar as discussões e intervenções sobre a divisão sócio sexual do trabalho doméstico e suas repercussões negativas sobre a saúde mental das mulheres. Reforça-se a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade de gênero, saúde mental e inserção das mulheres no mercado de trabalho.
TRABALHADOR-PESQUISADOR DO CUIDADO: IMPLICAÇÕES ÉTICAS NA CARTOGRAFIA DAS REDES LGBTQIAPN+ EM UM ESPAÇO DE CIDADANIA E SAÚDE EM JOÃO PESSOA
Pôster Eletrônico
1 UFPB
Apresentação/Introdução
Trata-se de uma pesquisa de mestrado em fase inicial, vinculada à pesquisa multicêntrica. O estudo desenvolve-se em uma instituição localizada em João Pessoa/PB que atua na promoção de cidadania e direitos humanos para a população LGBTQIA+. Surge como desdobramento da atuação extensionista da UFPB, via o projeto “Devires da Clínica” (@deviresdaclinica).
Objetivos
Compreender como se articulam as redes formais e redes vivas de cuidado a partir da cartografia das trajetórias da população LGBTQIAPN+ usuária de um serviço do município, identificando barreiras de acesso e potencialidades.
Metodologia
O estudo integra a pesquisa multicêntrica Práticas e saberes que vêm das margens: encontros e desencontros com a atenção e a formação em saúde, conduzida em João Pessoa/PB pelo Grupo de Pesquisa-Ensino-Extensão ApoiaRaps. Adota-se o método cartográfico, em que o pesquisador está imerso no campo, afetado pelas vivências e atuando como sujeito político implicado politicamente. A inserção ocorre via atuação profissional-extensionista, com oferta de acolhimento à população LGBTQIA+. Usuáries-guias, suas histórias e redes vivas de cuidado orientam a cartografia. O Diário Cartográfico é a principal ferramenta de registro, e o processamento da experiência ocorre no grupo ApoiaRaps.
Resultados
A retomada do campo em 2025, na condição de pesquisador, foi atravessada pela experiência prévia como extensionista, iniciada em 2023, o que favoreceu o fortalecimento de vínculos e o engajamento com a equipe do serviço. A proposta de pesquisa-interferência tem agenciado uma presença ativa e implicada, ressignificando os papéis de quem pesquisa e rompendo com a lógica extrativista, ao colocar em análise as implicações do pesquisador enquanto trabalhador do cuidado. A multicentralidade da pesquisa guarda-chuva potencializa o trabalho ao articular coletivos com interesses afins, favorecer o intercâmbio entre territórios diversos e estimular leituras interseccionais dos fenômenos estudados.
Conclusões/Considerações
A inserção em campo é percebida em continuidade a atuação extensionista, facilitada pela relação de confiança com o serviço. A pesquisa-intervenção tensiona a presença entre as funções de trabalhador, pesquisador e extensionista. Vinculado a uma pesquisa multicêntrica em andamento, o trabalho enfrenta desafios da integração, mas reuniões dos núcleos da pesquisa se mostram espaços importantes para trocas e processamento coletivo das experiências.
ENTRE A DOR E O CUIDADO: VIVÊNCIA DE MULHERES COM ÓBITO FETAL NO INTRAPARTO
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
2 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
3 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
Óbito fetal intraparto é definido como a morte do feto durante o trabalho de parto e antes da expulsão completa do concepto. O luto pós óbito fetal é marcado por uma dor intensa e constitui-se em uma vivência pessoal e íntima para cada membro da família. Neste contexto, é fundamental uma abordagem mais humanizada pela equipe de saúde, assegurando apoio emocional e psicológico adequado à família.
Objetivos
Analisar as vivências emocionais de mulheres que enfrentaram o óbito fetal durante o trabalho de parto em contexto hospitalar, evidenciando o acolhimento profissional na assistência e no processo do luto, no município de São Paulo.
Metodologia
Estudo exploratório de abordagem qualitativa, que integra o projeto Mortalidade Fetal: desafios do conhecimento e da intervenção (FetRisks), um caso-controle realizado em 14 hospitais públicos em São Paulo, que contemplou uma subamostra de 96 mães, com o objetivo de examinar o contexto das perdas fetais para mães e famílias e o apoio oferecido pelos serviços de saúde às famílias em luto. Os dados foram coletados por meio de questionário, entrevista semiestruturada e aplicação da Perinatal Grief Scale (PGS), entre 12/2021 e 02/2023. Para o estudo, foram analisadas 4 entrevistas focando na percepção sobre a notícia do óbito fetal intraparto e a atuação dos profissionais, utilizando o NVivo.
Resultados
A morte fetal foi uma experiência dolorosa, com sentimentos de incredulidade, tristeza, culpa e raiva. O acolhimento profissional foi diverso. A comunicação da notícia, geralmente por médicos, ocorreu durante o parto ou trabalho de parto e, em alguns casos, foi percebida como insensível, com postura não acolhedora, marcando de forma negativa esse momento. Alguns profissionais proporcionaram o contato com o bebê, as narrativas mostram diferentes reações e formas de vivenciar a perda; para algumas mulheres foi positivo ter o contato e receber recordações, como fotos e cartas, para outras houve dificuldade para ver o corpo ou registrar imagens. O luto complicado (PGS) ocorreu para 3 das 4 mães.
Conclusões/Considerações
O óbito fetal intraparto foi experiência dolorosa e relacionada ao luto complicado. A forma de comunicação de más notícias e o apoio recebido influenciam o luto. Práticas humanizadas podem ajudar na elaboração do luto, enquanto a ausência do acolhimento intensifica o sofrimento. Por isso, é fundamental implementar diretrizes institucionais e capacitar profissionais para oferecer uma comunicação adequada e suporte respeitoso às famílias enlutadas.
“NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”: ESTRATÉGIAS DE MELHORA DO ACESSO À SAÚDE SEGUNDO PESSOAS LGBTQIA+
Pôster Eletrônico
1 UFC
Apresentação/Introdução
A Atenção Primária à Saúde (APS), porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), segue marcada por práticas cisheteronormativas e falhas no acolhimento humanizado. A escuta das estratégias propostas pela própria população LGBTQIA+ é fundamental para a construção de soluções efetivas e culturalmente sensíveis no acesso à saúde, conforme o princípio da participação comunitária do SUS.
Objetivos
Este artigo analisa as estratégias de melhoria do acesso à saúde no SUS a partir das experiências e perspectivas de usuários LGBTQIA+.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo com 21 pessoas autodeclaradas LGBTQIA+, maiores de 18 anos e usuárias da APS. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas em profundidade online, com roteiro aberto, realizadas entre julho e agosto de 2024. Os dados foram analisados segundo a técnica de análise temática de conteúdo proposta por Minayo. O software MAXQDA foi utilizado para codificação e organização dos dados. O referencial teórico ancorou-se em Pierre Bourdieu (campo, habitus, violência simbólica) e Judith Butler (performatividade de gênero), o que permitiu aprofundar a análise crítica das falas e das estruturas de poder que operam nos serviços de saúde.
Resultados
A análise trouxe a categoria estratégias de melhoria do acesso com as subcategorias a seguir. Capacitação/formação profissional: com destaque para a participação LGBTQIA+. Legislações e políticas públicas eficazes: há boas políticas, mas há falhas de implementação. Tratamento humanizado: falta acolhimento e respeito, causas de evasão dos serviços. Importância da rede de apoio: familiares, amigos e coletivos como fontes de suporte no acesso aos serviços. Capilarização dos serviços: a concentração de atendimentos especializados foi criticada. Aumento dos estudos na temática LGBTQIA+: a escassez de literatura compromete a formulação de políticas/capacitação dos profissionais.
Conclusões/Considerações
As estratégias propostas pelos participantes apontam para a urgência de mudanças estruturais, formativas e políticas no SUS. A capacitação permanente, a expansão dos serviços, a valorização das redes de apoio e o estímulo à produção científica sobre saúde LGBTQIA+ emergem como pilares para um cuidado equitativo e humanizado. A pesquisa lança reflexões que extrapolam a APS e demandam transformações em todo o sistema de saúde.
SAÚDE DE MULHERES LÉSBICAS E A LÓGICA HETERONORMATIVA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFPB
Apresentação/Introdução
A heteronormatividade opera como regime normativo que institui a heterossexualidade como padrão, levando mulheres lésbicas a omitirem sua orientação nos serviços de saúde por temor à discriminação. Quando revelam, enfrentam hostilidade e negligência, o que fragiliza o vínculo com o serviço e compromete o cuidado.
Objetivos
Analisar as barreiras enfrentadas por mulheres lésbicas no acesso a serviços de saúde marcados pela heteronormatividade, evidenciando invisibilidade, inadequação no atendimento e dificuldades na construção do vínculo terapêutico.
Metodologia
Esta revisão integrativa qualitativa foi realizada nas bases LILACS e SciELO (2018-2024). A pergunta norteadora foi: como a heteronormatividade contribui para a invisibilização das mulheres lésbicas nos serviços de saúde? Utilizaram-se os descritores: (“mulheres lésbicas” OR “lésbica”) AND (“invisibilidade” OR “discriminação”). A seleção dos estudos foi realizada em três etapas: título, resumo e leitura integral. O estudo está vinculado à pesquisa multicêntrica “Práticas e saberes que vêm das margens”, que analisa os saberes e cuidados voltados a populações marginalizadas, conduzida em João Pessoa pelo ApoiaRAPS-UFPB.
Resultados
Foram identificados 14 estudos qualitativos, com delineamentos exploratórios, descritivos e transversais. Utilizaram-se métodos como entrevistas semiestruturadas, grupos focais, observação participante e amostragem em bola de neve. Os achados revelam que, embora o acesso aos serviços não seja formalmente negado, mulheres lésbicas são atendidas sob pressupostos heteronormativos, o que gera silenciamento, constrangimento e dificulta a criação de vínculo terapêutico, reforçando barreiras institucionais
Conclusões/Considerações
Conclui-se que a assistência à saúde das mulheres lésbicas ainda é orientada por uma ótica heteronormativa, ampliando sua vulnerabilidade. É necessário revisar protocolos e práticas de cuidado para garantir equidade no atendimento. A formação deve promover mudanças que desconstruam narrativas heteronormativas e ampliem o reconhecimento de suas especificidades.
O APOIO EMOCIONAL E PRÁTICO DURANTE A VIVÊNCIA DO PUERPÉRIO: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Ceará (UFC)
2 Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), Universidade Federal do Ceará (UFC)
Apresentação/Introdução
O parto e o pós-parto envolvem intensas mudanças biológicas e emocionais. O suporte social durante o puerpério contribui para uma experiência materna positiva, fortalece o vínculo mãe-bebê e favorece relações familiares. Por outro lado, a ausência desse apoio, somada às intensas mudanças fisiológicas e psíquicas características dessa fase, pode aumentar o risco de transtornos emocionais na mulher.
Objetivos
Identificar o apoio emocional e prático na vivência de mulheres no puerpério.
Metodologia
Estudo quantitativo, transversal, desenvolvido na Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, Ceará, no período de setembro de 2024 a janeiro de 2025. A amostra foi constituída por 300 puérperas, com idade igual ou superior a 18 anos, internadas no alojamento conjunto. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado, composto por duas seções: informações sociodemográficas e obstétricas, além da aplicação da Escala de Apoio Social do Medical Outcomes Study (MOS), previamente validada para o contexto brasileiro. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer nº 6.527.091.
Resultados
As puérperas apresentavam média de 27 anos, eram majoritariamente não brancas (85%) e possuíam, em média, 11 anos de escolaridade. Grande parte referiu nunca contar com alguém que as auxiliasse se ficassem de cama (66%), para levá-las ao médico (65%) ou para ajudar nas tarefas diárias (70%). De forma semelhante, 70% não dispunham de quem preparasse suas refeições quando necessário e 68% de quem as ouvisse quando precisassem falar. Ademais, 64% não tinham em quem confiar para falar sobre seus problemas, 62% não contavam com quem compartilhar preocupações e medos, e 56% relataram não ter quem compreendesse seus problemas.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciaram que a maioria das puérperas apresenta um déficit significativo de suporte social, emocional e prático, resultando em maior sobrecarga. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de fortalecer redes de apoio e políticas públicas integradas para promover o bem-estar materno, o vínculo mãe-bebê e a saúde familiar nesse período.
ENTRE O MACHISMO E O AUTOCUIDADO: BARREIRAS CULTURAIS NO USO DO PRESERVATIVO ENTRE UNIVERSITÁRIOS
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 Universidade Federal de São Paulo- Escola Paulista de Medicina.
Apresentação/Introdução
o uso do preservativo é uma das formas mais eficazes de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). No entanto, entre homens universitários, seu uso nem sempre é regular. Barreiras culturais ligadas à masculinidade, como o machismo, a busca por prazer e a autoconfiança excessiva, podem impactar diretamente essa prática.
Objetivos
descrever como os aspectos culturais relacionados à masculinidade influenciam na decisão de homens universitários quanto ao uso do preservativo durante relações sexuais.
Metodologia
trata-se de uma revisão narrativa de literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, realizada entre maio e junho de 2025. A busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os descritores: “Masculinidade”, “Preservativos”, “Estudante Universitário” e “Infecções Sexualmente Transmissíveis”, combinados com operador booleano AND e OR. Foram utilizados os filtros: texto completo, idioma inglês, português e espanhol, publicados entre 2020 a 2025. Identificando 203 artigos, após a aplicação dos filtros foi reduzida para 36. Após a leitura dos resumos, 12 foram elegíveis e lidos na íntegra. Ao final, 7 estudos atenderam aos critérios de inclusão e compuseram este estudo.
Resultados
os homens universitários são fortemente influenciados por normas culturais associadas à masculinidade tradicional, quanto ao uso do preservativo. Comportamentos como a busca por prazer imediato, a autoconfiança em relação à saúde dos parceiros e a necessidade de afirmação masculina estão entre os principais obstáculos ao uso consistente do preservativo. Além disso, a percepção de invulnerabilidade e a ideia de que “homem de verdade” domina a situação sexual, mesmo sem proteção, são recorrentes. A pressão entre pares e a baixa adesão às campanhas educativas também foram identificadas como fatores agravantes.
Conclusões/Considerações
o uso do preservativo é uma medida essencial para a promoção da saúde com responsabilidade e equidade. Desse modo, é necessário adotar estratégias educativas que desafiam estereótipos masculinos e incentivem o preservativo como expressão de cuidado, autonomia e respeito mútuo. Abordagens que valorizem o diálogo, a reflexão crítica e a construção de novas masculinidades são fundamentais para uma cultura de saúde mais consciente e inclusiva.
COMO A SAÚDE REPRODUTIVA DE MULHERES IMIGRANTES NO BRASIL TEM SIDO ESTUDADA: REVISÃO EXPLORATÓRIA DA LITERATURA
Pôster Eletrônico
1 FSP USP
Apresentação/Introdução
A saúde reprodutiva de mulheres é influenciada por fatores sociais, culturais e econômicos. Considerando o crescimento do grupo de imigrantes no Brasil, caracterizar a produção científica disponível permite compreender as abordagens adotadas para o avanço do conhecimento e as lacunas para informar políticas públicas efetivas.
Objetivos
Caracterizar os estudos sobre saúde reprodutiva de mulheres imigrantes residentes no Brasil com ênfase na população analisada, abrangência geográfica e métodos, a fim de identificar lacunas no conhecimento e orientar futuras pesquisas e intervenções.
Metodologia
A busca foi realizada em abril/2025 nas bases PubMed, SciELO, Embase e BVS, sem restrição quanto ao delineamento, período de publicação ou idioma, e com foco em gestação, parto e pós-parto. A seleção seguiu a exclusão de duplicatas; triagem de títulos e resumos; leitura do texto completo; e extração dos dados após calibração das avaliadoras. A análise contemplou quatro categorias: População (critérios de definição e inclusão no estudo, nacionalidade, características sociodemográficas); Abrangência territorial (nacional, regional, estadual, municipal ou outro); Métodos (delineamento do estudo, técnicas de análise, aspectos da saúde reprodutiva abordados); Limitações encontradas no estudo.
Resultados
Foram identificados 1533 registros. Após 1514 exclusões, dos 19 estudos incluídos (2009-2024), 11 eram qualitativos (etnografias e entrevistas); 5 quantitativos, baseados no Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos; e 3 mistos. Nove tinham abrangência municipal, 9 estadual e 1 regional. Com exceção de um, realizado em Aracaju, todos exploraram as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As origens mais prevalentes foram Bolívia, Haiti, Paraguai e Venezuela. Foram mais frequentes a descrição de idade, estado civil, escolaridade e ocupação e os indicadores via de parto, início e número de consultas pré-natal. As limitações mencionadas foram uso de dados secundários e incompletude de registros.
Conclusões/Considerações
Os estudos sobre saúde reprodutiva das imigrantes no Brasil são escassos e concentrados no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com predominância qualitativa e foco em nacionalidades latino-americanas, revelando lacunas em outras dimensões e territórios. O SINASC se apresenta como importante fonte de dados nacional. Reforça-se a necessidade de ampliar e diversificar as pesquisas para políticas públicas mais inclusivas.
AUSÊNCIA PATERNA E SAÚDE COLETIVA: ENSAIANDO DIÁLOGOS FEMINISTAS E NOVAS PERSPECTIVAS DE CUIDADO
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
A ausência paterna é um fenômeno que se insere no debate das legitimidades sociais e das legitimidades institucionais. Este estudo olha para as dimensões ativas que este fenômeno produz na vida dos sujeitos, ancoradas na subjetividade, no reconhecimento pelo Estado de Direito, na família e nas perspectivas feministas e de cuidado que recaem sobre o gênero e, portanto, sobre vieses de saúde-doença.
Objetivos
Analisar de forma crítica a experiência da ausência paterna a partir de uma concepção ampliada de saúde que considere os núcleos e campos da Saúde Coletiva e as ações de um cuidado emancipador.
Metodologia
Esta pesquisa é uma autoetnografia de escrita performática e tem como base a narrativa da pesquisadora em sua experiência com a ausência paterna, os aspectos de saúde a ela relacionados, o feminismo brasileiro, as perspectivas decoloniais e as articulações teóricas com os estudos já existentes na literatura. A autoetnografia é um método que aproxima a pesquisa com as emoções e a cultura do pesquisador e, partindo de um saber situado, interseccionado pelo corpo (auto) em trânsito nos espaços das ausências-presenças (etnograficamente) pater, este trabalho convoca a Saúde Coletiva do corpo-texto e enuncia a profusão de novas instituições fenômeno-lógico-método-estruturais do cuidado em saúde.
Resultados
Nossos resultados discorrem sobre as possibilidades que questionam a objetividade, a neutralidade e a separação ontológica entre sujeito e objeto, sobre as dimensões ativas que as ausências paternas produzem e sobre as perspectivas críticas ensaiadas de um cuidar que se contrapõe aos vieses de saúde-doença/promoção da saúde, uma vez que se limitam a lugares estruturais das relações, mas coexistem com normalizações. Na Saúde Coletiva do meu corpo, a geopolítica das minhas mudanças em transformação não está isolada. O movimento da transformação pode ou não levar à uma ação política e/ou de saúde, mas o movimento deste estudo culmina em manifesto: quem define a saúde é o sujeito dos cuidados.
Conclusões/Considerações
A ausência paterna é fenômeno e instituição e, junto à autoetnografia dos meus diálogos ensaiados, a minha presença de filha também se institucionalizou em política e rompeu os limites do saber ao produzir esta pesquisa. É fundamental o estudo das experiências culturais do cuidado emancipador na Saúde Coletiva e o valor social das presenças como ação transformadora do que é fazer Ciência e fazer saúde, entre ausências-presenças, de outras formas.
O CORPO TRANS NA SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO: PERSPECTIVAS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS TRANS.
Pôster Eletrônico
1 PUC-RIO
2 UFRJ
Apresentação/Introdução
Os ideais da Reforma Psiquiátrica e da Clínica Ampliada são hoje tidos centrais para o tratamento em Saúde Mental, porém ainda há dúvidas acerca de sua implementação na prática. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa sobre a prática de profissionais de saúde do Instituto Municipal Philippe Pinel (IMPP) com pacientes trans, visando analisar a efetivação de tais ideais.
Objetivos
O trabalho busca analisar como os profissionais de saúde mental pública do município do Rio de Janeiro, no cenário pós-Reforma Psiquiátrica e Clínica Ampliada, respondem aos desafios e problemáticas presentes nos atendimentos de pessoas trans.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa não-experimental exploratória. O IMPP foi a instituição central do estudo; para obter perspectivas externas, realizou-se entrevistas com o Grupo Arco-Íris, ONG de amparo social à população LGBTQIA+. Assim, efetuou-se 14 entrevistas semi-estruturadas: 13 com profissionais do IMPP (psiquiatras, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos e residentes de medicina) e 1 com profissionais do Grupo Arco-Íris (psicólogo e assistente social). A análise das entrevistas foi realizada por meio do método da Teoria Fundamentada; da categorização realizada, selecionou-se as categorias “Adornos” e “Uso de Pronome” para exposição.
Resultados
No que tange aos “Adornos”, há duas preocupações mutuamente excludentes expressas por diferentes entrevistados: de um lado, a permissão de determinados adornos é tida como um risco à integridade física do paciente e dos demais; de outro lado, alguns profissionais compreendem os mesmos adornos como importantes para a constituição do corpo e da identidade de pacientes trans. Em relação ao “Uso de Pronome”, há tanto erro quanto dificuldade. A causa da dificuldade é atribuída pelos entrevistados seja à presença de valores conservadores, seja pelo paciente não performar suficientemente o gênero que corresponde ao que seria seu sexo biológico.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam a existência de tensões entre o tratamento de pacientes trans no Rio de Janeiro e os ideais da Reforma Psiquiátrica e da Clínica Ampliada, de modo que alerta para a necessidade de capacitação dos profissionais para que haja adequação com tais ideais nestes casos. O trabalho foi devidamente aprovado no Conselho de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sob o número DAAE 83267124.1.0000.5279.
AMAMENTAÇÃO CRUZADA ENTRE MULHERES NA FAVELA DA ROCINHA: SOBRE DÁDIVAS E RESISTÊNCIAS
Pôster Eletrônico
1 PUC-Rio
Apresentação/Introdução
Este estudo trata de um fenômeno relativamente comum na sociedade brasileira, porém, de algumas décadas para cá, bastante invisibilizado: o ato de uma mulher amamentar um bebê que não foi gerado por ela própria, o que tem sido tecnicamente chamado de amamentação cruzada. O ato é contraindicado pelo Ministério da Saúde desde 1996, devido à possibilidade de transmissão de doenças pelo leite materno.
Objetivos
Uma em cada 5 brasileiras amamenta outros bebês além daqueles gerados por elas (Boccolini et al., 2023). O estudo se propõe a compreender os usos e sentidos da prática e como são percebidos os riscos médicos a ela associados entre mulheres da Rocinha.
Metodologia
O estudo envolve entrevistas semiestruturadas com 10 mulheres de diferentes gerações, isto é, que amamentaram outros bebês além de seus filhos biológicos antes e depois da contraindicação do ato, em 1996. Para tanto, lancei mão da técnica chamada de “bola de neve”. A intenção foi adotar a interseccionalidade como proposta metodológica (Díaz-Benítez e Mattos, 2019). Para as autoras, numa abordagem metodológica interseccional “a construção do problema de pesquisa, a relação localizada estabelecida pela pesquisadora com o campo/tema de investigação, o diálogo com as obras e autoras/es referenciados (...) precisam ser pensados a partir da perspectiva interseccional”.
Resultados
Os resultados apontam que a amamentação cruzada é parte das atividades que integram o cuidado e se estrutura através de redes de ajuda mútua, entre mulheres em relação de simetria. Ao serem questionadas, todas as entrevistadas disseram estar a par da contraindicação da prática e dos riscos alardeados pela medicina. As idosas, no entanto, se mostraram mais refratárias à contraindicação, inclusive, muitas vezes estimulando a “amamentação cruzada” entre filhas e noras, ou recorrendo a outras lactantes quando estavam com os netos sob seus cuidados. Os depoimentos expressam que o leite materno, naquele contexto, é percebido como uma força, fonte de axé, de energia, de afeto e de vínculo.
Conclusões/Considerações
O contexto investigado representa uma espécie de “lócus fraturado”, como menciona Maria Lugones (2014), para se referir a contextos em que seria possível manter modos criativos de reflexão, comportamento e relacionamento. Essas possibilidades se apoiariam na afirmação da vida em detrimento do lucro, no privilegiamento das relações, na superação das divisões dicotômicas e na comunalidade.
UMA ANÁLISE DE GÊNERO E RAÇA NA GESTÃO DO TRABALHO DO SUS
Pôster Eletrônico
1 SGTES/MS
2 AGSUS
3 UFBA
Apresentação/Introdução
Em um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a SGTES/MS, cruzaram-se a bases de dados administrativos e evidências sobre o trabalho em saúde, buscou debater e analisar as desigualdades estruturais da sociedade brasileira que se apresentam no campo do trabalho em saúde, sobretudo quando abordamos o debate interseccional de gênero e raça.
Objetivos
Analisar dados do CNES, E-Social e RAIS em comparação com ações do Programa de Equidade, buscando evidências de disparidades e violências no trabalho em saúde que afetam especialmente mulheres negras, indígenas, PCDs e LBTs
Metodologia
A pesquisa analisou o Programa de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no SUS, com foco em dois objetivos: prover evidências atualizadas das desigualdades no mercado de trabalho em saúde, usando PNAD, PNS e RAIS; e analisar a lógica causal do programa, construindo um marco lógico e estratégias para monitoramento e avaliação. Para superar limitações dos dados, foram feitos testes de validação cruzada com bases como RAIS e CNES, comparando estatísticas com evidências de estudos qualitativos
Resultados
A presença feminina no setor saúde é predominante, representando 79% da força de trabalho, contra 43% no geral do Brasil. Porém, essa participação concentra-se em funções de menor remuneração, como técnicas de enfermagem (85% mulheres), enquanto na medicina cai para 50%. Quesito raça/cor, 58% dos trabalhadores da saúde são brancos, acima da média geral (43%). Pessoas pretas e pardas são sub-representadas em cargos de maior qualificação e remuneração. Pessoas com deficiência são pouco representadas, e a população LGBTQIAPN+ não aparece nas bases administrativas, evidenciando invisibilidade.
Conclusões/Considerações
É fundamental inserir o debate de gênero como elemento das relações sociais no trabalho em saúde, considerando as construções históricas. O Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização dos Trabalhadores do SUS promove esse debate, evidenciando como as discriminações interdependentes afetam a saúde e o bem-estar dos/as trabalhadores/as segundo seus marcadores sociais
ACEITABILIDADE, OFERTA, USO E ADESÃO, À PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV ENTRE MULHERES CISGÊNERO TRABALHADORAS DO SEXO: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 FM-USP
2 Université Lumière Lyon 2
3 ISC-UFBA
4 Universidade do Estado da Bahia
5 Universidade Católica de Santos
Apresentação/Introdução
A profilaxia pré-exposição (PrEP) é altamente eficaz para prevenção ao HIV, mas depende da adesão. Apesar do risco de HIV enfrentado por mulheres cisgênero trabalhadoras do sexo (MCTS), aceitabilidade, oferta, uso e adesão à PrEP permanece inferior em relação a outras populações-chave. Estudo que integra o projeto ANRS-PISTAS, realizado nas cidades de Lyon (França), Salvador e São Paulo (Brasil).
Objetivos
Esta revisão de escopo objetiva identificar barreiras e facilitadores relacionados à aceitabilidade, à oferta, ao uso e à adesão à PrEP entre MCTS.
Metodologia
Revisão buscou responder à pergunta: “Quais evidências empíricas e de intervenções sobre as barreiras e facilitadores da aceitabilidade, oferta, uso e adesão à PrEP entre MCTS?” A coleta de dados foi realizada nas bases: Scopus, PubMed, Web of Science e Google Scholar. Critérios de inclusão: estudos publicados a partir de 2015; estudos empíricos ou intervencionais; MCTS como população de estudo; análise de desfechos relacionados à aceitação, oferta, uso e adesão à PrEP. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra por dois autores. Foram sintetizadas barreiras e facilitadores identificados em relação à aceitabilidade, oferta, uso e adesão à PrEP, bem como soluções propostas na literatura.
Resultados
Dos 598 artigos inicialmente levantados, 53 foram analisados: 19 abordaram a aceitabilidade da PrEP, 19 a adesão, 19 o uso e 13 abordaram modelos de oferta. As barreiras mais comuns incluíram: falta de informação sobre a PrEP, medo de efeitos adversos, desconfiança em relação à sua eficácia, estigmas associados ao uso da PrEP (receio de ser confundida com pessoa vivendo com HIV), e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Entre os facilitadores, destacam-se: apoio social da comunidade, familiares e amigos; serviços móveis ou horários flexíveis de funcionamento dos serviços de PrEP; percepção elevada de risco de infecção pelo HIV; e a integração da PrEP a serviços de saúde mais amplos.
Conclusões/Considerações
Destaca-se a necessidade de estratégias direcionadas e contextualmente específicas para enfrentar a desinformação, a desconfiança e o estigma em torno da PrEP e Aids entre MCTS. Oferta de informações precisas e abrangentes sobre a PrEP e seus benefícios, juntamente com ações voltadas à normalização de seu uso no contexto do trabalho sexual, e articuladas a outras necessidades de cuidado de MCTS, são fundamentais para aumentar sua aceitabilidade.
COMPREENDENDO A TRANSEXUALIDADE SOB A ÓTICA DA FAMÍLIA
Pôster Eletrônico
1 UFCAT
Apresentação/Introdução
Transfobia é crime, mas Pessoas Trans e familiares enfrentam discursos/agendas que buscam invalidar a transexualidade, causando deletérios graves à disforia de gênero. Enfrentar requer estratégias diversas como a aceitação e apoio familiar que também precisa de cuidados. É mais de que uma luta individual, é uma luta coletiva, pela saúde coletiva de um grupo minoritário excluído e marginalizado.
Objetivos
Compreender, sob o olhar de mães e pais, como a família vivencia o processo transexualizador de filha/e/o trans.
Metodologia
Estudo do tipo exploratório, de abordagem qualitativa, realizado em Fortaleza-CE. Participaram da pesquisa famílias que frequentavam as reuniões da ONG Mães Pela Diversidade, que tinham filha/e/o que tivesse vivido o processo transexualizador ou estivessem em qualquer fase dele, sendo atendido pelo serviço público ou privado especializado. A técnica utilizada na coleta de dados foi o grupo focal, com roteiro prévio centrado em três eixos: sentido/significado, ação e, interpretação, conforme referencial teórico do Interacionismo Simbólico. Os dados foram tratados e interpretados pela lente fenomenológica e literatura pós-colonial, organizados em categorias. Houve autorização do CEP.
Resultados
Houve duas sessões, duração média de 2h e participação de 12 (doze) mães, sem participação de pai(s). Havia mãe de crianças [faziam terapia], homens e mulheres trans em hormonização, sem referências a cirurgias de redesignação sexual. Os discursos maternos, carregados de afeto e empatia à transexualidade revelaram mães que vivenciaram o luto em vida, pela ‘morte’ de uma/um filha/o para o nascimento de outro. Relatavam dificuldades vividas para compreender e adaptar ao processo transexualizador, bem como nas instituições como escola, própria família e/ou vizinhança. Reconheciam-se aflitas com a violência e uma força indescritível para defender sua/seu filha/e/o face aos perigos.
Conclusões/Considerações
A transexualidade é um desafio para as Pessoas Trans e suas famílias e compreendê-la a partir de suas experiências é essencial. Deve ser vista em diferentes aspectos com a garantia da oferta de cuidados multiprofissionais para todas as pessoas envolvidas, considerando o enfrentamento aos discursos de ódio e ameaçadores à vida. Reforçam-se os cuidados com sua/seu filha/e/o, buscando preservar o direito à vida, o respeito e dignidade de existir.
FORMAÇÃO EM SAÚDE E CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO LGBTQIA+: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LITERATURA CIENTÍFICA BRASILEIRA
Pôster Eletrônico
1 IDOMED
2 IDOMEDFIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O cuidado à saúde da população LGBTQIA+ foi historicamente negligenciado e estigmatizado por séculos de discriminação. A LGBTfobia, como determinante social em saúde, se manifesta na falta de preparo técnico e teórico para lidar com as necessidades em saúde dessa população. A ausência do tema nos cursos da saúde reforça desigualdades no acesso aos serviços de assistência.
Objetivos
Analisar criticamente a literatura científica brasileira sobre a abordagem do cuidado integral à saúde da população LGBTQIA+ nos cursos da área da saúde, identificando os principais desafios.
Metodologia
Foi realizada uma revisão narrativa da literatura nas bases de dados científicas SciELO, LILACS e BVS. A análise foi feita utilizando-se de uma abordagem qualitativa em que foram selecionados artigos completos e relatos de experiência em língua portuguesa publicados de 2015 a 2025. Os descritores utilizados foram “formação em saúde”, “Pessoas LGBTQIA+”, “educação em saúde” e “Inclusão Educacional”, “currículo médico”, “diversidade de gênero” e “equidade de gênero em saúde". Os artigos selecionados foram os que mais se adequaram ao escopo da pesquisa e a problematização teórica sobre o tema, foram lidos os resumos e quando relevante o artigo.
Resultados
A análise dos dados revela uma lacuna na formação em saúde brasileira quanto ao cuidado integral da população LGBTQIA+. Há despreparo entre profissionais e estudantes sobre as necessidades dessa população, incluindo desconhecimento de terminologias relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero. A ênfase no modelo biomédico tradicional nos currículos acadêmicos acaba negligenciando o cuidado integral dessa população, pois silencia e exclui as particularidades e as subjetividades de indivíduos que não se encaixam no modelo cisheteronomativo. Essa ausência de preparo específico contraria os princípios da Política Nacional de Saúde Integral LGBT.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que há uma lacuna na formação em saúde brasileira quanto à atenção à saúde da população LGBTQIA+, em que nota-se uma ausência de preparo específico para o cuidado em saúde dessa comunidade. Isso contribui para práticas discriminatórias nos serviços de saúde e reforça estigmas históricos. É urgente rever os currículos e promover uma formação mais humanizada, inclusiva e plural.
HÁ O PREPARO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA A ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO LGBTQIA+ NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS?
Pôster Eletrônico
1 UFMS
2 FAMERP
Apresentação/Introdução
A população LGBTQIA+ possui demandas específicas quanto à sexualidade, as quais não têm sido abordadas na formação dos profissionais de enfermagem. Assim, a falta de compreensão desses profissionais sobre a sexualidade não heterossexual pode impactar negativamente na qualidade e no atendimento, gerando, em ocasiões, uma oferta de cuidado que não engloba as necessidades especificas desta população.
Objetivos
Analisar se as universidades públicas brasileiras abordam a temática da sexualidade na população LGBTQIA+ no ensino oferecido aos discentes dos cursos de enfermagem.
Metodologia
Trata-se de um estudo documental e descritivo, onde os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de cursos de enfermagem de instituições públicas brasileiras, foram solicitados junto às coordenações de curso ou pesquisados através de sites institucionais para análise. As ementas das disciplinas foram avaliadas buscando determinar se haviam disciplinas obrigatórias que abordam o tema, carga horária (CH) dessas disciplinas e como ocorria a abordagem.
Resultados
Foram analisados 63 PPCs de todas as regiões geográficas do país. Constatou-se que a grande maioria dos cursos de enfermagem (54 - 85,71%) não possuem nenhuma abordagem sobre a temática. Somente 9 cursos (14,28%), abordam a temática em alguma disciplina obrigatória, entretanto, somente 6 (9,52%) abordam a temática dentro do conceito de assistência em enfermagem. Observou-se ainda, que as disciplinas possuíam em média uma CH de 146 horas, porém sendo somente uma pequena parcela da CH destinada ao tema.
Conclusões/Considerações
Aprender o cuidado à população LGBTQIA+ prepara um melhor acolhimento a este público, que já sofrem preconceito e censura advinda da sociedade. Deve-se ressaltar que dentre os achados positivos há fragilidades, como disciplinas com baixa CH ou são exclusivamente teóricas, dificultando a preparação do profissional. A humanização no atendimento a todos os públicos ainda são fragmentadas e os tabus devem ser superados para uma sociedade equitativa.
PERFIL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO CNPQ SOBRE A POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS PARA O CAMPO DA SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Saúde - SES/SP
2 Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP
Apresentação/Introdução
Apesar do aumento dos grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a produção de evidências sobre a população LGBTQIA+ é considerada uma temática recente que enfrenta resistências e disputas no lócus acadêmico. No que tange à formação dos profissionais da saúde, há lacunas curriculares sobre a saúde integral e a diversidade de gênero.
Objetivos
Identificar e analisar os grupos na base corrente do “Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil – Lattes”, quanto à produção de conhecimento científico e tecnológico, endereçada à população LGBTQIA+, em especial no campo da Saúde Coletiva.
Metodologia
Estudo exploratório, descritivo, quantitativo, baseado no penúltimo inventário dos grupos de pesquisa do CNPq. Identificados 86 grupos, sendo 71 registrados como “certificados”; 4 “em preenchimento” e 11 “excluídos”. Descartou-se os grupos excluídos, perfazendo 75 grupos elegíveis que constituem o universo analisado. Foram coletadas as variáveis: instituição, tipo de instituição (pública ou privada), localização, nome do grupo, ano de formação, área de conhecimento predominante e área específica, segundo o CNPq, número de pesquisadores e número de linhas de pesquisa. Os dados foram organizados em planilha Excel e submetidos à análise descritiva baseada em frequências absolutas e relativas.
Resultados
81,3% têm até 10 anos indicando uma temática emergente com apenas 0,19% do total do país. Concentram-se no SE(44%) e NE(26,7%) em instituições públicas(82,7%) e 17,3% privadas. O capital intelectual, oriundo sobretudo de 3 grandes áreas: Ciências Humanas(56%), Ciências Sociais Aplicadas(21,3%) e Ciências da Saúde(13,3%). Das 20 áreas específicas, destacam-se 5 (57,3% dos grupos): Educação(27,9%), Psicologia(23,3%), Sociologia(20,9%), Saúde Coletiva(16,3%) e Antropologia(11,6%), evidenciando a relevância das Humanas. A Saúde Coletiva tem 7 grupos com até 10 anos, a maioria de instituições públicas com linhas baseadas na determinação social da saúde-doença e vulnerabilidades associadas à Aids.
Conclusões/Considerações
O esquadrinhamento dos grupos de pesquisa do CNPq permitiu identificar e conferir visibilidade às instituições produtoras de conhecimento sobre LGBTQIA+. Os achados podem subsidiar as prioridades da agenda de pesquisa, os processos de formação graduada e pós-graduada, além das práticas de saúde. Não obstante a posição da Saúde Coletiva entre as principais áreas do conhecimento, o número de grupos de pesquisa ainda é considerado diminuto no país.
"MAPEAMENTO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO MÉDICA: ANÁLISE CURRICULAR BRASIL (CAMPINAS) E CUBA (HAVANA)"
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
2 UCMH/UNICAMP
3 UCMH/CENESEX
Apresentação/Introdução
Marcadores sociais (gênero, classe, raça) estruturam desigualdades e influenciam o cuidado em saúde. Este projeto analisa políticas de saúde/educação médica na Unicamp (Brasil) e Havana (Cuba), focando em interseccionalidade e APS. A comparação entre esses modelos distintos visa avanços curriculares que integrem equidade e justiça social na formação médica.
Objetivos
1. Analisar currículos médicos da Unicamp e Havana.
2. Comparar políticas públicas em saúde/educação.
3. Avaliar integração de gênero, raça e classe na APS.
4. Propor diretrizes para formação equitativa.
Metodologia
Estudo qualitativo e comparativo, com:
- Análise documental: currículos médicos e programas de residência das instituições selecionadas; políticas públicas de saúde/educação.
- Trabalho de campo: Observação participante em serviços de APS (ex.: Centro de Saúde Barão Geraldo/Brasil; policlínicas/Cuba).
- Entrevistas e grupos focais: Com docentes, discentes, gestores e movimentos sociais.
- Rodas de conversa: Validação coletiva dos achados e proposição de diretrizes.
Dados serão analisados mediante triangulação de métodos e teoria interseccional.
Resultados
1. Diagnóstico comparativo da inclusão de gênero, raça e classe nos currículos médicos brasileiros e cubanos.
2. Diretrizes curriculares propositivas para integração de marcadores sociais na formação.
3. Publicações acadêmicas e técnico-educativas sobre políticas de saúde/educação médica.
4. Rede de cooperação Brasil-Cuba para troca de experiências em educação médica.
5. Subsídios para políticas públicas curriculares mais inclusivas e alinhadas às demandas sociais.
Conclusões/Considerações
El proyecto revela la urgencia de integrar género, raza y clase en la formación médica. La comparativa Brasil-Cuba permitirá:
1) Diseñar currículos más equitativos,
2) Influir en políticas públicas de salud/educación,
3) Consolidar redes de cooperación internacional.
Los hallazgos contribuirán a una APS comprometida con la justicia social, ofreciendo modelos innovadores para superar desigualdades estructurales en la educación médica.
OBSTÁCULOS ENFRENTADOS POR MULHERES TRANS E TRAVESTIS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 UNEB
Apresentação/Introdução
no Brasil, o sistema prisional é organizado a partir de categorias binárias de gênero, baseadas na cisnormatividade. Essa estrutura dificulta o atendimento adequado às necessidades das mulheres trans e travestis encarceradas, que frequentemente são inseridas em unidades masculinas e enfrentam condições que desafiam sua dignidade e seus direitos básicos.
Objetivos
Evidenciar os principais obstáculos enfrentados por mulheres trans e travestis no sistema prisional.
Metodologia
trata-se de uma revisão narrativa de literatura. A pesquisa foi conduzida através das bases de dados BVS e PubMed, entre maio e junho de 2025. Utilizaram-se os descritores: “Minorias Sexuais e de Gênero", “Transgênero”, "Prisão" e "Direitos Humanos", com uso dos operadores booleanos AND e OR. Foram encontrados inicialmente 233 artigos (BVS – 90; PubMed – 143). Ao aplicar os filtros: texto completo, em português, inglês e espanhol e publicados entre 2020 e 2025, restaram 82 artigos (BVS – 45; PubMed – 37). Com a leitura dos títulos, reduziu-se para 29. Após ler o resumo destes, restaram 11 trabalhos, que foram lidos na íntegra, dos quais 6 compuseram a amostra final
Resultados
mulheres trans e travestis privadas de liberdade enfrentam a alocação em unidades masculinas, onde estão sujeitas a agressões físicas, sexuais e psicológicas, tanto por parte de outros detentos quanto de agentes penitenciários. Além disso, ocorre a interrupção de tratamentos hormonais, imposição de vestimentas incompatíveis com sua identidade de gênero e negação do uso do nome social. Também enfrentam barreiras no acesso à saúde e apoio psicológico, o que acentua sua vulnerabilidade e compromete sua integridade física e mental. Essas condições reiteram um ambiente de constante violação de direitos.
Conclusões/Considerações
as mulheres trans e travestis encarceradas no Brasil enfrentam condições de privação de liberdade marcadas por violências e violações de direitos que refletem a falta de efetivação das políticas existentes. Os problemas supracitados evidenciam a urgente necessidade de reformas no sistema prisional. Garantir respeito, proteção e direitos é fundamental para promover a dignidade, a integridade física e mental dessas pessoas.
SOROPOSITIVIDADE E QUALIDADE DE VIDA: UM OLHAR PSICOSSOCIAL SOBRE O HIV/AIDS
Pôster Eletrônico
1 UFSCAR
Apresentação/Introdução
Desde os primeiros casos identificados no Brasil, em 1981, até os dias atuais, as representações e experiências de viver com HIV/AIDS têm sofrido mudanças e ressignificações, incluindo avanços tecnológicos, nas políticas públicas e nos movimentos sociais. Este processo afeta profundamente o modo como as pessoas portadoras do HIV vivenciam o diagnóstico, o tratamento e a convivência com o estigma.
Objetivos
Descrever o perfil e compreender a percepção sobre a qualidade de vida a partir das experiências de pessoas (con)vivendo com HIV/AIDS na atualidade.
Metodologia
Para coleta de dados, foi utilizado um questionário virtual (google forms) composto por duas seções: 1. Conjunto de questões destinadas à caracterização sociodemográfica, a fim de mapear as informações relevantes e traçar um perfil dos participantes, incluindo aspectos como idades, gênero, escolaridade, ocupação e renda, entre outros. A segunda seção foi composta pelo Instrumento Whoqol-HIV-Bref, constituído por 31 questões que avaliam a qualidade de vida em pessoas convivendo com HIV/AIDS, distribuídas em 6 domínios: Físico, Psicológico, Nível de independência, Relações sociais, Meio ambiente e Espiritualidade/religião/crenças pessoais.
Resultados
O perfil majoritário é: homens cis, heterossexuais, 44 anos, ensino médio/superior completo, renda individual de 1-2 salários mínimos, qualidade de vida Intermediária ou Superior, segundo o Whoqol-HIV-Bref. As mulheres cis negras apresentam menor pontuação (13,6), evidenciando vulnerabilidades interseccionais entre gênero e raça, e a necessidade de um cuidado pautado na equidade, diante do perfil dominante de homens brancos heterossexuais. Os domínios com as maiores e menores pontuações são, respectivamente: Religião/Crenças/Espiritualidade, como estratégias de enfrentamento e suporte emocional, e Nível de Independência, por dificuldades da capacidade funcional e barreiras socioeconômicas.
Conclusões/Considerações
Dessa forma, conhecer o perfil dos participantes, suas percepções sobre qualidade de vida e suas vivências permite acessar os sentidos e significados do HIV/AIDS atualmente. Compreensão fundamental para a promoção do cuidado integral em saúde e o fortalecimento de suas relações interpessoais, considerando a autonomia, bem-estar psicossocial e as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pela (con)vivência com a sorologia em seu dia a dia.
CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA APS NA PREVENÇÃO DE ABORTOS INSEGUROS NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
O aborto inseguro é um grave problema de saúde pública no mundo. No Brasil há diversas barreiras para o acesso ao aborto seguro, uma delas é a falta de participação da atenção primária à saúde (APS). Este é um dos níveis de atenção privilegiado para a prevenção de abortos inseguros por seus princípios e resolutividade e também por meio da redução de danos.
Objetivos
Descrever e analisar o conhecimento dos profissionais de saúde da atenção primária sobre a epidemiologia e os aspectos clínicos do aborto induzido e da gravidez indesejada, na perspectiva de uma possível atuação na redução de danos ao aborto inseguro.
Metodologia
Estudo de corte transversal para o qual desenvolveu-se um questionário estruturado baseado nos principais protocolos nacionais e internacionais sobre aborto seguro. Este, em formulário Google, foi auto aplicado em técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos atuantes na APS de Rio das Ostras - RJ. A coleta de dados se deu de 24 de setembro a 23 de dezembro de 2024 em três etapas: duas presenciais e uma online. Os profissionais em férias ou licença-médica no período foram excluídos do estudo.
Resultados
Dos 110 profissionais elegíveis, 83 responderam ao questionário: 27 técnicos de enfermagem, 30 enfermeiros e 26 médicos. Das perguntas sobre epidemiologia, apesar de dois terços (74,7%) dos profissionais saberem que o aborto está entre as principais causas de morte materna, 61,4% deles erraram a proporção de gestações não planejadas no Brasil e 87,9% não sabem quantos abortamentos são induzidos por ano no país. Das perguntas sobre clínica, 82% dos profissionais desconheciam a dose correta de misoprostol para induzir um abortamento antes de 12 semanas. Mas a maioria dos profissionais sabia os sinais de alarme de um aborto inseguro (93% nomeou hemorragia, 84,3% febre e 77,1% corrimento fétido).
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam que os profissionais de saúde da APS têm bom conhecimento sobre alguns temas relacionados à clínica, mas um conhecimento baixo sobre outros, como em epidemiologia ou à parte da clínica relacionada à redução de danos. Isso certamente pode ser uma das barreiras para a atuação da atenção primária à saúde na prevenção de abortos inseguros no Brasil.
“RISCO DE MORTE E ANENCEFALIA, EU NÃO TENHO PROBLEMAS NO HOSPITAL. TODOS OS MÉDICOS FAZEM”: AS DIFERENTES NUANCES DA OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABORTO LEGAL
Pôster Eletrônico
1 CCM/UFPE
2 ISC/UFBA
3 Grupo Curumim: gestação e parto
4 Ipas/Brasil/Fiocruz
5 Grupo de Trabalho sobre Feminicídio na Bahia
6 UNEB
Apresentação/Introdução
No Brasil, a interrupção da gravidez em casos de estupro e risco de morte de meninas e mulheres é permitida desde 1940. Apenas em 1989 foi implantado o primeiro serviço de aborto legal na cidade de São Paulo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) estendeu o direito à interrupção da gravidez de fetos anencefálicos. Esse contexto historicamente difícil foi agravado nos últimos anos.
Objetivos
Ações coordenadas por forças conservadoras e movimentos antiaborto têm atuado para restringir ainda mais o direito ao aborto legal. O presente trabalho visa debater as diferentes nuances da objeção de consciência (OC) nos casos de aborto legal.
Metodologia
A pesquisa Barreiras de acesso ao aborto legal na Bahia no período da pandemia da COVID-19: 2020 e 2021 teve como objetivo principal analisar as barreiras de acesso ao aborto legal na Bahia, neste período. Envolveu duas etapas para a produção dos dados: quantitativa e qualitativa. Neste trabalho, apresentamos algumas análises da parte qualitativa relacionadas à objeção de consciência. Foram realizadas entrevistas com gestores e profissionais de saúde, que fazem parte da equipe de três serviços de atendimento a casos de aborto previsto em lei, bem como observações participantes nestes três serviços. Uma análise de conteúdo temática foi realizada. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
Resultados
Do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, parecer n0 5.189.400. A OC comporta uma variedade de atitudes por parte dos médicos. Há aqueles que não participam de qualquer etapa do atendimento e, desde que comprovado ser um caso de aborto legal, referenciam para um colega. Outros realizam o atendimento e os procedimentos de admissão, mas se recusam a prescrever e colocar o misoprostol; entretanto, após a constatação do aborto, realizam o procedimento de esvaziamento uterino. Essas diferentes atitudes ocorrem apenas nos casos de interrupções legais de gravidezes decorrentes de estupro. Os demais casos não são compreendidos como aborto legal e sim como procedimento médico.
Conclusões/Considerações
Motivos alegados são de ordem religiosa, moral e ideológica. A OC é um tema complexo que expressa a insuficiente formação, sensibilização e capacitação sobre a atenção ao aborto, assim como a inexistência de mecanismos formais para a regulamentação das recusas. Todos estes fatores contribuem não só para a permanência das barreiras de acesso ao aborto legal, como também implicam desnecessário sofrimento às pessoas em um momento de vida delicado.
DA POLÍTICA À PRÁTICA: CONTRIBUIÇÕES DE BUROCRATAS DE NÍVEL DE RUA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE DA MULHER NA APS DO DISTRITO FEDERAL
Pôster Eletrônico
1 UNB
Apresentação/Introdução
Apesar dos avanços globais em planejamento reprodutivo, persistem barreiras ao uso de métodos contraceptivos de longa duração no Brasil. O DIU de cobre, oferecido no SUS, enfrenta desafios institucionais, culturais e operacionais. Este estudo analisa como profissionais da linha de frente incidem na implementação de políticas de saúde da mulher no DF.
Objetivos
Analisar como a discricionariedade e os valores de BNRs, como enfermeiros(as) e médicos(as), influenciam como barreiras ou facilitadores nas políticas de saúde da mulher via acesso ao DIU de cobre na atenção primária do DF.
Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa com análise documental e entrevistas semiestruturadas realizadas entre março e julho de 2024. Foram analisadas políticas, diretrizes técnicas e normativas nacionais sobre planejamento familiar. Foram entrevistados/as 10 profissionais da atenção primária (5 médicos/as, 4 enfermeiros/as, 1 agente comunitária), recrutados/as por amostragem em bola de neve. As entrevistas abordaram práticas clínicas, valores, barreiras institucionais e criatividade burocrática, utilizando também vinhetas para estimular reflexões. A análise de conteúdo temática foi conduzida com apoio do ATLAS.ti, considerando fatores institucionais, organizacionais e individuais.
Resultados
Três temas centrais emergiram: (1) a adoção tardia da Estratégia Saúde da Família gerou desafios estruturais e resistência à inserção do DIU em UBSs; (2) políticas recentes ampliaram o papel de enfermeiras, que lideraram treinamentos, mutirões e estratégias educativas; (3) a ausência de infraestrutura motivou ações criativas, como uso de bandejas adaptadas, compras coletivas e articulações comunitárias. A criatividade burocrática revelou o papel das SLBs na superação de barreiras institucionais e no fortalecimento da autonomia reprodutiva em contextos desiguais.
Conclusões/Considerações
A discricionariedade e criatividade burocratica foram decisivas para ampliar o acesso ao DIU de cobre. As práticas inovadoras de enfermeiras, o apoio entre pares e a articulação com políticas públicas locais demonstram o papel ativo das BNRs como agentes de mudança institucional. O estudo reforça a importância de políticas que apoiem, e não limitem, as iniciativas baseadas em valores de cuidado, equidade e autonomia.
PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS SOBRE A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À POPULAÇÃO LGBTQIA+ NA APS DE CAMPO GRANDE-MS
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e Fundação Oswaldo Cruz
2 Centro Universitário Unigran Capit
Apresentação/Introdução
A Política Nacional de Saúde Integral LGBT estabelece diretrizes para o cuidado equânime dessa população, ainda invisibilizada nos serviços de saúde. Estigmas sociais e lacunas formativas dificultam sua efetivação prática. Este estudo analisou percepções de enfermeiros da APS de Campo Grande-MS frente às demandas e direitos em saúde da população LGBTQIA+.
Objetivos
Analisar as percepções de enfermeiros acerca da integralidade da atenção à saúde da população LGBTQIA+ na APS de Campo Grande-MS, com ênfase no conhecimento da PNSILGBT, nas fragilidades identificadas e nas estratégias assistenciais adotadas.
Metodologia
Trata-se de estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, conduzido com 11 enfermeiros/as de oito UBS/USF de Campo Grande-MS, localizadas em distintos distritos sanitários. A coleta de dados deu-se por entrevistas semiestruturadas, transcritas e analisadas conforme a técnica de análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos da Resolução CNS nº 466/2012, com aprovação do CEP sob CAAE nº 67679323.6.0000.5119. A análise foi organizada em três eixos: conhecimento da PNSILGBT; dificuldades e potencialidades no atendimento; e estratégias assistenciais voltadas à integralidade do cuidado.
Resultados
Constatou-se amplo desconhecimento da PNSILGBT entre os enfermeiros, decorrente da ausência de capacitações sistemáticas e da insuficiência de conteúdos na formação inicial. A prática assistencial revela-se ainda marcada por invisibilidade institucional, baixa procura espontânea e naturalização de condutas indiferenciadas. Apesar disso, identificam-se posturas sensíveis e reconhecimento das demandas específicas, sobretudo entre profissionais dispostos à qualificação. O enfermeiro, como agente central do cuidado, encontra-se desafiado a superar barreiras estruturais e institucionalizar estratégias inclusivas e equitativas na APS.
Conclusões/Considerações
O estudo revelou a persistência de lacunas estruturais que inviabilizam a efetivação do cuidado integral à população LGBTQIA+ na APS. A invisibilidade institucional e a negligência formativa perpetuam desigualdades. Faz-se imperativa a adoção de estratégias permanentes de qualificação e práticas centradas na equidade, como expressão de justiça e cidadania em saúde.
REPERCUSSÕES DA MORTALIDADE MATERNA PARA AS FAMÍLIAS
Pôster Eletrônico
1 UFG
Apresentação/Introdução
A Organização Mundial de Saúde define o óbito materno como a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o parto, relacionada à gravidez ou suas complicações, sendo um grave problema de saúde pública, influenciando na dissolução do grupo familiar e trazendo consequências para o desenvolvimento das crianças órfãs, o que inclui maior índice de mortalidade infantil.
Objetivos
Analisar as repercussões da mortalidade materna a partir da perspectiva dos membros da família.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa exploratória e descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados uma entrevista semiestruturada, questionário sociodemográfico e a ficha de notificação do óbito materno. Foram entrevistados onze familiares de mulheres que foram a óbito entre os anos de 2020 a 2023 em um hospital público em Goiânia-GO. As entrevistas foram gravadas e transcritas para posterior análise. A análise das entrevistas seguiu o modelo de análise de conteúdo, conforme proposto por Laurence Bardin (1977) e os dados clínicos e sociodemográficos foram utilizados para se obter um panorama sobre o perfil dos casos.
Resultados
A maior causa dos óbitos registrados foi COVID-19, seguida de Síndrome de HELLP e arbovirose. Onze familiares participaram deste estudo e as categorias de análise das entrevistas foram definidas em quatro eixos temáticos: a expectativa da gestação, o adoecimento, a morte e os impactos na família. Os relatos nos apontam que a mortalidade materna tem impactos emocionais na vida dos membros da família, resultando em alterações significativas da dinâmica familiar, rompimento de vínculos afetivos e redução de renda. Foram percebidas também fragilidades na assistência à saúde durante período de adoecimento, especialmente pela pandemia da COVID-19.
Conclusões/Considerações
A mortalidade materna é um evento devastador que deixa sequelas profundas e duradouras nas famílias afetadas. Além do impacto emocional, há também implicações sociais, econômicas e de saúde. Diante disso, destaca-se a importância de estudos sobre o tema para compreender suas implicações nas famílias, possibilitar o planejamento de ações em articulação com as redes de atenção à saúde e ampliar o conhecimento sobre o tema.
CRESCIMENTO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL À POPULAÇÃO TRANS NO SUS: TENDÊNCIA TEMPORAL, MODELOS DE GESTÃO E PERFIL PROFISSIONAL ENTRE 2015 E 2024
Pôster Eletrônico
1 Faculdade São Leopoldo Mandic
2 Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
3 Faculdade de Medicina do Sertão
Apresentação/Introdução
O Processo Transexualizador do SUS foi instituído em 2008, ampliando o acesso da população Trans a procedimentos hormonais e cirúrgicos. Apesar dos avanços, ainda existem lacunas na oferta, gestão e qualificação dos serviços. Analisar essa produção ao longo do tempo contribui para avaliar políticas públicas e sua efetividade.
Objetivos
Analisar a evolução da produção ambulatorial do SUS voltada à população Trans no Brasil entre 2015 e 2024, com foco no crescimento temporal, no modelo de gestão do financiamento e no perfil dos profissionais prescritores envolvidos no atendimento.
Metodologia
Estudo ecológico com dados secundários extraídos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), considerando registros de procedimentos hormonais ambulatoriais voltados à população Trans entre 2015 e 2024. Foram analisadas a frequência absoluta, a taxa por 100 mil habitantes, o tipo de gestão do financiamento (Pacto de Gestão ou Estado Pleno), o ente federativo responsável e o perfil dos profissionais médicos prescritores. A tendência temporal foi avaliada por regressão segmentada JoinPoint (versão 5.0.2), estimando-se a Variação Percentual Anual (APC) e a Média (AAPC), com IC 95%.
Resultados
Foram registrados 8.840 procedimentos, com financiamento predominantemente pelo Pacto de Gestão (90,1%) e realização em sua maioria por órgãos executivos estaduais (71,9%). A administração pública respondeu por 97,7% dos atendimentos. Endocrinologistas e metabologistas foram os principais prescritores (76,7%), seguidos por médicos de família (10%) e clínicos (7,3%). A produção cresceu 314,7% ao ano entre 2015 e 2017. Entre 2017 e 2024, o crescimento se manteve, porém desacelerado (11,67%). No período total (2015–2024), houve crescimento médio de 49,48% ao ano, com significância estatística.
Conclusões/Considerações
Os resultados demonstram crescimento expressivo da produção ambulatorial voltada à população Trans, ainda que concentrada em determinados perfis profissionais e sob gestão pública estadual. Os achados reforçam a importância da continuidade do financiamento federal estratégico e da ampliação da qualificação multiprofissional e regionalização da oferta.
A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE TRABALHO SEXUAL NO CAMPO DA SAÚDE COLETIVA A PARTIR DE TESES E DISSERTAÇÕES DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Apresentação/Introdução
Frequentemente, trabalho sexual é associado a vulnerabilidades, como as ISTs. No entanto, a produção de saúde de quem atua no mercado do sexo é complexa e inclui não apenas riscos, mas também experiências positivas, a exemplo a formação de redes de apoio e de formas de ascensão social, relacionadas ao tipo de trabalho; do contexto sócio-político e da interação entre marcadores sociais da diferença, principalmente raça e gênero.
Objetivos
Mapear a produção científica sobre trabalho sexual em programas de saúde coletiva, identificando as perspectivas em disputa sobre a produção relativa à saúde de profissionais do sexo.
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa com foco na síntese da produção científica. Foram consultadas teses e dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, entre 1990 e 2023. Incluíram-se trabalhos vinculados a programas de saúde coletiva ou interdisciplinares da área saúde coletiva, conforme classificação da CAPES, sendo excluídos os de áreas específicas como enfermagem, psicologia e ciências sociais. Foi realizada extração das informações sobre objetivo, metodologia, local do estudo, ano, perfil dos participantes, tipo de trabalho sexual e principais resultados. Os estudos foram agrupados em três categorias a partir de sua proximidade temática.
Resultados
Identificaram-se 21 trabalhos (11 dissertações e 10 teses). Predominaram estudos epidemiológicos quantitativos (10), seguidos de qualitativos (7), mistos (2) e revisões de literatura (2). Os trabalhos envolveram majoritariamente mulheres cis (15 estudos), sendo um com inclusão de travestis, um focado apenas em travestis e três envolvendo homens cis. Houve maior frequência de prostituição de rua, seguida por estabelecimentos comerciais. O tema mais expressivo foi vulnerabilidade ao HIV, destacando-se estudos recentes sobre profilaxias de prevenção, enquanto temas como subjetividades e cidadania foram menos abordados. Os estudos concentraram-se em capitais e regiões metropolitanas.
Conclusões/Considerações
A revisão indica predominância do discurso biomédico e da vulnerabilidade ao HIV na produção sobre saúde de trabalhadores sexuais, em detrimento de uma abordagem ampla da determinação social. Apontou lacunas nas pesquisas: experiências de homens cis e trans, mulheres trans, travestis, dos clientes e do trabalho sexual em cidades de pequeno porte do interior, além de outras modalidades de trabalhadores do sexo para além da prostituição.
AIDS COMO DOENÇA NEGLIGENCIADA: DETERMINAÇÃO SOCIAL, INIQUIDADES EM SAÚDE E DESAFIOS PERSISTENTES NA HOSPITALIZAÇÃO DE PESSOAS COM HIV (PHIV)
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
Apresentação/Introdução
No Brasil, o SUS é reconhecido pela resposta robusta à epidemia de HIV, com oferta gratuita de tratamento, exames e diagnóstico precoce. Apesar dos avanços, a aids segue como relevante problema de saúde pública, refletindo desigualdades de renda, raça, gênero, escolaridade e acesso aos serviços, que influenciam os riscos de infecção, o acesso ao cuidado e os desfechos clínicos.
Objetivos
Caracterizar o perfil clínico e sociodemográfico de PHIV hospitalizadas em um centro de referência em doenças infecciosas no Rio de Janeiro, Brasil, explorando o impacto da vinculação ou interrupção do tratamento para o HIV nos desfechos de saúde.
Metodologia
Coorte retrospectiva, incluindo todas as PHIV hospitalizadas no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI-Fiocruz) entre outubro/2021 e abril/2024. Características sociodemográficas e clínicas foram descritas segundo o status em relação ao uso da terapia antirretroviral (TAR) (nunca iniciou vs descontinuação vs pelo menos 1 dispensa nos últimos 6 meses) e identidade de gênero. Foram utilizados testes de qui-quadrado/Fisher para variáveis categóricas, e teste de Wilcoxon para variáveis contínuas. Foram analisadas variáveis como idade, escolaridade, raça/cor, diagnóstico de doenças oportunistas, causas da hospitalização, carga viral, contagem de CD4 e mortalidade intra-hospitalar.
Resultados
Foram incluídas 1877 PHIV (idade mediana: 41 anos), sendo 62% homens cis, 35% mulheres cis e 3% mulheres trans/travestis, majoritariamente pretas/pardas (71%) e com educação secundária (59%). Em relação à TAR, 52% nunca utilizaram; 11% descontinuaram tratamento; e 37% tiveram ao menos uma dispensação em 6 meses. As doenças oportunistas foram a principal causa de hospitalização (59%), seguidas por infecções bacterianas (34%), COVID-19 (5%) e neoplasias (3%). A mortalidade intra-hospitalar foi maior entre quem havia interrompido a TAR (29,1%) em comparação com quem mantinha uso regular (18,1%; p<0,01). Mulheres trans eram mais jovens e apresentaram maior taxa de alta contra orientação médica.
Conclusões/Considerações
As hospitalizações por AIDS no Rio de Janeiro refletem como iniquidades estruturais – marcadas por raça, escolaridade, identidade de gênero e pobreza – sustentam a persistência da epidemia. As vulnerabilidades estruturais comprometem o acesso e a continuidade do cuidado. A aids segue como doença negligenciada, exigindo políticas públicas intersetoriais e transformadoras, guiadas pela equidade e justiça social.
BARREIRAS DE ACESSO À SAÚDE SEXUAL DAS MULHERES IMIGRANTES BOLIVIANAS NO SUS: CONTEXTO DE UM TERRITÓRIO DE ALTA VULNERABILIDADE NA GRANDE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 FSP USP
2 Instituto de Saúde
Apresentação/Introdução
A Lei 8.080/90 prevê a saúde como um direito fundamental do ser humano; por isso, negar atendimento a qualquer indivíduo é negar a própria Constituição Federal. Tendo por base que metade dos migrantes mundiais são mulheres, é necessário garantir assistência à saúde àquelas que se encontram em solo brasileiro através do SUS, atendendo um dos princípios básicos desse sistema: a universalidade.
Objetivos
Elaborar um perfil e conhecer as principais barreiras de acesso ao SUS para o cuidado em saúde sexual e reprodutiva de mulheres imigrantes bolivianas residentes em um território de alta vulnerabilidade da Grande São Paulo.
Metodologia
Trata-se de estudo qualitativo descritivo e exploratório realizado por meio de entrevistas semiestruturadas em profundidade com 4 mulheres bolivianas residentes, contatadas atraves da Associação de Bolivianos de Francisco Morato, após aprovação pelo Comitê de Ética do Instituto de Saúde (SP), parecer 7.074.550/2024 e à assinatura de TCLE pelas participantes. Os dados levantados, gravados em áudio via gravador e transcritos por meio do Google Docs foram analisados transversalmente a partir de categorias temáticas do discurso.
Resultados
As mulheres tinham em média 33 anos; 75% delas trabalhavam em oficinas de costura e no lar; o grau de escolaridade variou, com imigrantes sem escolaridade até as matriculadas em Ensino Médio Técnico; 100% eram susdependentes e possuíam vínculo com o CadÚnico. A imigração por busca de melhores condições de vida foi relatada por 75% das entrevistadas. O idioma apresentou-se como um obstáculo para a integração junto ao serviço público; ausência de documentação migratória provocou negativas no acesso à saúde e falta de assistência contraceptiva, culminando em 1 gestação imprevista; distância e relevo geográfico da residência mostraram-se como impeditivos da continuidade de assistência básica.
Conclusões/Considerações
Implementar estratégias, como a prestação de serviços de saúde independentemente da documentação migratória, ofertar orientações acessíveis e materiais educativos no idioma de origem pode contribuir para o atendimento equânime dessas imigrantes no SUS, assim como promover ações específicas para garantir o acesso específico à saúde sexual e reprodutiva levando em conta suas especificidades.
NARRATIVAS FOTOETNOGRÁFICAS DE MULHERES INSTITUCIONALIZADAS QUE VIVEM COM ESQUIZOFRENIA
Pôster Eletrônico
1 ESP/CE
2 UFSC
Apresentação/Introdução
A esquizofrenia consolidou-se ao longo do tempo como o transtorno mental que remete à ideia de “loucura” na sociedade. Embora sua causalidade seja multifatorial, envolvendo fatores biológicos e genéticos, a esquizofrenia também é influenciada por aspectos sociais, econômicos e políticos, e entre esses fatores, destacam-se as desigualdades de gênero.
Objetivos
Analisar as vulnerabilidades enfrentadas por mulheres diagnosticadas com esquizofrenia que residem em um Residencial Inclusivo localizado em um município do sul do Brasil.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada no referencial teórico-metodológico do Construcionismo Social, utilizando a fotoetnografia e a produção narrativa como métodos. Foram investigadas 28 mulheres, por meio de observação participante com imersão etnográfica, sendo as informações coletadas por registros fotográficos e textuais. A coleta de dados ocorreu ao longo de 18 meses, de julho de 2022 a janeiro de 2024, resultando na análise de 543 fotografias e um extenso corpus textual.
Resultados
Os achados revelaram práticas de exclusão, isolamento, tutela outorgada, deterioração corporal, hipermedicalização, dependência e cuidado fundamentado em práticas religiosas. As vulnerabilidades que afetam a saúde mental dessas mulheres foram influenciadas por desigualdades de gênero e pela persistência de práticas manicomiais presentes na sociedade.
Conclusões/Considerações
A Reforma Psiquiátrica brasileira, ainda que tenha reforçado o fechamento de manicômios e hospícios, não solucionou o problema da exclusão e da violência de mulheres consideradas “loucas”, submetendo-as, ainda, a práticas manicomiais no cotidiano dos estabelecimentos que cuidam de pessoas em sofrimento. Assim, é crucial romper com os mecanismos excludentes e higienistas presentes na micropolítica dos serviços de saúde e nos residenciais inclusivos.
EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE CRÍTICA E EMANCIPATÓRIA COM ADOLESCENTES: UMA PESQUISA PARTICIPANTE COM INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA FREIREANA NO CONTEXTO ESCOLAR
Pôster Eletrônico
1 UPE
2 Prefeitura da Cidade do Recife
Apresentação/Introdução
A escassez de educação sexual nas escolas, aliada ao adultocentrismo, contribui para a negação dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e amplia a vulnerabilidade desta população. Este estudo valoriza seus saberes e experiências, propondo uma abordagem crítica e emancipatória da educação em sexualidade construída coletivamente no espaço escolar, a partir do diálogo freireano.
Objetivos
Estruturar um programa escolar de educação em sexualidade junto com adolescentes a partir dos fundamentos do diálogo freireano, valorizando seus saberes e experiências.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa participante de abordagem qualitativa, realizada com 42 adolescentes do ensino médio em escola pública de Recife-PE com idades entre 15 e 18 anos ao longo do ano de 2022. O estudo adotou a Investigação Temática freireana como método de coleta de dados seguindo as etapas de aproximação, leitura da realidade, codificação e problematização, desenvolvidas a partir das técnicas de grupos focais e observação participante. Os dados foram analisados a partir do Método de Interpretação de Sentidos, à luz da Teoria Dialógica Freireana e da Educação Integral em Sexualidade (EIS), considerando os referenciais dialéticos.
Resultados
Os adolescentes compreendem a educação sexual como processo contínuo, iniciado na infância, construído de forma dialogada, respeitosa e com base em suas experiências. Reconhecem sua importância para o autoconhecimento, prevenção de agravos, promoção da saúde emocional e exercício da cidadania. Reivindicam estratégias pedagógicas interativas, conteúdos de complexidade progressiva e contextualizados. Apontam a necessidade da participação ativa de adolescentes, profissionais e famílias. Refletem que a educação em sexualidade é um caminho possível na transformação da realidade em que vivem. A proposta educativa emergente foi nomeada como Educação em Sexualidade Crítica e Emancipatória (ESCE).
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidencia que adolescentes possuem saberes potentes e desejam ser protagonistas da construção da educação sexual. Uma Educação em Sexualidade Crítica e Emancipatória, fundamentada em Paulo Freire e na EIS, pode contribuir para superar o adultocentrismo e promover ações educativas transformadoras e éticas com tomada de consciência para vivenciar a sexualidade segura na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos da juventude.
MAPEAMENTO DA POPULAÇÃO TRANS DO ESTADO DE SÃO PAULO - REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA: ASPECTOS QUALITATIVOS.
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Medicina Preventiva.
2 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, São Paulo, SP, Brasil
3 IBRAT - Instituto Brasileiro de Transmasculinidades
Apresentação/Introdução
Pesquisas mostram dificuldades da população trans em acessar educação, saúde e trabalho formal. Apesar do crescimento de estudos na área, muitos se concentram em infecções sexualmente transmissíveis, sem abordar a saúde de forma ampla. Nesse contexto, a proposta do "Mapeamento da População Trans do Estado de São Paulo - Região da Baixada Santista” busca contribuir para preencher essas lacunas.
Objetivos
Compreender como as categorias gênero e sexualidade interferem no cuidado em saúde e nas condições de vida de pessoas trans que vivem, trabalham ou estudam nos municípios da Baixada Santista – SP.
Metodologia
Trata-se de estudo com abordagem quantitativa e qualitativa, com a população trans, de 18 anos ou mais, da região da Baixada Santista. Para a etapa qualitativa foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado pautado em seis temas: o processo de identificação como pessoa trans; a rede de apoio; os cuidados à saúde; a saúde mental e qualidade de vida; relacionamentos afetivos e/ou sexuais; e violência. As entrevistas foram conduzidas em modo virtual por profissionais trans da equipe de pesquisa, gravadas após consentimento e assinatura do TCLE. O material empírico foi organizado nos eixos temáticos apontados acima e analisados pela perspectiva interseccional.
Resultados
Foi realizado um total de 14 entrevistas em profundidade. As pessoas participantes tinham entre 18 e 45 anos; três se identificavam como homens trans, três não-binárias, sete mulheres trans e uma travesti. A identidade trans ou não binária atravessa a vida das pessoas de diferentes formas que se expressam na dificuldade em acessar serviços de saúde, em permanecer em empregos formais e em dispor de apoio familiar. Realizar procedimentos médicos, incluindo cirurgias e hormonização são relevantes para o reconhecimento corporal, no entanto, barreiras são percebidas em especial na demora para os agendamentos e no despreparo dos profissionais para outras demandas de saúde em geral.
Conclusões/Considerações
As experiências de vulnerabilidade, nos relatos de violência e exclusão, e de resiliência reforçam a complexidade da vivência trans e a necessidade de políticas públicas voltadas a essa população. A perspectiva interseccional alerta o quanto os marcadores de gênero e sexualidade continuam a operar no cuidado à saúde, excluindo corpos que não correspondem à norma heterocisnormativa branca.
VIOLÊNCIA SEXUAL E PSICOLÓGICA CONTRA HOMENS HETEROSSEXUAIS NO BRASIL: ANÁLISE DE NOTIFICAÇÕES INTERPESSOAIS
Pôster Eletrônico
1 PMG
2 UNILAB
3 UFC
4 UMAX
5 UECE
6 ESP-CE
Apresentação/Introdução
A violência sexual e psicológica/moral contra homens é um tabu, seus casos subnotificados, raramente reconhecida como problema de saúde pública e negligenciada pelos profissionais. Entre heterossexuais, fatores culturais, vergonha, estigma e medo de retaliações dos agressores dificultam a busca por apoio, gerando impactos negativos na saúde mental e no convívio social.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico das notificações de violência sexual e psicológica/moral contra homens heterossexuais no Brasil entre 2020 e 2024.
Metodologia
Estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo, com base em dados do Painel de Monitoramento da Violência Interpessoal e Autoprovocada do Ministério da Saúde. Foram selecionadas notificações de violência interpessoal contra indivíduos do sexo masculino com orientação sexual heterossexual, no período de 2020 a 2024, com natureza da violência classificada como sexual ou psicológica/moral. As variáveis analisadas incluíram idade, raça/cor, escolaridade, situação conjugal, local da ocorrência, repetição da violência, meio de agressão, vínculo com o agressor, uso de álcool e encaminhamentos institucionais.
Resultados
Foram 9.547 notificações, sendo 96% interpessoais. A idade das vítimas teve concentração entre 10 e 29 anos (66%), solteiros (64%), com ensino fundamental (45%), branco (44%) ou pardo (40%). Os tipos de violência foram psicológica/moral (67%) e sexual (33%). O estupro representou 59% dos casos sexuais, seguido de assédio (29%). A residência foi o principal local das ocorrências (62%), sendo 54% dos episódios de repetição. Ameaça (30%) e outros meios (21%) foram os modos de agressão. O autor era homem (67%), adulto (61%), sendo amigo/conhecido (21%) ou desconhecido (13%). Apenas 1% dos registros indicaram vínculo institucional com delegacias especializadas.
Conclusões/Considerações
Os dados revelam que homens heterossexuais também são vítimas de violências graves, sobretudo psicológicas e sexuais, sendo a maioria jovens e com baixa escolaridade. O silêncio social sobre esse fenômeno contribui para a negligência institucional. A ampliação do acolhimento e da notificação nos serviços de saúde é fundamental para enfrentar essa realidade.
AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO DE MULHERES ATENDIDAS EM CASA DE PARTO
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A assistência oferecida em casas de parto resulta na redução de intervenções sem comprometimento de desfechos positivos, sendo indicada para mulheres e pessoas gestantes de risco habitual. Frente aos reconhecidos benefícios, é crescente o interesse pelo modelo de cuidado oferecido nesse contexto, mas o incentivo para a construção de mais estabelecimentos do tipo ainda é insipiente no Brasil.
Objetivos
Visando a produção de indicadores que embasem a expansão das casas de parto como política pública no Brasil, o objetivo deste trabalho é analisar a satisfação das mulheres assistidas em uma casa de parto privada na cidade de São Paulo.
Metodologia
Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, realizado em casa de parto privada em São Paulo. Participaram mulheres que tiveram parto normal assistido integralmente no local entre maio/2021 e junho/2022, selecionadas por amostragem voluntária. Foram excluídas aquelas com transferência intraparto ou indisponibilidade para participar. A coleta de dados foi feita via formulário Google com questões do Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP).
Resultados
O poder de escolha quanto às intervenções realizadas durante o trabalho de parto, parto e puerpério imediato foi unânime entre as mulheres, que relataram ter ficado bastante ou muito satisfeitas com as condições físicas e a assistência recebida em todo o processo. Apenas 22,3% e 17,8% das mulheres relataram ter sentido medo durante o trabalho de parto e parto, respectivamente. Sentimentos de prazer e satisfação foram bastante ou muito presentes no trabalho de parto e parto de 28,9% e 37,8% das entrevistadas, respectivamente. Durante o puerpério imediato, o medo foi experienciado por 29% das mulheres. Todas as mulheres afirmaram que o cuidado recebido foi muito melhor do que esperavam.
Conclusões/Considerações
Destaca-se a importância das casas de parto e o papel das enfermeiras obstetras/obstetrizes na promoção da assistência ao parto de qualidade. Tais espaços favorecem a autonomia da mulher/pessoa parturiente, a redução de intervenções desnecessárias e a satisfação geral com a experiência do parto. A democratização desse espaço no âmbito do Sistema Único de Saúde pode contribuir para a redução de vulnerabilidades programáticas na saúde reprodutiva.
DESCRIÇÃO DE CARGOS DE UMA CASA DE PARTO AUTÔNOMA NA CIDADE DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A expansão das casas de parto autônomas no Brasil representa um marco significativo no fortalecimento de um modelo de cuidado humanizado e centrado na mulher e pessoa gestante. Esses ambientes se consolidam como alternativas viáveis e seguras para a assistência ao parto alinhada às diretrizes de saúde pública que preconizam a autonomia da parturiente e a redução de intervenções desnecessárias.
Objetivos
Analisar a estruturação da equipe em uma Casa de Parto autônoma em São Paulo, focando nas funções, competências e processos de trabalho, tendo como produtos finais a elaboração de fichas profissiográficas relativas a cada um dos cargos e fluxogramas.
Metodologia
Trata-se de estudo de caso descritivo e exploratório realizado em uma casa de parto autônoma na cidade de São Paulo. A coleta de dados deu-se por meio de grupo de trabalho para o mapeamento dos cargos da instituição com a participação de três colaboradoras. De outubro de 2021 a fevereiro de 2022, foram realizados 10 encontros com duração média de 45 minutos que resultou na elaboração de fichas profissiográficas. Com o intuito de conhecer as atividades desenvolvidas no âmbito de cada cargo, houve observação sistemática no ambiente de trabalho. Após a familizarização com os processos de trabalho, elaborou-se fluxogramas para o cumprimento das funções relativas a cada cargo.
Resultados
O grupo de trabalho definiu 7 cargos básicos para o bom funcionamento, sendo eles: Coordenadora geral; Responsável Técnica, Obstetriz Assistencial; Obstetriz Junior; Analista de Marketing; Recepcionista; Auxiliar de limpeza. Com as definições dos cargos estabelecidas e os fluxogramas aplicados na prática foi possível observar melhora nos processos e otimização do tempo necessário ao emprego de funções. Tais ferramentas deixam claros os papeis de cada profissional e as condutas que devem ser empregadas em cada etapa da assistência pré-natal e intraparto, permitindo que gestante e família fiquem cientes dos processos e de quais profissionais se referenciar para um cuidado integral.
Conclusões/Considerações
O estudo de caso evidenciou a importância de uma estrutura organizacional bem definida para garantir a qualidade e segurança do cuidado obstétrico. A delimitação de competências específicas a cada função foi fundamental para otimizar o fluxo de trabalho e proporcionar atendimento humanizado e oportuno. O uso de ferramentas como fichas profissiográficas e fluxogramas operacionais mostrou-se essencial para a gestão do cuidado.
VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA E DUPLA VULNERABILIDADE: ADOLESCÊNCIA E POPULAÇÃO LGBTQIA+
Pôster Eletrônico
1 ASPROVIS
2 UNIVALE
3 UFJF-GV
Apresentação/Introdução
A violência autoprovocada (VAP) é uma grave questão de saúde pública, especialmente entre adolescentes LGBTQIA+, que enfrentam múltiplas vulnerabilidades relacionadas ao preconceito e exclusão social. Esse fenômeno envolve autoagressão, tentativa de suicídio e suicídio, exigindo atenção intersetorial. Entender os fatores associados a esse agravo pode orientar políticas públicas eficazes.
Objetivos
Este estudo objetivou analisar fatores sociodemográficos e identitários associados à violência autoprovocada entre adolescentes brasileiros, com ênfase em gênero, orientação sexual e identidade de gênero.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e analítico, com base em dados secundários do SINAN/VIVA, referentes ao ano de 2024. A amostra foi composta por 122.897 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, residentes em diversas regiões do Brasil. Foram realizadas análises descritivas e regressões logísticas binárias para identificar fatores associados à VAP, com significância estatística de 5% (p<0,05), por meio do software R, versão 4.2. As variáveis incluíram sexo, idade, reincidência, local da ocorrência, orientação sexual, violência autoprovocada (variável dependente) e identidade de gênero.
Resultados
Entre os adolescentes analisados, 71,4% eram do sexo feminino, com idade média de 14,9 anos. A VAP foi identificada em 36,9% dos casos. Essa condição esteve significativamente associada ao sexo feminino (OR=2,1), aumento da idade (OR=1,2 por ano), reincidência de violência (OR=1,8), ocorrência no domicílio (OR=4,4) e orientação sexual homossexual (OR=1,9) ou bissexual (OR=2,2). Identidade de gênero cisgênero não apresentou associação significativa. Predominaram formas físicas de agressão direta, como envenenamento e cortes com objetos perfurocortantes. As desigualdades regionais na notificação sugerem possível subdimensionamento do fenômeno em territórios com menor infraestrutura em saúde.
Conclusões/Considerações
Adolescentes LGBTQIA+ vivenciam dupla vulnerabilidade diante da VAP, impactando sua saúde mental e qualidade de vida. Os achados podem subsidiar ações articuladas do Programa Saúde na Escola, dos CAPSi, equipes de atenção primária à saúde, com enfoque na escuta qualificada e na abordagem interseccional. O reconhecimento das especificidades dessa população é fundamental para a promoção de direitos e redução do sofrimento psíquico.
LUTO PERINATAL E A MANIFESTAÇÃO DO TEPT MATERNO ASSOCIADO AO PARTO
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
A perda neonatal interrompe o investimento simbólico e emocional construído pelos pais para chegada do bebê, não apenas pela ausência do corpo físico, como também pela perda de um futuro que foi sonhado e profundamente investido. Deste modo, investigamos se a perda neonatal está associada ao desfecho mental adverso “Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) materno associado ao parto”.
Objetivos
Este estudo objetivou compreender o impacto da variável da perda neonatal no desenvolvimento de TEPT associado ao parto, visando contribuir para o fortalecimento da atenção psicossocial às mulheres que vivenciam óbitos neonatais.
Metodologia
Este estudo utilizou os dados da pesquisa de coorte “Nascer no Brasil II”. A coleta de dados incluiu uma entrevista face a face na maternidade, seguida de duas entrevistas de seguimento, aos 2 e 4 meses pós-parto. Foram incluídas 1923 puérperas entrevistadas no estado do Rio de Janeiro. Para avaliação da associação entre Óbito Neonatal e TEPT, foram utilizados modelos lineares generalizados (família Poisson e função de ligação log). Utilizou-se p-valor <0.05 associado ao coeficiente de regressão para indicação de significância estatística.
Resultados
A análise indicou uma associação estatisticamente significativa entre óbito neonatal e a ocorrência de TEPT materno associado ao parto. Em comparação com mulheres cujos bebês nasceram vivos, aquelas cujo filho nasceu morto ou veio à óbito apresentaram escores mais elevados de TEPT (β = -0,008; p-valor < 0,001).
Conclusões/Considerações
À luz dos achados deste estudo e da literatura sobre luto perinatal, reforça-se a urgência de trazer este tema ao centro dos debates e das políticas públicas. Mais do que reduzir os índices desses óbitos, é fundamental cultivar um olhar atento às famílias enlutadas. E, em sintonia com a nova Lei nº 15.139/2025, é preciso promover uma atenção integral com atuação profissional sensível ao impacto do luto nos desfechos em saúde mental materna.
ENTRE O REFÚGIO E A VIOLÊNCIA: PARADOXOS DA MIGRAÇÃO DE MULHERES TRANS VENEZUELANAS PARA O BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
A migração de mulheres trans venezuelanas para o Brasil decorre de contextos de extrema vulnerabilidade, atravessados por transfobia estrutural, violência e exclusão social em seu país de origem. Assim, em busca de refúgio, elas migram na esperança de encontrar segurança e dignidade. Contudo, há contradições entre o refúgio buscado e a realidade vivida por essas mulheres em território brasileiro.
Objetivos
Analisar os paradoxos entre a busca por refúgio de mulheres trans venezuelanas, e a perpetuação de violências no Brasil.
Metodologia
Este trabalho é um recorte qualitativo da pesquisa internacional intitulado “ReGHID”. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, cujos participantes foram 16 gestores de instituições públicas e organizações não governamentais com atuação em Boa Vista (RR) e Manaus (AM) na assistência a migrantes venezuelanos, selecionados por amostragem intencional. A coleta de dados foi por entrevista semiestruturada e a análise na modalidade temática, em Bardin, que permitiu a construção de três categorias: (1) Violências na Rota Migratória, (2) Violência em Espaços de Acolhimento, (3) Contadições e proteção. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº 3561 7020.9.1001.5087).
Resultados
Em relação às mulheres trans migrantes, os gestores percebem que os trajetos são exaustivos, com exposição a agressões físicas e sexuais, furtos, perda de pertences e documentos, além da falta de apoio humanitário e políticas protetivas nas fronteiras. Nos abrigos, em covivencia forçada com outros grupos, como homens migrantes CIS, a violência se reinscreve com práticas transfóbicas, presentes também em serviços de saúde, apontando espaços de acolhimento como locais de revitimização. Relatam que mesmo seguindo agredidas, as mulheres veem o Brasil como mais seguro, com políticas públicas, programas de refúgio, acesso à saúde (e transsexualização), mas destacam barreiras para sua efetividade.
Conclusões/Considerações
Os gestores percebem importantes paradoxos que atravessam a migração de mulheres trans venezuelanas, que buscam no Brasil um lugar de refúgio, mas continuam a enfrentar violências em diferentes etapas do percurso. Ao reconhecerem essas contradições, revelam os limites das respostas oferecidas e a complexidade das trajetórias migratórias marcadas por exclusão, demonstrando a importância das mudanças e fortalecimento de estratégias institucionais.
PROGRAMA PRISMA SAÚDE: BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS NA SAÚDE INTEGRAL, INCLUSIVA E AFIRMATIVA DA DIVERSIDADE DE GÊNERO, SEXUAL, DE EXPRESSÕES E RELACIONAMENTOS
Pôster Eletrônico
1 Ensp, Fiocruz
2 IOC, Fiocruz
3 Instituto de Saúde Publica da Universidade do Porto (ISPUP) e FACEFI - coordenador adjunto
4 UFPE
5 UNEB e CAT - Coletivo de Artistas Transmasculines
6 Liga Transmasculina João W. Nery e CEDIPA, Focruz.
Apresentação/Introdução
Pesquisa para o desenvolvimento e avaliação de um programa de capacitação sobre diversidade de gênero, sexual, de expressões e relacional para profissionais de saúde do SUS. O objetivo é ampliar níveis de saúde e bem-estar da população LGBTI+ com ênfase na sexualidade inclusiva e afirmativa, na saúde integral e equitativa para aprimorar a assistência no território e formação de multiplicadores.
Objetivos
Desenvolver, aplicar e avaliar conjunto de estratégias formativas construídas colaborativamente com a população LGBT+ para inclusão, afirmação, cuidado integral e equitativo;
Diminuir preconceitos da população LGBTI+ nos serviços de saúde.
Metodologia
A pesquisa utiliza abordagem mista, qualitativa e quantitativa, a saber: 1) Entrevistas com pessoas LGBTQIAPN+ sobre sua história de vida, experiências de afirmação e preconceitos nos serviços de saúde e demandas para saúde integral; 2) Questionário para amostra mais ampla sobre micro afirmações e violências nos serviços de saúde e aprofundar demandas para saúde integral; 3) Grupos focais com a população LGBT+ e profissionais de saúde voltados à estratégias formativas para o curso de capacitação para profissionais do SUS; 4) Execução do curso piloto propriamente dito com pré e pós teste para avaliar mudanças de atitudes e conhecimentos. O curso final será online com uso de estudos de caso.
Resultados
Síntese de 16 entrevistas: três categorias principais com uso da análise de discurso subjacente: 1) construção identitária; 2) dinâmica de poder/resistência; 3) acesso equitativo ao SUS. Demandas em saúde: necessidade de sensibilização de profissionais; respeito ao nome social; ampliação de ambulatório trans; acesso à cirurgias e hormonização para pessoas trans; pesquisas sobre efeitos da hormonização, desconhecimento de impactos da testosterona; saúde ginecológica de pessoas com útero e vagina; direitos sexuais e reprodutivos; políticas para lésbicas e pessoas bi; acesso à saúde mental; cuidado integral à saúde, não restringi-lo às DST; não realização de cirurgias em bebês intersexo.
Conclusões/Considerações
Mesmo com avanços em direitos sociais e políticas públicas em saúde, a população LGBTQIAPN+ tem barreiras de acesso aos serviços de saúde por falta de conhecimento dos profissionais sobre diversidade de gênero, sexual, de expressões e relacional bem como preconceito sob a forma de intolerância explicita ou micro agressões. A população LGBT+ aponta a necessidade de capacitação para profissionais de saúde para ampliar o acesso à saúde integral.
A RELEVÂNCIA DA INCLUSÃO DOS DIREITOS SEXUAIS NAS PROPOSTAS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA
Pôster Eletrônico
1 PUCSP
Apresentação/Introdução
Propondo abarcar o campo dos direitos sexuais e da sexualidade como um constante foco de disputas políticas, compreende-se a relevância do projeto no que tange o tensionamento de reflexões que possam mobilizar modos de, efetivamente, assegurar os princípios fundamentais propostos pela Reforma Psiquiátrica: cidadania, autonomia e a garantia dos direitos dos usuários, incluindo os direitos sexuais.
Objetivos
Analisar o modo como é compreendida a interface entre a sexualidade e a loucura nas vivências dentro dos serviços da RAPS, visando tensionar a forma que os objetivos da Reforma Psiquiátrica enquanto política são aplicados nas práticas atualmente.
Metodologia
Uma revisão da literatura sobre a temática da sexualidade em interface com o tema “loucura e saúde mental”, retomando o processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Foram abarcados estudos teóricos referentes à sexualidade e gênero, em diálogo com o primeiro volume de Foucault de “História da Sexualidade”. O estudo também foi composto por uma revisão bibliográfica de pesquisas que abrangessem os dispositivos da RAPS e os cuidados e práticas voltados à sexualidade, além de materiais de estudo de alguns recortes conjunturais levantados (loucura, sexualidade, raça e gênero) analisando a interseccionalidade entre essas estruturas no atravessamento da subjetividade e dos corpos dos sujeitos.
Resultados
São poucas as políticas institucionais de saúde mental voltadas à sexualidade que compreendam a integralidade desse dispositivo no campo da subjetividade e as especificidades de cada contexto. Na literatura é possível encontrar materiais relacionados à preocupação com as IST 's e a identificação dos usuários como uma população que se encontra em maior risco de diversas condições da saúde sexual. Os temas mais presentes em torno da sexualidade nos estudos atuais da saúde mental tratam da disfunção sexual, do impacto da medicalização na sexualidade e posicionamentos dos profissionais diante dela, evidenciando a manutenção de práticas e discursos tutelares em torno da sexualidade dos usuários.
Conclusões/Considerações
Voltar à desinstitucionalização como princípio para a vida em cidadania e promoção de trocas, implica na possibilidade dos sujeitos, marcados pelo lugar da Outridade, refazerem a própria história. Portanto, uma das urgências para que se possa construir tais caminhos na prática surge a partir da possibilidade de experimentação do próprio corpo, os prazeres acessados por meio dele e as fantasias reiterando o lugar de sujeitos do próprio discurso.
NARRAR RESTOS E PRODUZIR CORPOS: UM TRABALHO DE CO-CONSTRUÇÃO COM AS DISSIDÊNCIAS DE GÊNERO E SEXUALIDADE
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Apresentação/Introdução
Esta pesquisa emerge na direção ético-política de se opor ao bionecropoder que atinge os corpos dissidentes de gênero e sexualidade. Parte da hipótese de que a cisheteronormatividade produz restos invisíveis e indizíveis nos corpos. Através da co-construção de narrativas, aposta na potência de vida que reside nos restos, contra as lógicas mortíferas que também comparecem em práticas de saúde.
Objetivos
Co-construir narrativas singulares com pessoas de Natal/RN, que se identificam como LGBT+, e seus acervos fotográficos pessoais, apostando em um trabalho de memória singular e coletiva como forma de compartilhar a potência da vida na dissidência.
Metodologia
Pessoas dissidentes de gênero e sexualidade foram convidadas a narrar suas histórias de dissidência à pesquisadora, com o suporte de fotografias que visibilizaram restos do vivido frente à normatividade do bionecropoder, como refere Achille Mbembe, e à precariedade, conforme Judith Butler. Participaram da pesquisa uma mulher trans, lésbica e parda, um homem cis, gay e negro e uma pessoa bissexual branca, que não definiu sua identidade de gênero. Com registros de diário de campo, transcrições de áudios de escutas individuais e fotografias compartilhadas, foram escritas narrativas sobre cada participante, que puderam sugerir mudanças e relatar os efeitos do encontro com as histórias escritas.
Resultados
Foram co-construídas três narrativas, que permitem nomear as condições pelas quais uma presença (não) possibilita escutar e visibilizar a potência de vida na dissidência. Fragmentos do cotidiano contam de como uma presença alinhada aos ideais cisheteronormativos termina por reinserir o sujeito em um circuito mortífero, expondo o corpo dissidente ao indizível e ao impronunciável da violência. Também visibilizam-se presenças que reconhecem que no corpo-memória dissidente há algo a ser reacendido, que reconstrói a história em um sentido vitalizante. A potência de vida na dissidência se produz no encontro com uma presença que testemunha o trabalho da memória e da produção de corpo.
Conclusões/Considerações
A pressa – cisgênera – insiste em silenciar a potência de vida dissidente, para se defender das desestabilizações que tais corpos provocam nos ideais normativos e no campo da saúde. Não incorporar essa pressa, responsável por perpetuar circuitos mortíferos, é a oportunidade que temos para instaurar outra temporalidade e ética de cuidado, ao testemunharmos histórias movimentando restos do vivido na produção de experiências vitalizantes de corpo.
ASPECTOS CONTRATRANSFERENCIAIS EM PSICÓLOGAS FACILITADORAS DE GRUPOS DE MULHERES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PERCEPÇÕES PRELIMINARES
Pôster Eletrônico
1 Unesp - Assis
Apresentação/Introdução
O trabalho com grupos em serviços da Atenção Primária à Saúde tem se mostrado uma importante ferramenta para psicólogas. Considerando que dados sobre o acesso e uso dos serviços de saúde brasileiros mostram que este processo é atravessado por relações de gênero, o trabalho, especificamente com grupos de mulheres, vem sendo cada vez mais frequente, exigindo maior preparo das psicólogas da área.
Objetivos
Realizar revisão de literatura acerca da temática a partir de autores clássicos e contemporâneos e identificar, por meio do relato das participantes da pesquisa, aspectos contratransferenciais e seus impactos no trabalho com grupos de mulheres.
Metodologia
Esta pesquisa de campo, aprovada pelo CEP (sob o CAEE 87735925.3.0000.5401) está em fase de coleta e análise de dados, e vem sendo desenvolvida a partir de uma postura dialética por compreender que os fenômenos sociais, enquanto objetos de pesquisas qualitativas, devem ser estudados e entendidos a partir das determinações e das transformações dadas pelos sujeitos. Por isso, pretende-se coletar dados a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com 6 profissionais da Psicologia e utilizar-se da análise de discurso como método de análise dos dados obtidos, os quais serão interpretados à luz da teoria psicanalítica, sobretudo a literatura fundamentada na escola inglesa.
Resultados
Os resultados parciais alcançados dizem de questões verbalizadas pelas entrevistadas que afirmaram perceber: identificações com as integrantes dos grupos, apontando que marcadores sociais, como gênero, podem influenciar no estabelecimento da relação transferencial em processos terapêuticos; e maior facilidade em realizar grupos de mulheres adultas em comparação com outros públicos. Tais aspectos contratransferenciais reafirmam dados que foram analisados na elaboração desta pesquisa acerca de como a socialização de mulheres impacta na procura e adesão a processos de cuidado, bem como o perfil de quem, majoritariamente, acessa os serviços de saúde por meio da Atenção Primária no Brasil.
Conclusões/Considerações
A partir do desenvolvimento da pesquisa, têm-se compreendido alguns dos principais impactos gerados no desenvolvimento do trabalho com grupos a partir da transferência estabelecida entre usuárias e profissionais que se identificam com o mesmo gênero. Contribui-se para o meio científico, buscando estimular a produção desta pesquisa sobre fenômenos transferenciais que considera marcadores sociais no desenvolvimento do trabalho da Psicologia.
ESTRATÉGIAS PARA O ACESSO DA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO À CUIDADOS INTEGRAIS EM SAÚDE SEGUNDO A PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Pôster Eletrônico
1 UFES
2 ENSP/FIOCRUZ
3 UFMG
Apresentação/Introdução
Estudos mostram que pessoas transgênero enfrentam barreiras no acesso aos cuidados em saúde. Considerando que a Atenção Primária à Saúde é uma das principais portas de entrada aos serviços, é necessário compreender quais estratégias, na perspectiva dos profissionais, podem facilitar o acesso e proporcionar práticas inclusivas e que respeitem as especificidades dessa população.
Objetivos
Mapear as estratégias para o acesso integral à saúde pela população transgênero de acordo com as perspectivas dos profissionais de saúde da atenção primária.
Metodologia
Foi realizada uma revisão de escopo, de acordo com os processos metodológicos propostos pelo JBI Manual for Evidence Synthesis. Uma busca sistemática foi realizada, em maio/2024, nas bases de dados PubMed/Medline, Embase, Web of Science, Cinahl, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e na literatura cinzenta, utilizando os descritores previamente selecionados. Dois revisores avaliaram os títulos, resumos e textos completos de acordo com os critérios de elegibilidade. Dentro dos dados extraídos para um estudo primário, foram observadas as estratégias sugeridas pelos profissionais, classificadas pelos autores em dois grupos: focadas nos profissionais e focadas na equipe.
Resultados
Foram incluídos na revisão 11 estudos dos quais 8 relataram estratégias para o acesso aos serviços. Destes, participaram 168 profissionais, entre enfermeiros (62; 40%), médicos e assistentes (45; 26%), saúde mental (10; 9%), farmacêutico (1; 1%) e outros (39; 24%). Dentre as estratégias focadas no profissional estavam treinamento, criação de espaço seguro para atendimento, incentivo à conexão paciente-comunidade e reflexão crítica dos profissionais sobre as próprias atitudes. Para a equipe, a existência de um grupo diversificado, colaborativo e culturalmente competente, além do auxílio de mentores experientes foram citadas como estratégias.
Conclusões/Considerações
Foi possível identificar, a partir das perspectivas dos profissionais de saúde, estratégias focadas tanto no profissional quanto na equipe, capazes de facilitar o acesso à saúde de pessoas transgênero. As estratégias encontradas apontam, em um panorama geral, para um acolhimento qualificado, escuta ativa e o reconhecimento das necessidades dos pacientes como legítimas, gerando reações menos estigmatizantes.
PERFIL REPRODUTIVO DE MULHERES AMAZÔNICAS DA CIDADE DE MOCAJUBA, PARÁ, BRASIL (2020 - 2023)
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Laboratório de Monitoramento e Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde – MASA – Belém, Pará, Brasil.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Ciências da Saúde (ICS) – Belém, Pará, Brasil.
3 Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Ciências da Saúde (ICS),Belém, Pará, Brasil.
4 Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Belém, Pará, Brasil.
Apresentação/Introdução
A saúde da mulher é uma prioridade na saúde coletiva, especialmente na Amazônia, com seus desafios de acesso. Conhecer o perfil reprodutivo feminino é fundamental para planejar ações de saúde, como o acompanhamento pré-natal e o planejamento reprodutivo. Dados epidemiológicos locais são essenciais para uma gestão voltada às necessidades da população, justificando a relevância deste estudo.
Objetivos
Descrever o perfil reprodutivo de mulheres que tiveram seu parto em Mocajuba, Pará, Brasil, ocorridos de 2020 a 2023.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, ecológico e retrospectivo, com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados secundários do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), disponibilizados pelo DATASUS. Foram incluídas todas as Declarações de Nascido Vivo (DNV) de partos ocorridos em Mocajuba-PA, de 01/01/2020 a 31/12/2023. As variáveis analisadas foram: idade materna, escolaridade, cor/etnia, estado civil, número de consultas pré-natal e tipo de parto. Por usar dados públicos, o estudo dispensa aprovação por CEP (Res. Nº 510/16 do CNS).
Resultados
Registrou-se 1.845 nascimentos. O perfil materno predominante foi de mulheres jovens (20-29 anos, 51,5%), pardas (86,8%), solteiras (49,8%) e com 8 a 11 anos de estudo (61,4%). O achado central foi a acentuada disparidade racial no acesso ao pré-natal adequado (7+ consultas): a cobertura foi de 62,5% para mulheres brancas, caindo para 52,3% entre as pretas e 46,3% entre as pardas. O parto vaginal (61,9%) foi mais frequente que o cesáreo (37,9%).
Conclusões/Considerações
O perfil reprodutivo em Mocajuba é de mulheres jovens, pardas, com escolaridade média e sem vínculo matrimonial formal. A iniquidade racial no acesso ao pré-natal adequado é a vulnerabilidade central detectada, sugerindo barreiras estruturais. Urge a criação de políticas públicas de saúde focadas na equidade do cuidado materno, que sejam sensíveis à realidade da mulher amazônica e combatam ativamente as desigualdades.
MUDANÇAS NAS TAXAS DE FECUNDIDADE NA ADOLESCÊNCIA NAS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS ENTRE 2000 E 2022
Pôster Eletrônico
1 FSP/USP
Apresentação/Introdução
A gravidez na adolescência é um importante fator de risco para desfechos adversos em saúde materna e neonatal. Embora a adolescência compreenda idades de 10 a 19 anos, os indicadores mais comuns focam no grupo de 15 a 19 anos, limitando a produção de evidências sobre meninas mais jovens. Ainda, pouco se sabe sobre como a fecundidade tem evoluído ao longo do tempo nas regiões brasileiras.
Objetivos
Analisar a evolução das taxas de fecundidade na adolescência (TFA) no Brasil entre 2000 e 2022 a partir de dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e dos Censos Demográficos, com atenção especial às desigualdades por idade e região.
Metodologia
As TFAs em cada ano foram calculadas como a razão entre o número de nascimentos de parturientes adolescentes (<20 anos) obtidos do Sinasc e a população estimada para a mesma faixa etária no mesmo período e local, obtida dos Censos de 2000, 2010 e 2022, e apresentadas como número médio de nascimentos por 1,000 adolescentes. As estimativas foram calculadas para o grupo de 10-19 anos, 10-14 e 10-19 anos e por macrorregião de residência (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) para cada ano. Modelos de regressão linear foram empregados para informar a variação anual média (VAM).
Resultados
Nacionalmente, a TFA reduziu de 3,3 nascimentos por 1,000 meninas adolescentes para 2,0 (10-14 anos), de 81 para 40 (15-19 anos), e de 42 para 21 (10-19 anos) entre 2000 e 2022. Para o grupo mais jovem, o Nordeste apresentou as maiores taxas, apesar da redução de 9,5 para 5,5 (VAM= -0.018 nascimentos/ano). As menores taxas foram observadas no Sul e Centro-Oeste nos três anos. Para os demais grupos, o Norte apresentou as maiores TFA no período e as maiores reduções médias, passando de 112 para 66 entre meninas de 15-19 anos (VAM= -2.07) e de 57 para 36 no grupo de 10-19 anos (VAM= -0.97). Para Nordeste, Sul e Sudeste a variação foi em média -1.80 (15-19 anos) e -0.8 (10-19 anos).
Conclusões/Considerações
O Brasil apresentou importante queda na fecundidade na adolescência desde o ano 2000, mas variações regionais foram observadas no período. Apesar de as regiões Norte e Nordeste concentrarem as maiores taxas de fecundidade para menores de 20 anos, apresentaram as maiores reduções médias, o que aponta que avanços ocorreram apesar das importantes desigualdades interregionais, o que reforça a importância de estratégias e políticas regionalizadas.
GRUPO DE YOGA PARA HOMENS NA ATENÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA A INTEGRALIDADE DO CUIDADO
Pôster Eletrônico
1 UFSC
Apresentação/Introdução
O modelo hegemônico de masculinidade se reflete na baixa adesão dos homens à Atenção Básica e na alta morbimortalidade por causas evitáveis. Constata-se a dificuldade masculina no campo afetivo, impactando na sua saúde. Parte-se da hipótese de que conhecimentos da filosofia do yoga e suas técnicas podem contribuir para a integralidade do cuidado e a construção de uma masculinidade mais saudável.
Objetivos
Compreender os reflexos de ensinamentos e técnicas do yoga sobre a integralidade do cuidado em um grupo de vinculados à Atenção Básica do SUS, por meio da implementação de um projeto-piloto e da análise de seus efeitos na saúde e masculinidade.
Metodologia
Estudo etnográfico que acompanhou a implementação de um curso de ‘Yoga para Homens’ em Florianópolis-SC. Após a realização de um grupo-piloto, realizou-se a edição principal, com participantes recrutados via Centros de Saúde e mídia. Com base em apostila realizada pelo pesquisador, foram realizados encontros semanais com exposição temática sobre conceitos filosóficos do Yoga (como ahiṃsā, kāma, puruṣārtha, dharma) com reflexões sobre saúde integral e masculinidades, rodas de conversa e práticas de meditação. A coleta de dados incluiu gravação em áudio dos encontros, diário de campo e entrevistas individuais. Utilizou-se a análise temática para interpretar as vivências dos participantes.
Resultados
Foram realizados dois cursos, com baixa adesão de usuários da Atenção Básica, mas com alcance ampliado pela mídia. Embora com evasão, os participantes que permaneceram relataram impactos significativos, como maior clareza sobre a identidade masculina, as relações interpessoais e os múltiplos papéis na família e sociedade. Também indicam a aplicação de técnicas meditativas em situações de estresse agudo. A percepção sobre o yoga foi ressignificada, saindo da ideia de prática física para se tornar uma ferramenta de autorreflexão, centrada na escuta e meditação. Evidenciou-se também a formação de um senso de comunidade, com a criação espontânea de um grupo para continuidade das interações.
Conclusões/Considerações
O projeto visa aprimorar o cuidado integral ao homem com uma tecnologia leve e de baixo custo. A experiência promoveu o fortalecimento de vínculos e o engajamento masculino no autocuidado. A iniciativa representa uma estratégia de promoção da saúde com potencial para educação permanente e replicação em outros serviços públicos, qualificando, por um lado, a atenção às masculinidades na rede pública de saúde e, por outro, o yoga ofertado no SUS.
TECNOLOGIAS DE PREVENÇÃO E CUIDADO EM HIV/AIDS: NOVOS ACTANTES E DESDOBRAMENTOS EM CENA
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 UNEB
Apresentação/Introdução
No contexto de avanços biomédicos no campo da prevenção ao HIV/aids, destacamos as profilaxias pré-exposição (PrEP) e a carga viral indetectável e intransmissível (I=I) como actantes, com sua capacidade de produzir deslocamentos em uma rede de relações. Ao tempo em que reconfiguram práticas e possibilitam experiências sexuais mais livres, essas tecnologias atualizam valores e polaridades.
Objetivos
Discutir as novas tecnologias de prevenção como actantes, assim como colocar em primeiro plano suas dinâmicas/práticas, refletindo sobre as múltiplas e complexas configurações da prevenção e cuidado, com seus avanços e ambivalências.
Metodologia
Essas reflexões partem de uma trajetória de pesquisa com pessoas vivendo com HIV, desde 2016, em Salvador/BA, em contextos online e offline, considerando os novos discursos e práticas biomédicas em torno da carga viral indetectável, e, mais especificamente, desde 2022, sobre o cuidado/prevenção e cotidiano do uso de PrEP do ponto de vista de usuários e profissionais de saúde. Enfatizamos, assim, as repercussões para as práticas afetivo-sexuais entre HSH, suas mudanças e persistência de barreiras/estigmas. A partir de observações participantes e entrevistas qualitativas, foram produzidos narrativas/relatos que sinalizam a actância dessas tecnologias e outros modos de prevenção/cuidado.
Resultados
Apesar de mudanças importantes e novas possibilidades interativas, persistem também dificuldades e conflitos, por exemplo, em relação à imagem de “sujeito de risco”. Outro aspecto a destacar é a discussão sobre a performatividade do cuidado em HIV/aids, considerando alguns (novos) efeitos e existências possíveis a partir de engajamentos diversos. Ou seja, algumas práticas de risco/prazer passaram a ser reconfiguradas pelo surgimento dessas novas tecnologias biomédicas, ainda que de forma ambígua e com tensionamentos. Por exemplo, se, para alguns, na posição de indetectável, o sexo “sem barreiras” já é possível; para outros, sua "materialização” parece se colocar ainda como uma questão moral.
Conclusões/Considerações
Questões práticas se colocam no cotidiano de diferentes pessoas e que não devem ser negligenciadas ou deixadas em segundo plano, principalmente no momento em que são implementadas novas tecnologias biomédicas de prevenção. Todas essas discussões e desdobramentos em torno do HIV/aids mostram também as múltiplas formas (complexas) da prevenção e cuidado. Múltiplos efeitos decorrentes da associação e interação de muitos atores/atrizes/actantes.
ANÁLISE DE FRAGILIDADES NA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA NO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL NA ÓTICA DE MULHERES QUE VIVENCIARAM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO NO RIO GRANDE DO NORTE
Pôster Eletrônico
1 UFRN
2 SESAP/RN
Apresentação/Introdução
A saúde materna abrange saúde da mulher durante o período gravídico-puerperal. A mulher pode experienciar eventos propícios a gerar complicações e risco de morte. Vários são os fatores que podem afetar a mortalidade materna, como: a qualidade da assistência, a assistência ao parto e puerpério, a assistência às emergências obstétricas, as consultas de pré-natal realizadas dentre outros.
Objetivos
O objetivo do trabalho é analisar as fragilidades na atenção à saúde materna no período gravídico-puerperal na ótica de mulheres que vivenciaram gravidez de alto risco no Rio Grande do Norte.
Metodologia
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa em andamento. Foram realizadas 12 entrevistas com roteiro semiestruturado com mulheres que vivenciaram gestação de alto risco. Os dados empíricos foram analisados por meio das etapas da análise temática de conteúdo com auxílio do software iRaMuTeQ por meio da Classificação Hierárquica Decimal (CHD) no desenvolvimento das categorias temáticas. A pesquisa foi aprovada pelo CEP sob parecer no. 7.149.461, contemplado pela chamada CNPq/Decit/SECTICS/MS) CHAMADA Nº 21/2023-Processo 444644/2023-7 -DESPERTAR: uma proposta de intervenção educativa para o cuidado no ciclo gravídico-puerperal.
Resultados
Os resultados parciais apontam para as seguintes fragilidades presentes nos discursos das mulheres: falta de acolhimento por parte da equipe de saúde; falta de visita no pós-parto na primeira semana; cancelamento de consultas sem aviso prévio; ausência de suporte psicológico às mães durante e após o parto; poucas informações sobre pré-eclâmpsia; ausência de ações de educação em saúde. Percebe-se a necessidade de implementação de práticas de acolhimento nos serviços de saúde para proporcionar uma experiência positiva em todas as fases da assistência à saúde. A garantia da assistência no pós-parto proporciona uma redução de agravos no puerpério e proporciona sensação de segurança à puérpera.
Conclusões/Considerações
As considerações parciais do estudo apontam para a reflexão sobre como as mulheres vivenciam a assistência durante o ciclo gravídico-puerperal. É importante destacar a necessidade de garantir ações de assistência à saúde adequadas às demandas apresentadas pelas usuárias e a garantia de condições adequadas para a prestação da assistência à saúde.
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO LGBTQIA+: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO
Pôster Eletrônico
1 UFAM
Apresentação/Introdução
A formação de profissionais de saúde no Brasil ainda apresenta lacunas no atendimento à população LGBTQIA+. Apesar dos avanços, como a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, persistem barreiras no acesso, na qualidade do cuidado e na capacitação, agravando desigualdades e impactos na saúde.
Objetivos
Analisar a qualificação dos profissionais de saúde no Brasil para o atendimento à população LGBTQIA+, identificando desafios, lacunas e estratégias na formação acadêmica e na educação continuada, visando promover práticas mais inclusivas e equitativas.
Metodologia
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada nas bases SciELO, PubMed e LILACS, no período de 2014 a 2024, utilizando os descritores: “formação” anda “saúde LGBT”. Adotou-se a estratégia "Population, Intervention, Comparation, Outcome" (PICO) , considerando como população os profissionais de saúde e como intervenção a qualificação específica para o cuidado LGBTQIA+. Foram excluídos estudos de opinião, relatos de caso, pesquisas fora do Brasil ou que não abordassem diretamente a formação. A análise dos dados foi qualitativa, com síntese das principais lacunas, barreiras e recomendações para a melhoria da formação profissional na perspectiva do cuidado inclusivo.
Resultados
Foram analisados doze artigos, que apontaram fragilidades na formação acadêmica e na ausência de conteúdos específicos sobre saúde LGBTQIA+. Verificou-se que mais de 60% dos estudantes não receberam capacitação sobre o tema. Além disso, profissionais atuantes, especialmente na atenção básica, também não possuem preparo adequado. Destacam-se a necessidade de mudanças curriculares, ampliação da carga horária destinada ao tema e investimento em educação permanente. A falta de conhecimento sobre terminologias e especificidades compromete diretamente a qualidade do cuidado prestado à população LGBTQIA+.
Conclusões/Considerações
Evidencia-se a urgência de reformular os currículos dos cursos da área da saúde, incorporar conteúdos específicos sobre saúde LGBTQIA+ e promover ações de educação permanente. A qualificação adequada é essencial para desconstruir preconceitos, fortalecer a competência cultural e garantir um atendimento humanizado, equitativo e alinhado aos princípios do SUS.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, VIOLÊNCIAS NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL E FEMINISMO NEGRO INTERSECCIONAL: TECENDO DIÁLOGOS
Pôster Eletrônico
1 UFAL
2
Apresentação/Introdução
Neste trabalho dialogamos sobre uma pesquisa de iniciação científica que se dedicou a analisar 10 audiências públicas realizadas pela Comissão Especial de Violência Obstétrica e Morte Materna da Câmara de Deputados/as. À luz dos estudos do feminismo negro e interseccional, analisamos os desafios e potencialidades frente à proposta de construção de uma legislação nacional.
Objetivos
Analisar se e como os marca-dores sociais de gênero, sexualidade, cor/raça, etnia, classe, deficiência, geração e território eram considerados (ou não) nas audiências públicas realizadas pela CEVOMM.
Metodologia
O desenho metodológico da pesquisa se deu da seguinte forma:
Análise de 10 audiências públicas de domínio público realizadas pela CEVOMM, com enfoque em algumas questões:
- A formação de profissionais da saúde;
- Saúde mental no ciclo gravídico-puerperal?
- Perfil das pessoas convidadas;
- Perfil das mulheres e outras pessoas que gestam, parem, puerperam e abortam trazidas nas audiências;
A partir desses eixos orientadores, construímos quadros organizadores das informações pesquisadas, que foram analisadas à luz do referencial teórico.
Resultados
Houve predominância de pessoas brancas, cisgêneras e das regiões sul e sudeste do país enquanto “palestrantes”. A violência obstétrica foi muito nomeada como um “evento” extremamente comum na atenção à saúde obstétrica, com diversas situações, inclusive pessoais, narradas pelas deputadas relatoras e pelas convidadas. O excessivo número de cirurgias cesarianas, que coloca o Brasil no 2º lugar entre os países que mais fazem cesariana no mundo, também foi muito discutido. O tema do aborto, entretanto, apareceu de modo pontual, o que muito nos preocupa. A saúde mental foi pouco dialogada e a psicologia pareceu invisibilizada em sua função de cuidar e promover saúde mental.
Conclusões/Considerações
É urgente uma lei de enfrentamento à violência obstétrica no Brasil e investimentos no cuidado em saúde reprodutiva que considere as contribuições dos estudos feministas e movimentos sociais de mulheres, feministas, sanitaristas e de humanização do parto e nascimento garantindo que todas as pessoas que gestam, parem, nascem e abortem no Brasil, principalmente as mais vulnerabilizadas historicamente, tenham experiências dignas e humanizadas.
VIOLÊNCIA SEXUAL NAS TRAJETÓRIAS AFETIVO-SEXUAIS DE JOVENS NA CIDADE DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 USP
2 UFMG
Apresentação/Introdução
A violência se mostra, em geral, motivada por relações de poder. Nesse sentido, crianças e adolescentes estão mais vulneráveis a experiências de violência, especialmente violência sexual, que se caracteriza como qualquer ato sexual não desejado, ações de comercialização e/ou utilização da sexualidade de uma pessoa mediante qualquer tipo de coerção.
Objetivos
Analisar o atravessamento de violências sexuais nas trajetórias biográficas de jovens, entre 16 e 24 anos, habitantes da cidade de São Paulo.
Metodologia
A pesquisa “Jovens da era digital”, financiada pelo CNPq, realizou uma investigação qualitativa multicêntrica de temas relativos ao comportamento sexual e reprodutivo na juventude a partir de entrevistas semiestruturadas com 194 jovens, de 16 a 24 anos. Este trabalho utilizou as 43 entrevistas realizadas em São Paulo. De acordo com a autodeclaração, temos 21 pessoas do gênero feminino, 19 do gênero masculino, uma pessoa transmasculina, uma trans não binária e uma gênero fluido. Foi realizada uma análise temática das narrativas sobre violências sexuais presentes nas trajetórias juvenis, caracterizando as expressões das violências, atores e contextos.
Resultados
Entre os 43 entrevistados, 24 relataram experiências de violência sexual. Quinze mulheres cis e seis homens cis sofreram algum tipo de violência sexual. Além da maior prevalência entre mulheres, este foi o grupo que relatou maior reincidência, gravidade e diversidade de violências, como estupros, assédios, ameaças, coações, entre outros. As violências aconteciam, em geral, por pessoas conhecidas, da família, da comunidade ou da igreja. Violências sexuais por parceiro íntimo foram descritas somente por mulheres cis. As duas pessoas trans e a pessoa de gênero fluído relataram violências múltiplas tais como abuso sexual e episódios de assédio em ambientes públicos e através das redes sociais.
Conclusões/Considerações
A violência despersonaliza o sujeito, alienando-o da própria autonomia. Todos/as os/as jovens expressaram as repercussões das violências em suas infâncias e adolescências. Os resultados corroboram a histórica discrepância de incidência de violência sexual conforme o gênero, revelando a persistência desse cenário a despeito de uma mudança na sensibilidade social acerca do tema, fruto de políticas públicas e outras iniciativas.
ITINERÁRIOS LGBTQIAPN+ EM ALVORADA (RS): CARTOGRAFIA DE AUSÊNCIAS, CIRCULAÇÕES E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA EM UM TERRITÓRIO INVISIBILIZADO
Pôster Eletrônico
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Alvorada
Apresentação/Introdução
Alvorada (RS) abriga uma das mais antigas paradas LGBTQIAPN+ do estado, mas carece de coletivos, políticas e espaços de acolhimento. Este trabalho parte da contradição entre visibilidade e negligência, mapeando trajetórias de vida, cuidado e lazer de sujeitos LGBTQIAPN+ em um território sem suporte comunitário e institucional.
Objetivos
Mapear itinerários LGBTQIAPN+ em Alvorada, identificar vazios de políticas públicas e espaços de resistência, refletindo sobre os efeitos da ausência de coletivos e serviços nas práticas de cuidado, saúde e pertencimento dessa população.
Metodologia
Pesquisa-intervenção vinculada ao projeto “Participação social e as iniciativas de produção de saúde e de vida no território”, com abordagem qualitativa e metodologias participativas. Utilizou cartografia afetiva, observação participante e diários de campo. Focou na escuta de sujeitos LGBTQIAPN+ sobre seus trajetos em busca de saúde, lazer, cuidado e sociabilidade. O território foi analisado como espaço relacional e dinâmico, considerando práticas formais, informais e simbólicas. Os dados foram organizados em eixos temáticos e analisados com base em referenciais de interseccionalidade, cidadania subalterna e invisibilidade institucional.
Resultados
A pesquisa, ainda em andamento, já aponta que, apesar da Parada Livre existir desde 1997, Alvorada carece de coletivos organizados, ONGs, espaços de convivência e serviços de saúde preparados para demandas LGBTQIAPN+. A maioria busca saúde, cuidado e sociabilidade em Porto Alegre, revelando deslocamento estrutural. Há acolhimentos pontuais em espaços comerciais e barreiras no uso do nome social e acesso à PEP/PrEP. Os itinerários mapeados revelam silenciamento institucional, deslocamento forçado e resistências cotidianas por meio de redes informais e espaços seguros. Destaca-se ainda a invisibilidade de pessoas trans e travestis, especialmente nas áreas da saúde e empregabilidade.
Conclusões/Considerações
A cartografia tem revelado um território marcado por ausências estruturais e resistências invisíveis, mas ativas. A falta de coletivos e o frágil suporte institucional dificultam o acesso a direitos básicos da população LGBTQIAPN+. Os dados indicam a necessidade de políticas públicas contínuas e territoriais, educação permanente, articulação comunitária e atenção às políticas estaduais recentes voltadas à saúde LGBTQIAPN+.
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL LGBT: ANÁLISE DOCUMENTAL DA IMPLANTAÇÃO EM UM MUNICÍPIO DO SEMIÁRIDO BAIANO.
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual de Feira de Santana
Apresentação/Introdução
A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis/transexuais/transgêneros, queer, intersexuais, assexuais/arromânticas(os)/agêneros, pansexuais/polissexuais, não-binário(a), compõem a população LGBTQIAPN+. Este grupo vivencia uma diversidade de vulnerabilidades, ficando expostos e sendo acometidos por doenças, violências diversas e dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Objetivos
Analisar a implementação do Plano Operativo da Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSILGBT) nos eixos de Promoção e Vigilância em Saúde e Educação Permanente no município de Feira de Santana-BA entre 2013 e 2024.
Metodologia
A pesquisa, de natureza qualitativa, caracteriza-se como um estudo de caso documental. Analizou-se 82 documentos da Secretaria Municipal de Saúde. Durante a análise foi utilizado o software IRaMuTeQ®, aplicando métodos como árvores de similitude, nuvens de palavras e Classificação Hierárquica Descendente (CHD), permitindo identificar padrões e conexões entre os termos dos documentos. Por fim, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo para desvelar a intencionalidade dos documentos estudados.
Resultados
Os resultados mostram que a implementação da PNSILGBT no município ocorreu de forma fragmentada, com ações isoladas e impacto social limitado. Os principais desafios incluem a discriminação institucional nos serviços de saúde, a falta de acolhimento e a invisibilização da população LGBTQIAPN+, fatores que dificultam o acesso a atendimentos adequados. As análises de similitude e as nuvens de palavras destacaram as categorias de análise do estudo: ações de saúde, direitos e cidadania e visibilidade LGBTQIAPN+.
Conclusões/Considerações
Os resultados apontam para a necessidade de maior capacitação de profissionais, ampliação do acesso a serviços de saúde e o combate à LGBTfobia como uma diretriz institucional. Conclui-se que a efetividade da PNSILGBT depende de ações contínuas e integradas, promovendo equidade e garantindo direitos à população LGBTQIAPN+.
AS INTERSECCIONALIDADES DE GÊNERO E RAÇA ENVOLVIDAS NA ATENÇÃO PUERPERAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UNESP
Apresentação/Introdução
A Organização Mundial de Saúde define como pós-parto o período que começa imediatamente após o parto e vai até seis semanas após este, sendo um momento crítico para a pessoa que passou pela gestação. Entretanto, as ações de saúde voltadas aos corpos que passam pelo ciclo gravídico-puerperal carregam diversas contradições e muitas vezes ignoram as dimensões sociais e as complexidades do puerpério.
Objetivos
O objetivo deste relato de pesquisa é analisar as intersecções de gênero e raça presentes nos discursos e práticas relacionados à atenção puerperal na atenção primária à saúde a partir de um levantamento da literatura dos últimos cinco anos.
Metodologia
Para atender aos objetivos propostos foi realizado um estudo bibliográfico qualitativo da literatura com o objetivo de investigar marcadores relacionados a interseccionalidade de gênero e de raça em artigos que abordam discursos e práticas relacionados à atenção integral durante o período puerperal no contexto da APS. Dessa forma, a busca se deu em plataformas a partir da combinação dos seguintes descritores: “pós-parto”, “puerpério”, “raça” e “trans” buscando artigos de diversas áreas do conhecimento. Foram excluídos aqueles que estavam repetidos, assim como aqueles que não estavam em português ou que não estavam dentro do recorte temporal estabelecido dos últimos cinco anos.
Resultados
O levantamento em três plataformas: Scielo Brasil, LILACS e BVS trouxe um total de 52 artigos a partir da combinação dos descritores propostos, destes, 27 foram excluídos a partir dos critérios propostos. Logo de início foi possível observar que tanto o tema da atenção puerperal voltada para homens trans como debates acerca das diferenças de tratamento com mulheres negras durante o pós-parto estão emergindo nos últimos anos na literatura, fazendo com que se pense não só as opressões e violações desses contextos, mas também formas de enfrentamento dentro das áreas da saúde dando enfoque para a percepção e autonomia dos próprios sujeitos no contexto do ciclo gravídico-puerperal.
Conclusões/Considerações
Os resultados apontam positivamente para o aparecimento de discussões interseccionais no que diz respeito à atenção puerperal, considerando que por muito tempo prevaleceu na literatura a imagem da mulher cisgênero branca como corpo universal que receberia este tipo de cuidado, porém é preciso pontuar que esta equidade ainda é um espaço de disputa e resistências que precisa ser fortalecido.
TECNOLOGIAS DE PREVENÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS COM A PREP ENTRE HOMENS CISGÊNEROS GAYS E HSH EM SERVIÇOS DO SUS NA CIDADE DE SALVADOR
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
2 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Apresentação/Introdução
A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) representa uma inovação nas estratégias de prevenção ao HIV no Brasil. Embora sua eficácia biomédica seja comprovada, suas implicações subjetivas, relacionais e institucionais ainda são pouco compreendidas, sobretudo entre homens cisgêneros gays e outros HSH, historicamente marcados pela medicalização da sexualidade e por estigmas relacionados à soropositividade.
Objetivos
Investigar os sentidos atribuídos ao uso da PrEP por homens cisgêneros gays e HSH, e seus efeitos nas práticas de cuidado, nas relações afetivo sexuais e na interface com os serviços públicos de saúde
Metodologia
A pesquisa adota abordagem qualitativa, com realização de observação participante em serviços de referência do SUS e entrevistas semiestruturadas com usuários de PrEP. Os dados foram registrados em diários de campo e organizados para futura análise com suporte do software NVivo. Até o momento, foram priorizadas a imersão no campo e a ampliação da escuta qualitativa, com atenção aos fluxos institucionais e às experiências vividas.
Resultados
Os dados sugerem que a PrEP catalisa transformações subjetivas, afetando a percepção do risco, o prazer e a autonomia nas relações sexuais. Contudo, emergem tensões entre a promessa da prevenção biomédica e os desafios institucionais: fragilidades no acolhimento, descontinuidades nos fluxos e estigmatização persistente.
Conclusões/Considerações
A PrEP não atua isoladamente: sua potência depende de uma rede de cuidado que articule escuta qualificada, políticas inclusivas e reconhecimento das subjetividades. Assim, torna-se urgente repensar a prevenção para além do fármaco, valorizando abordagens que integrem saúde mental, prazer e cidadania nos serviços públicos.
AUTONOMIA OU CONTROLE? AVALIAÇÃO ECOLÓGICA DAS DESIGUALDADES ESTRUTURAIS NA REALIZAÇÃO DA LAQUEADURA TUBÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2015–2024)
Pôster Eletrônico
1 UFF
Apresentação/Introdução
Reconhecida como um direito reprodutivo, a laqueadura tubária ainda reflete desigualdades estruturais atravessadas por raça, classe e gênero. Este estudo analisou os padrões de realização do procedimento no estado do Rio de Janeiro (ERJ) (2015–2024), considerando os impactos da pandemia de COVID-19 e da Lei nº 14.443/2022.
Objetivos
Avaliar os padrões e desigualdades estruturais relacionadas à laqueadura tubária no ERJ (2015-2024), identificando disparidades por região, raça/cor, faixa etária, escolaridade e paridade no âmbito do SUS.
Metodologia
Estudo ecológico com delineamento de série temporal utilizando dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), extraídos via biblioteca PySUS em fevereiro de 2025. A população estudada compreende mulheres de 15 a 49 anos residentes no ERJ. Foram analisadas variáveis sociodemográficas e clínicas como região de saúde, faixa etária, raça/cor, escolaridade, número de filhos, tipo de parto, tipo de procedimento, uso prévio de anticoncepcional e caráter da internação. A análise incluiu estatística descritiva e avaliação de tendências temporais.
Resultados
Entre 2015 e 2024, foram realizadas 81.258 laqueaduras tubárias no ERJ. A taxa por 100 mil mulheres subiu de 48,5 (2015) para 658,6 (2024), com maior crescimento após 2022. Em 2024, as regiões com maiores taxas foram Baía da Ilha Grande (962,2) e Médio Paraíba (802,5). O procedimento foi associado a internações de urgência (68,2%), sobretudo em cesarianas. Mulheres sem filhos passaram de 0,2% (2015) para 8,3% (2024); 79,2% tinham 1 a 3 filhos. Em 2023, 64,09% relataram uso prévio de preservativo e, em 2024, apenas 3,58% haviam usado DIU. Mulheres pretas e pardas passaram de 45,9% (2015) para 77,1% (2024); 68,4% tinham até ensino fundamental.
Conclusões/Considerações
A laqueadura tubária no ERJ, apesar de ser um direito reprodutivo, expõe desigualdades estruturais. O aumento após a nova lei demonstra avanços, mas também reflete práticas medicalizadas, com desigualdade na oferta de métodos. A prevalência entre mulheres negras, jovens e com baixa escolaridade evidencia a necessidade urgente de políticas de justiça reprodutiva. São necessários mais estudos para aprimorar o acesso informado e autônomo no SUS.
IMPLICAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NAS PRÁTICAS DE (AUTO) CUIDADO COM A SAÚDE DE LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE RUA: REVISÃO INTEGRATIVA.
Pôster Eletrônico
1 UFMT
Apresentação/Introdução
é alarmante o aumento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexuais e outros (LGBTQIA+) vivendo nas ruas e das ruas, resultante das discriminações, preconceitos, violação de direitos intensificada pela interceccionalidade de gênero, raça, classe e orientações sexuais impactando negativamente a saúde e bem-estar desses sujeitos.
Objetivos
compreender os obstáculos e potencialidades encontradas pelas pessoas LGBTQIA+ em situação de rua para a garantia do direito ao cuidado integral da saúde
Metodologia
trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Na qual elaborou-se a seguinte questão norteadora: Quais as práticas de cuidado e autocuidado dos sujeitos LGBTQIA+ em situação de rua que levam a produção de saúde? A busca foi realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de artigos entre 2010 à 2023. Da qual resultaram 35 artigos, foram excluídos 27 artigos, obtendo-se uma amostra final de 08 estudos.
Resultados
apresentam piores condições de saúde do que os heterossexuais que vivem nas ruas. O cuidado com a saúde é muito prejudicado em razão das discriminações, preconceitos e estigmas que sofrem ao acessarem e utilizarem os serviços da rede de atenção à saúde, resultando em considerável resistência à procura dos serviços com relação a demandas específicas e ao aumento da vulnerabilidade e risco. Apesar da implementação de diversos programas e políticas públicas de saúde desde a reforma sanitária brasileira, alguns grupos sociais continuam mais vulneráveis e vulnerados devido as questões económicas e socioculturais. Mesmo diante destas adversidades desenvolvem estratégias de vida que promovam saúde.
Conclusões/Considerações
O campo da saúde é um espaço potente de diálogo e compreensão rompendo com pensamentos estereotipados propondo novas abordagens que possam responder as necessidades latentes com impactos positivos no social e na saúde. Diminuindo barreiras criadas pela cisheteronormatividade através da implementação de políticas afirmativas, de promoção de direitos em saúde contribuindo para as práticas necessárias e o cuidado integral da saúde destes sujeitos.
CIÊNCIAS SOCIAIS NAS PRÁTICAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE RUA: REVISÃO INTEGRATIVA.
Pôster Eletrônico
1 UFMT
Apresentação/Introdução
O aumento significativo de sujeitos de identidades de gênero e orientação sexual contrárias ao padrão cisheteronormativo: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexuais e outros (LGBTQIA+) vivendo nas ruas e das ruas, tornou-se uma calamidade social e de saúde. Apesar dos avanços na garantia dos seus direitos, continuam em situação de vulnerabilidades.
Objetivos
compreender a contribuição das Ciências Sociais em Saúde (CSS) para população LGBTQIA+ em situação de rua nas práticas de saúde.
Metodologia
: trata-se de uma revisão integrativa da literatura para a qual elaborou-se a questão norteadora: Qual o papel das Ciências Sociais em Saúde nas práticas de saúde dos sujeitos LGBTQIA+ em situação de rua? A busca na literatura foi realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de artigos entre 2010 à 2023. Da qual resultaram 35 artigos, foram excluídos 27 artigos, obtendo-se uma amostra final de 08 estudos. A seleção ocorreu por meio de leitura de títulos, resumos e leitura íntegra dos textos selecionados, como forma de seleção de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.
Resultados
existe resistência dos LGBTQIA+ em situação de rua em procurar pelos serviços de saúde em razão das vinolências, discriminações e racismo sofridos por eles nesses ambientes. As CSS é uma área potente para compreensão e discussão de novas formas para responder as necessidades latentes da contemporaneidade principalmente sobre as práticas de saúde sujeitos. Contribuindo para a redução da invisibilidade, desconstrução de estigmas, combate às desigualdades sociais, a o racismo e a todas as formas de discriminação contra estes sujeitos, possibilitando a construção de estratégias e políticas públicas afirmativas de inclusão e respeito às diversidades de gênero e orientação sexual.
Conclusões/Considerações
As CSS é uma área fundamental para construção, discussão e criação das políticas públicas voltadas para a atenção integral da saúde da população LGBTQIA+ que se encontram nas ruas. Contribuindo para afirmação de seus direitos, bem como, para a compreensão dos processos que os marginalizam, e provocam a “morte social”, através da constante negação de seus direitos, e naturalização das estruturas vulnerabilizantes.
DIAGNÓSTICO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL PARA A POPULAÇÃO TRANS, ATENDIDA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual Paulista – Unesp, Faculdade de Medicina, Câmpus Botucatu
2 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Apresentação/Introdução
A população trans sofre estigma e discriminação, o que se configura como barreiras no acesso à saúde. A transição de gênero pode envolver mudanças corporais e metabólicas significativas, o que requer atenção nutricional. O número de serviços de saúde que atendem a essa população tem aumentado e compreender essa dinâmica e a participação do profissional nutricionista nessa equipe é fundamental.
Objetivos
Realizar diagnóstico situacional sobre a quantidade e distribuição de nutricionistas nos serviços do Sistema Único de Saúde, que atendem a população trans e descrever os procedimentos oferecidos de atenção nutricional, no estado de São Paulo.
Metodologia
O desenho do estudo foi exploratório com abordagem quantitativa e foi realizado nos serviços públicos de saúde, direcionados para o atendimento da população trans. O projeto foi dividido em duas partes: 1) Realização de um diagnóstico situacional, com o levantamento de dados sobre o número, localização e características dos serviços de saúde implantados; 2) Aplicação de um questionário semiestruturado para nutricionistas, com o objetivo de conhecer os diferentes aspectos do atendimento nutricional. A análise quantitativa foi feita por meio de frequência simples avaliada por meio do questionário respondido pelos(as) nutricionistas.
Resultados
Foram identificados 66 serviços voltados para o atendimento de pessoas trans. Desses, responderam à pesquisa, 49 gerentes e 39 nutricionistas, sendo que a maioria (74,4%) estavam alocados em serviços situados no município de São Paulo. Quanto ao atendimento nutricional, 79,5% já havia realizado atendimento a pessoas trans. As principais demandas foram: doenças crônicas (75,6%), melhoria do padrão alimentar (67,6%) e emagrecimento (64,7%); 52,9% relataram que a hormonização poderia influenciar nas condutas nutricionais; 94% realizavam avaliação antropométrica, porém, 55,8% deles utilizavam o sexo biológico como referência para a avaliação nutricional
Conclusões/Considerações
Destaca-se a relevância do nutricionista no cuidado integral à saúde de pessoas trans, sendo fundamental a sua capacitação específica, a fim de contribuir para aprimorar a qualidade do atendimento e fortalecer o vínculo entre profissional e paciente, aspecto essencial para a adesão e continuidade do cuidado. Novos estudos são necessários para identificar métodos mais efetivos direcionados para a atenção nutricional de pessoas trans.
O QUE DIZEM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O ABORTO LEGAL NO BRASIL?
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Apresentação/Introdução
A OMS orienta que o aborto legal seja ofertado em serviços acessíveis e integrados à rede de saúde, ressaltando o papel da APS por sua resolutividade, responsabilização e coordenação do cuidado. A APS adota uma abordagem social e multissetorial, voltada ao bem-estar das pessoas, com foco em suas necessidades e preferências, sendo uma via eficaz para ampliar o acesso equitativo ao aborto
Objetivos
Entender o papel dos profissionais da saúde da atenção primária no exercício dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil e, especialmente, no acesso ao aborto legal por meninas e mulheres usuárias do SUS.
Metodologia
Tratou-se de estudo qualitativo, com a realização de entrevistas semiestruturadas. A escolha se justifica pelo interesse em compreender os significados atribuídos ao fenômeno pelos participantes. Previamente à etapa qualitativa, foi conduzida uma fase quantitativa, por meio da aplicação de um questionário estruturado (survey), divulgado por meios digitais como e-mail, redes sociais e páginas institucionais. Ao final do questionário, as participantes foram convidadas a contribuir voluntariamente com a fase qualitativa, composta por entrevistas individuais, realizadas de forma online, seguida de análise temática.
Resultados
Foram realizadas 12 entrevistas, nas quais a maioria demonstrou apoio à descriminalização do aborto e reconheceu a importância da pesquisa para ampliar o debate e a conscientização sobre o tema. Profissionais da APS relataram ter pouco ou nenhum contato com casos de aborto legal e mencionaram dificuldades para abordar o assunto tanto com usuárias do SUS quanto com colegas, devido à percepção do tema como tabu moral e religioso. Também observaram que pessoas em situação de violência frequentemente não reconhecem que estão sendo vítimas. Mesmo profissionais formados em hospitais que realizam aborto legal sentem-se despreparados para lidar com essa questão em sua prática profissional.
Conclusões/Considerações
Apesar das recomendações de protocolos internacionais, percebemos que no Brasil a APS tem baixíssima atuação em promover o acesso ao aborto legal e também em atender casos emergenciais de violência. Talvez isso ocorra devido à organização da rede de atenção à saúde, proximidade das usuárias com a equipe ou falta de conhecimento das equipes.
O ADOECIMENTO MENTAL LGBTQIAPN+ COMO EXPRESSÃO DAS DESIGUALDADES E SEUS DESAFIOS PARA A SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
A população LGBTQIA+ apresenta maior risco de depressão, ansiedade e suicídio por motivos diversos. Muitas vezes são invisibilizados nas políticas públicas, embora existam avanços legais para sua proteção, são muitos os desafios para sua implementação. Na saúde mental, persistem iniquidades que desafiam a saúde coletiva a garantir atenção integral, orientada pela equidade e pelos direitos humanos.
Objetivos
Investigar como experiências relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual impactam a saúde mental de pessoas LGBTQIA+, e refletir sobre os desafios que esses dados impõem à atuação da saúde coletiva.
Metodologia
Estudo exploratório, de abordagem quantiqualitativa, em fase de coleta de dados. Investiga-se variáveis sociodemográficas, ocupacionais, experiências de violência, percepções sobre a relação entre identidade de gênero e sofrimento psíquico em pessoas LGBTQIAPN+ residentes no Maranhão. Até o momento, 120 pessoas participaram através de um formulário online autoadministrado com perguntas abertas e fechadas. As respostas abertas submetidas à análise temática, possuem três categorias preliminares emergentes: Gênero como marcador do sofrimento psíquico, Estigma e exclusão, e Saúde sem identidade de gênero ou orientação sexual. Aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 28376520.1.0000.5087).
Resultados
Entre os 120 participantes, maioria é jovem (18–29 anos), bissexual (47) ou gay (40), 54 residem na capital (São Luís). 71 pessoas possuem o diagnóstico de doenças mentais, como ansiedade (24) e depressão (19), e a maior parte identifica de forma clara a relação entre o sofrimento psíquico a não aceitação, invalidação social e dificuldades de afirmação identitária. Apontam dificuldades de pertencimento, rejeição em ambientes sociais e familiares, e sentimentos de desamparo. A insegurança emocional e a solidão aparecem como efeitos de estigmas persistentes. Entre os que buscaram atendimento em saúde, a maioria relata que questões de gênero e sexualidade não foram abordadas.
Conclusões/Considerações
A relação entre identidade de gênero e sofrimento psíquico evidencia o impacto da cisheteronormatividade na saúde mental LGBTQIAPN+. A ausência de abordagem sobre gênero nos atendimentos, revela o apagamento institucional dessa diferença e o esvaziamento da política de saúde voltada a essa população, desafiando a saúde coletiva a produzir respostas que reconheçam a centralidade do gênero e da sexualidade na produção do sofrimento e cuidado.
ENTRE O MEDO E A MARGEM: VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA
Pôster Eletrônico
1 UEL
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos, reflexo da crise econômica e do aumento do desemprego. A situação de rua vai além da falta de moradia, envolvendo a perda de capitais econômico, cultural e social. Mulheres nessa condição, embora em menor número, vivenciam maior vulnerabilidade devido às desigualdades de gênero e violências agravadas.
Objetivos
Analisar as inter-relações entre a vivência da violência e os impactos sobre a saúde mental de mulheres em situação de rua, evidenciando como os marcadores sociais potencializam as vulnerabilidades psíquicas.
Metodologia
Trata-se de um recorte da pesquisa “População em situação de rua: acesso e barreira ao cuidado em saúde mental, interseccionalidade e equidade para a redução das desigualdades”, projeto nacional coordenado pela Universidade Federal Fluminense. Estudo qualitativo por meio da utilização do método cartográfico. Diferentemente das pesquisas qualitativas tradicionais a cartografia não tem uma forma, um passo a passo ou uma receita a ser seguida, ela se constitui a partir dos movimentos e momentos experienciados. O método cartográfico pressupõe que o cartógrafo mergulhe nas vivências e nos cenários os quais está observando e pesquisando, assim promovendo uma mistura de sujeito e objeto.
Resultados
A pesquisa teve início com a realização do mapeamento de serviços que atendem as pessoas em situação de rua, identificando as ofertas de serviços e a forma de entrada dessa população. Após diversos agenciamentos que permearam o corpo das pesquisadoras, o foco do trabalho se tornou as questões de gênero e violência. Desta forma, o campo de pesquisa foi direcionado para a República Moderada Feminina, serviço da assistência social que acolhe mulheres e seus filhos que se encontravam em situação de grande vulnerabilidade. Observou-se que o relato da violência contra mulheres em situação de rua é constante, o que muitas vezes agrava os sofrimentos psíquicos, impactando sua saúde mental.
Conclusões/Considerações
O sexismo e o racismo enraizados na estrutura social colocam as mulheres em situação de rua em uma condição extrema de vulnerabilidade, marcadas por vidas que não são reconhecidas como dignas de cuidado e proteção. Suas trajetórias evidenciam como as opressões de gênero, raça e pobreza funcionam como permissões para violências que atingem não só seus corpos, mas também suas subjetividades.
REPERCUSSÕES NA SAÚDE DE MULHERES MIGRANTES VENEZUELANAS QUE ATRAVESSARAM FRONTEIRAS POR ROTAS IRREGULARES PARA O BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Maranhão
Apresentação/Introdução
Durante a pandemia de Covid-19, o fechamento das fronteiras formais levou muitas mulheres venezuelanas a ingressarem no Brasil por trilhas clandestinas “trochas”. As rotas migratórias irregulares expõem as mulheres a múltiplas formas de violência e precarização, com impactos diretos em sua saúde. Compreender essas experiências é fundamental para orientar políticas públicas.
Objetivos
Compreender as repercussões na saúde de mulheres migrantes venezuelanas que realizaram a travessia da fronteira por vias irregulares.
Metodologia
Estudo qualitativo exploratório vinculado ao projeto Redressing Gendered Health Inequalities of Displaced Women and Girls in Contexts of Protracted Crisis in Central and South America, realizado no período de maio a outubro de 2021. Realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas com mulheres venezuelanas maiores de 19 anos, residentes em Pacaraima, Boa Vista e Manaus. Devido à pandemia de Covid-19, a coleta de dados ocorreu de forma remota e, quando possível, presencial. Foi utilizada Análise de Conteúdo na modalidade temática, com pré-análise, codificação, inferência e interpretação, com apoio do software NVivo. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMA.
Resultados
Participaram do estudo 66 mulheres adultas, residentes em Pacaraima (4), Boa Vista (19) e Manaus (43), que relataram que as caminhadas extenuantes por trilhas irregulares e montanhosas foram marcadas por fome, sede, quedas e dores. Essa travessia irregular provocou adoecimento físico, agravado pela insegurança e constante medo de assalto, estupro, ataque de animais e risco de deportação. A gravidez e/ou a presença de filhos pequenos aumentavam os riscos enfrentados. Muitas participantes referiram impactos duradouros na saúde, como dores crônicas, estresse e ansiedade.
Conclusões/Considerações
Efeitos da travessia por vias irregulares persistem muito além do período de deslocamento, impactando significativamente na saúde das mulheres entrevistadas, com consequências físicas e psicológicas. É urgente ampliar o acesso a cuidados em saúde física e mental, especialmente em regiões de fronteira. A escuta qualificada e o acolhimento humanizado são fundamentais para mitigar os efeitos traumáticos dessa jornada marcada pela violência e medo.
CONDIÇÕES DE VIDA, PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE MULHERES HETEROSSEXUAIS E NÃO HETEROSSEXUAIS ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE PUBLICA
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 UFRN
3 IFPE
4 UFAL
Apresentação/Introdução
No Brasil, observa-se uma alta prevalência de insatisfação corporal entre as mulheres de modo que a busca incessante por atender aos padrões de beleza vigentes. Os padrões corporais impostos socialmente influenciam a relação das mulheres com seus corpos e sua alimentação, especialmente quando atravessados por marcadores como a orientação sexual.
Objetivos
Investigar as relações entre orientação sexual, condições de vida, imagem corporal e comportamento alimentar entre mulheres universitárias.
Metodologia
A pesquisa contou com 150 participantes de uma universidade pública de Pernambuco. A coleta de dados foi realizada por meio de formulários on-line, que incluíram variáveis sociodemográficas, hábitos de vida, Body Shape Questionnaire, Escala de Silhuetas de Kakeshita e TFEQ-R21.Foram realizadas análises descritivas, considerando significância estatística quando p<0,05. A proposta foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme parecer nº 6.707.654 e CAAE nº 76551823.3.0000.5208.
Resultados
Das mulheres investigadas, 40,1% se identificaram como não heterossexuais. As mulheres não heterossexuais apresentaram maior prevalência de uso de álcool e fumo, mais relatos de diagnósticos de transtornos mentais, e maior frequência de preocupação com o corpo, alimentação emocional e descontrole alimentar. Observou-se associação significante entre orientação sexual e idade (p=0,02), local de moradia (p=0,01), ocupação (p=0,03), consumo de álcool (p<0,01), diagnóstico em saúde mental (p<0,01) e descontrole alimentar (p<0,01).
Conclusões/Considerações
Esses achados sugerem que a orientação sexual pode estar associada a fatores que influenciam a saúde mental e o comportamento alimentar, evidenciando a importância de se considerar marcadores sociais na compreensão das experiências corporais e alimentares de mulheres universitárias.
BRILHAR E TRANSCENDER: UMA ANÁLISE DE ENTREVISTAS QUALITATIVAS COM DEZ JOVENS TRAVESTIS E MULHERES TRANS
Pôster Eletrônico
1 INI/FIOCRUZ
2 University of California, San Francisco
Apresentação/Introdução
Travestis e mulheres trans jovens vivenciam estigma e múltiplas barreiras estruturais no acesso à saúde, em especial no campo da saúde sexual e do cuidado específico para afirmação de gênero. Este trabalho busca dar visibilidade às vivências dessa população, a partir da escuta qualificada de suas experiências, refletindo sobre os limites e possibilidades no cuidado em saúde ofertado à população.
Objetivos
Avaliar experiências, percepções e desafios em relação ao acesso à saúde entre jovens travestis e mulheres trans, identificando barreiras, estratégias de enfrentamento e demandas desta população.
Metodologia
Trata-se de análise qualitativa utilizando dados coletados da etapa formativa do projeto Brilhar e Transcender (BeT), conduzida em 2019 no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz). Foram realizadas entrevistas aprofundadas com jovens travestis e trans, de 18 a 24 anos, moradoras do Rio de Janeiro e região metropolitana. Após o consentimento, utilizou-se um guia semiestruturado com perguntas sobre informações sociodemográficas, percepção de risco e conhecimento sobre HIV, acesso à saúde e uso de tecnologias. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio de análise temática, identificando padrões, opiniões e necessidades específicas do público-alvo.
Resultados
Foram entrevistadas 10 jovens travestis e mulheres trans, em sua maioria negras (60%) e pardas (30%). A mediana de idade foi 22 anos (IQR: 21-24). A análise das entrevistas mostrou que as participantes possuíam conhecimentos básicos sobre o HIV, adquiridos através de diferentes meios, mas muitas ainda apresentavam dúvidas e inseguranças em relação ao vírus. O receio de sofrer transfobia compromete o acesso à saúde, gerando insegurança, afastamento dos serviços e dificuldades na continuidade do cuidado. Há uma demanda por informações mais específicas e acessíveis, maior acolhimento nos serviços de saúde e ações de conscientização e formação que levem em conta suas especificidades.
Conclusões/Considerações
Os relatos evidenciam a urgência de políticas que considerem as especificidades de jovens travestis e trans, com acolhimento e cuidado integral. Destacam-se a necessidade de estratégias de educação em saúde mais inclusivas e integradas, que promovam direitos, autonomia e prevenção do HIV.A formação continuada de profissionais e o fortalecimento de ações comunitárias são essenciais para enfrentar violências institucionais e ampliar o acesso à saúde.
SAÚDE SEXUAL E SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE: PERCEPÇÃO DA MULHER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Apresentação/Introdução
O envelhecimento populacional no Brasil vem crescendo de forma acelerada, trazendo à tona novas demandas em saúde, entre elas, a sexualidade da mulher idosa — tema ainda cercado por tabus e silêncios no cotidiano da Atenção Primária à Saúde (APS).
Objetivos
Esta pesquisa teve como objetivo compreender a percepção da mulher idosa sobre saúde sexual e sexualidade na APS.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado com 20 mulheres com 60 anos ou mais, usuárias de uma Unidade Básica de Saúde em Juiz de Fora (MG). A coleta de dados foi realizada entre junho e agosto de 2024, por meio de entrevistas semiestruturadas, analisadas pela técnica de Análise de Conteúdo.
Resultados
Os resultados revelaram que a maioria das participantes não se sente acolhida para discutir questões relacionadas à sexualidade durante as consultas de enfermagem, sendo raramente questionadas sobre vida sexual ou prazer. Muitas relataram desconforto ao abordar o tema, especialmente com profissionais do sexo masculino. A vivência da sexualidade foi marcada por experiências diversas com o climatério, mudanças na libido, crenças culturais, religiosas e sociais. Observou-se ausência de conhecimento formal sobre saúde sexual, o que reforça a invisibilização dessa dimensão do cuidado.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que é urgente a inclusão da temática da sexualidade nas práticas de cuidado da APS, promovendo espaços de escuta qualificada, livre de julgamentos, que reconheçam o direito ao prazer e ao autocuidado em todas as fases da vida. A valorização da escuta, do vínculo e do cuidado integral são caminhos para promover um envelhecimento mais saudável, ativo e humano.
REJEIÇÃO, NÃO ACEITAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIAL: FATORES RELATADOS POR PESSOAS LGBTQIAPN+ COMO MOTIVOS DE SOFRIMENTO PSÍQUICO E ADOECIMENTO
Pôster Eletrônico
1 UFMA
2 FACULDADE EDUFOR
Apresentação/Introdução
Pessoas LGBTQIAPN+ vivenciam altos índices de depressão, ansiedade, automutilação e ideação suicida, causados por estressores sociais e minoritários crônicos. Esses sofrimentos não se explicam por suas identidades, mas pelas desigualdades vividas. Compreender seus sentidos é essencial para que a saúde coletiva enfrente as desigualdades que o produzem.
Objetivos
Identificar os fatores relatados por pessoas LGBTQIAPN+ como causadores de sofrimento psíquico e adoecimento mental, com base em suas vivências e percepções
Metodologia
Estudo exploratório, com abordagem mista, ainda em fase de coleta, por meio de formulário online, com perguntas fechadas e abertas para pessoas LGBTQIAPN+ residentes no Maranhão. Foram abordados dados sociodemográficos, sobre trabalho, vivências em saúde mental e elementos causadores de sofrimento psíquico. As informações quantitativas foram examinadas por estatística descritiva, enquanto os relatos foram submetidos à análise temática emergindo 3 categorias: Gênero como fonte de vigilância, medo e sofrimento; Invalidação, solidão e rupturas familiares; Deslocamento e inadequação subjetiva. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE n°: 28376520.1.0000.5087).
Resultados
Entre os 120 participantes, a maioria é jovem (18–29 anos), bissexual (47) ou gay (40), e reside na capital (85). Muitos têm diagnóstico de doença mental (71), como ansiedade (24) e depressão (19). Ser LGBTQIAPN+ é viver com sofrimento por ter que se esconder e se proteger do julgamento e da violência, conviver com rejeição familiar e negação da identidade. A falta de apoio emocional, invisibilização das relações afetivas e discursos religiosos levam ao isolamento e adoecimento. Sentem-se inadequados, pressionados por normas de gênero e aparência. Vivem exclusão precoce, gerando insegurança, baixa autoestima e autossilenciamento.
Conclusões/Considerações
Os resultados revelam profundo sofrimento psíquico, marcado por estigma, rejeição, vigilância e exclusão desde a infância. A normatividade de gênero produz danos subjetivos que frequentemente culminam em adoecimento mental. Cabe à saúde coletiva reconhecer essas violências como estruturantes e repensar práticas que silenciam identidades e negam existências dissidentes.
VIOLÊNCIAS CONTRA MULHERES TRANS E TRAVESTIS: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 FCMSCSP
Apresentação/Introdução
O debate sobre gênero e sexualidade no Brasil é marcado por controvérsias que interligam saúde, ciências humanas e movimentos sociais. A violência contra mulheres trans e travestis é um problema de saúde pública significativo, evidenciado por dados alarmantes de violência e discriminação.
Objetivos
Mapear as formas de violência sofridas por mulheres trans e travestis no Brasil entre 2014 e 2024, analisando a produção científica sobre o tema.
Metodologia
Utilizou-se a metodologia Prisma-SCR e a estratégia PCC (População, Conceito e Contexto). Foram analisados 34 artigos em português, inglês e espanhol, obtidos nas bases PubMed, Scopus, Web of Science, BVS e SciELO. A análise incluiu métodos qualitativos (35,3%), quantitativos (26,5%) e mistos (17,6%).
Resultados
As violências mais frequentes foram física (41,2%), sexual (26,5%) e institucional (17,6%). A produção científica sobre o tema cresceu a partir de 2018, com pico em 2022. A pandemia de COVID-19 agravou as desigualdades, ampliando barreiras de acesso a serviços essenciais. Altos índices de depressão, ansiedade e ideação suicida foram documentados.
Conclusões/Considerações
As violências são múltiplas e interseccionais, relacionadas a gênero, raça e classe social. É urgente implementar políticas públicas inclusivas que considerem as especificidades dessa população e fomentar estudos futuros sobre acolhimento e resiliência, promovendo o protagonismo das mulheres trans na construção de políticas públicas.
QUEBRANDO BARREIRAS: PRECONCEITO DOCENTE E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NA UNIVERSIDADE
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Apresentação/Introdução
O preconceito e a discriminação sustentam hierarquias sociais. Apesar de avanços, a violência contra pessoas LGBT+ persiste, com o Brasil liderando o ranking dos países que mais mata pessoas LGBT+ no mundo. Esta pesquisa busca aprofundar o conhecimento e propor soluções para enfrentar o preconceito no contexto universitário, preenchendo lacunas em estudos.
Objetivos
Investigar o preconceito contra pessoas LGBT+ entre docentes de uma universidade pública federal
Metodologia
Pesquisa analítica, exploratória e transversal, de abordagem quantitativa a ser realizada com docentes de diferentes campi de uma Universidade Pública do interior do estado de São Paulo. Para a coleta de dados, será utilizado um formulário eletrônico contendo questões sobre o perfil sociodemográfico dos(as) participantes e a Escala de Preconceito contra Diversidade Sexual e de Gênero (Costa et al., 2016). As análises serão realizadas por regressão com distribuição binomial-negativa e função de ligação logarítmica ajustada e por pós-teste de Tukey.
Resultados
Até o momento, participaram da pesquisa 105 docentes, sendo estes: 52 mulheres cis e 53 homens cis. Desses, 81,9% (86) se declararam heterossexuais e os demais (18,1% - 19) - não-heterossexuais; a maioria dos participantes possui idade entre 40 e 60 anos (n=68). Os resultados preliminares deste estudo apontam para a presença de preconceito entre os docentes universitários, do gênero masculino, ao relatarem não se sentirem à vontade em frequentar um mesmo ambiente que travestis.
Conclusões/Considerações
Os dados ainda estão em vias de ser produzidos, contudo identifica-se a responsabilidade das instituições universitárias no fechamento do ciclo de intolerância, preconceito, estigmatização e exclusão social, fatores que geram sofrimento e dificultam o acesso e a permanência da população LGBT+ no ensino superior.
INJUSTIÇA SOCIAL, RACIAL E REPRODUTIVA: ANÁLISE DE 28 ANOS DA MORTALIDADE MATERNA EM BELO HORIZONTE
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Apresentação/Introdução
A mortalidade materna persiste elevada e é um grave problema de saúde pública e de justiça reprodutiva, dado que reflete as condições de vida das mulheres. As mulheres mais afetadas são as mais vulneráveis, as indígenas e as negras, reflexo das desigualdades sociais e do racismo estrutural na saúde, contribuindo para um cenário de mortes evitáveis pelo acesso à assistência qualificada de saúde.
Objetivos
Analisar a tendência da mortalidade materna de Belo Horizonte (BH) para a compreensão da sua ocorrência, focando nos determinantes sociais e da assistência de saúde para subsidiar as ações de redução da mortalidade evitável.
Metodologia
Análise da tendência da razão de morte maternas (RMM) de mulheres residentes em BH entre 1996 e 2024, utilizando o Sistema de Informação sobre Mortalidade e o linkage com o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. A RMM e variáveis selecionadas foram analisadas em períodos de 5 anos e utilizada a análise de regressão joinpoint da variação percentual anual (APC) e percentual média anual (AAPC), considerando p <0,05 para avaliação da tendência no período.
Resultados
A RMM está estagnada, variando de 47,2 a 44,9/100.000, sem significância estatística. Há variação intra-urbana importante (9,8 a 82,1/100.000) e a RMM de negras e pretas foi 1,2 e 1,6 vezes maior do que a das brancas. Houve aumento da idade materna >35 anos em 32,0%, redução da escolaridade < 8 anos em 72,2% e da ocupação“Donas de casa” em 53,7%. Predominam as causas diretas (52,0%), sendo hemorragia (20,5%) e hipertensão (11,4%) as principais causas e com menor redução no período; abortamento e infecção puerperal reduziram 68,2% e 75,8%, respectivamente. Houve aumento de 45,4% das mortes na Saúde Suplementar (SS) no último período e a RMM-SUS foi 46,0 e 38,3/100.000 na SS.
Conclusões/Considerações
A RMM-BH permanece elevada, expressão das desigualdades sociais, raciais e inadequação da assistência às mulheres. A análise demonstra a gravidade deste problema de saúde pública ainda sem o devido controle. Apesar da melhora dos indicadores sociais das mulheres, as maiores taxas entre mulheres pobres e negras e as causas evitáveis impõem a urgente reforma obstétrica e qualificação da assistência materna no SUS e na Saúde Suplementar.
“A DOR TEM COR?”: A EXPERIÊNCIA DA DOR EM TRABALHADORAS NEGRAS DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Doutoranda em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)
2 Professora e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz.
Apresentação/Introdução
A experiência da dor é complexa e multifatorial, sendo o trabalho espaço importante para pensá-la. Há presença majoritária de mulheres negras no trabalho em saúde, com exigências físicas e psicossociais geradoras de vulnerabilidades/dores. Neste trabalho, questionamos como se manifesta a experiência de dor das trabalhadoras negras da saúde.
Objetivos
Analisar a produção científica brasileira sobre a experiência de dor em trabalhadoras negras da saúde, considerando a dimensão interseccional de gênero, raça e classe.
Metodologia
Realizou-se levantamento bibliográfico sobre o trabalho em saúde e as experiências de dor dentre trabalhadoras negras. O levantamento foi realizado na Scientific Eletronic Libray Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores: dor ocupacional; área da saúde; pessoal da saúde; doenças ocupacionais; profissional da saúde; saúde do trabalhador. Observamos que ao inserir descritores relacionados à “raça” e “gênero” a busca se esvazia. As informações dos estudos foram sistematizadas considerando: bases conceituais e modelos teóricos; correlação classe, gênero raça/etnia; expressões de dor. Foram analisados 36 artigos científicos, em português, publicados entre 2015/ 2025.
Resultados
Os estudos representam o gênero de modo binário, predominando pessoas do sexo feminino, pretas e pardas, e em função de enfermagem. Adotam como bases teóricas: saúde ocupacional e ergonomia, modelos de estresse e funcionalidade e perspectivas epistemológicas da saúde coletiva.
As experiências de dor são descritas como problemas físicos (musculoesqueléticas e de voz) e sofrimento mental, estabelecendo-se nexo a exposições ocupacionais, relativas à organização do trabalho.
Não é explícita a incorporação da interseccionalidade. Porém, investiga-se como múltiplas categorias sociais influenciam a saúde das trabalhadoras. O racismo estrutural e seus efeitos comparecem em dois estudos.
Conclusões/Considerações
A relação trabalho em saúde e experiência de dor de trabalhadoras negras é central ao abordar o cuidado. Ela emerge em estudos de agravos e suas causas, mas ainda distante do olhar intersecional das divisões sexual e racial do trabalho. Evidenciar a dor como expressão da matriz de opressão colonial/moderna e capitalista pode contribuir a desnaturalização dessas divisões, visibilizar o trabalho do cuidado e as práticas libertadoras coexistentes.
QUANDO O CORPO FALA: A JORNADA DE HOMENS TRANS ENTRE A AFIRMAÇÃO DE GÊNERO E O ENFRENTAMENTO DA TRANSFOBIA COTIDIANA
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Apresentação/Introdução
Pessoa trans é aquela cuja identidade de gênero não corresponde a que lhe foi atribuída ao nascer. O processo identitário de pessoas trans vai além da realização de intervenções cirúrgicas, devendo ser compreendida como uma experiência singular das pessoas. Elas tendem a abandonar tratamentos de saúde mesmo estando doentes devido ao medo do preconceito e da exclusão (Torelli et al., 2025).
Objetivos
Analisar a experiência de homens trans sobre seu processo de transição.
Metodologia
Estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, desenvolvido por meio de entrevistas semi-estruturadas com homens trans residentes no Brasil. Estes foram recrutados por meio da técnica não probabilística snowball até o alcance da saturação dos dados (Moura et al., 2022). As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2011) com auxílio do software IRAMUTEQ. Os achados foram confrontados com alguns princípios da Análise Institucional, referencial teórico que se articula diretamente com o campo da Saúde Coletiva ao propor estratégias de auto-análise e autogestão de coletivos (L`Abbate, 2013).
Resultados
Participaram do estudo 18 homens trans das cinco regiões do país, majoritariamente autodeclarados brancos (66,6%), 50% com grau de escolaridade de Ensino Superior Incompleto e idade compreendendo entre 18 à 30 anos. O corpus textual compôs 4 classes: i. Estigmas de gênero no cotidiano (26,9%); ii. Experiências com profissionais de saúde (29,2%); iii. Intervenções físicas e cirúrgicas (27,8%) e iv. Sofrimentos cotidianos (16,1%). Corpos que diferem do padrão heterocisnormativo atua como força instituinte no processo de institucionalização da sexualidade e a implicação profissional com essa instituição é atravessada por crenças capazes de interferirem e dificultar o seu processo analítico.
Conclusões/Considerações
A aparência é um fator central, especialmente no que diz respeito às mudanças corporais. Os procedimentos afirmativos de gênero são esperados tanto como forma de aliviar a disforia quanto para alinhar a autopercepção com a forma como são vistos. A valorização da passabilidade proporcionada pelas intervenções contribui com o fortalecimento emocional diante da violência. Além disso, uma rede de apoio é fundamental ao processo de transição.
MULHERES TRANS E TRAVESTIS: SAÚDE MENTAL E ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE MINAS GERAIS
Pôster Eletrônico
1 ESP-MG
2 PUCRS
3 UFMG
4 UFRJ
Apresentação/Introdução
Embora a Política Nacional de Saúde Integral LGBT destaque que pessoas LGBTQI+ têm garantia de acesso aos serviços do SUS, com qualidade e acolhimento de suas demandas, no caso da população trans e travesti, estudos apontam vários tipos de violências contra esses usuários nos espaços da saúde. Somado ao desamparo de políticas públicas, e outros sofrimentos temos o comprometimento da saúde mental.
Objetivos
Analisar a percepção de saúde mental e acolhimento na rede de atenção primária do Sistema Único de Saúde, de 12 mulheres trans e travestis residentes em Minas Gerais, Brasil.
Metodologia
O estudo adotou a perspectiva teórico metodológica da história oral. Foram 12 entrevistadas, residentes em 09 municípios do Estado de Minas Gerais. Foram contempladas diferentes faixas etárias, classes sociais e identificações raciais, todas se identificam enquanto mulheres trans ou travestis. Para a coleta de dados foi utilizado roteiro semi estruturado em 07 eixos: As entrevistas foram gravadas e transcritas. A análise dos dados foi realizada na perspectiva da análise de conteúdo. Neste trabalho foi analisado o acolhimento dos profissionais de saúde às mulheres trans e travestis. A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética da Fiocruz/MG e da Fhemig/MG e tem apoio financeiro da FAPEMIG.
Resultados
Os relatos evidenciam múltiplas violências no atendimento à saúde dessas mulheres. Destacam-se a tentativa de cisgenerização, a negação da identidade trans, desrespeito ao nome social, baixa capacitação dos profissionais e dificuldade de acesso a especialistas, exigindo deslocamento para outra região ou instituição. Como consequência aparecem a vergonha e o receio de acessarem os serviços, junto com a prática da automedicação. Nesse contexto, a transfobia presente no SUS, somada a outros cenários de violência, parece cooperar para o adoecimento mental. No entanto, ainda que de maneira lenta e desigual, o SUS tem se transformado, impulsionado pela atuação política delas nos serviços de saúde.
Conclusões/Considerações
É necessário investir na educação permanente dos profissionais de saúde, ampliar no SUS os tratamentos e os profissionais essenciais ao cuidado das mulheres trans e travestis e fortalecer as políticas de cuidado LGBT+ já existentes. Com o objetivo de reduzir o preconceito, ampliar o conhecimento e promover o cuidado integral às mulheres trans e travestis, pois, a promoção do acesso digno e inclusivo contribui para a melhora da saúde mental delas.
GEORREFERENCIAMENTO DOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO ABORTAMENTO LEGAL EM MINAS GERAIS: AVALIAÇÃO DO ACESSO E PROPOSIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pôster Eletrônico
1 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS / Mestrado profissional em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência da FM/UFMG
2 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
3 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
Apresentação/Introdução
O abortamento legal no Brasil é garantido nos casos de violência sexual, risco à vida da gestante e anencefalia fetal. A oferta desse serviço enfrenta desafios relacionados à disponibilidade e acessibilidade dos hospitais de referência, especialmente em Estados de grande extensão territorial, como Minas Gerais (MG), o que pode gerar iniquidades no acesso aos serviços pelas mulheres.
Objetivos
Mapear hospitais de referência para aborto legal em MG, avaliar a distribuição dos serviços e propor estratégias de ampliação, considerando maternidades relevantes e regiões vulneráveis, no intuito de garantir o acesso equânime aos serviços.
Metodologia
Trata-se de estudo ecológico utilizando dados secundários. Para identificação dos hospitais de referência para Aborto Legal, foi utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); as distâncias do pólo mais distante da microrregião até o hospital de referência foram identificadas via Google Maps; para proposição da expansão da rede, foram considerados hospitais da rede de violência sexual e maternidades do Valora Minas; para estimar a demanda de atendimento, foram utilizados dados do DATASUS e taxa de 15% de gravidez por estupro considerando notificações e procedimentos pós-abortamento. Os dados foram georreferenciados via Quantum Geographical Information System (QGIS).
Resultados
Das 108 instituições que atendem vítimas de violência sexual no Estado, apenas 34 são referência para abortamento legal, cobrindo 15 das 16 macrorregiões, com ausência na macro Centro-Sul. Os resultados revelam deslocamentos de até 377 quilômetros (km) ou 6 horas, afetando especialmente as regiões Norte, Jequitinhonha e Triângulo Sul. A proposta de ampliação da rede, com inclusão de hospitais com capacidade técnica, reduz significativamente tempo e distância, ampliando a cobertura e promovendo maior equidade. A reestruturação fortalece os princípios do SUS, como regionalização, integralidade e equidade no acesso à saúde reprodutiva.
Conclusões/Considerações
O estudo evidencia lacunas na assistência às mulheres vítimas de violência sexual em MG e reforça a importância da ampliação e descentralização dos serviços de Aborto Legal. Isso permite reduzir a distância até os hospitais de referência, promovendo acesso mais rápido, humanizado e integral. A articulação entre gestores, a sensibilização de profissionais e o mapeamento das capacidades institucionais são essenciais para efetivar esse cuidado.
AMBULATÓRIO DE ´ESPECIALIDADES´ TRANSCENDER: ORIGENS, DESENVOLVIMENTO E PRÁTICAS DE CUIDADO À POPULAÇÃO TRANS DE CAMPINAS
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
Narrativa da historia do Espaco Transcender em Campinas buscando compreender sua origem, é fundamental reconhecer a luta coletiva de profissionais de um centro de saúde periférico, bem como da população transexual.
Objetivos
Descrever e refletir sobre o surgimento de um espaço de resistência e cuidado em saúde para a população transexual na cidade de Campinas apontando fortalezas, fragilidades e desafios de qualificao de praticas de cuidado.
Metodologia
Esta narrativa compõe apenas um recorte de uma pesquisa multicêntrica financiada pelo CNPq, que busca compreender como populações indígenas, pessoas em situação de rua e sujeitos LGBTQIAPN+ constroem seus próprios modos de cuidado em saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, de inspiração cartográfica, que utiliza ferramentas como o usuário-guia, oficinas, rodas de conversa e narrativas baseadas em memórias e interações sociais. Para Bruner (2002), a narrativa é uma forma de interpretar o mundo e agir a partir dessas interpretações. Clandinin e Connelly (2000) compreendem-na como possibilidade de conhecer a experiência vivida por meio da relação entre pesquisador e participante.
Resultados
O ambulatório surgiu da articulação entre a sociedade civil e profissionais engajados na luta contra o preconceito, em um território historicamente marginalizado. Hoje, representa um importante espaço de resistência para usuários e trabalhadores. Em um cenário ideal, todos os centros de saúde garantiriam o processo de afirmação de gênero, e ambulatórios especializados não seriam necessários. Enquanto isso não se concretiza, é urgente um apoio governamental efetivo, com metas de cuidado e respeito às Políticas Públicas já existentes — sem retrocessos simbólicos, como a proibição de banheiros neutros, ou o abandono institucional do Transcender.
Conclusões/Considerações
O ambulatório nasceu da mobilização da sociedade civil e de profissionais atuantes contra o preconceito em um território marginalizado. Hoje, segue como espaço de resistência. Em um mundo ideal, todos os centros de saúde afirmariam identidades de gênero. Até lá, é urgente apoio estatal real, que cumpra políticas públicas sem retrocessos simbólicos ou o esquecimento do Transcender
A AUTONOMIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA ASSISTÊNCIA À MULHER: UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PROTOCOLAR
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
Enfermeiros lideram equipes e agentes, otimizando o cuidado. Protocolos são cruciais para sua atuação, especialmente na saúde da mulher. Eles fornecem bases seguras para decisões e práticas qualificadas. Investigamos como a autonomia se manifesta nesse contexto, considerando a importância dos protocolos para a eficácia assistencial.
Objetivos
Identificar aspectos da prática profissional de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde na Saúde da Mulher que revelam autonomia na assistência. Compreender a extensão e características dessa autonomia no cotidiano da APS, destacando manifestações e desafios.
Metodologia
Estudo descritivo, qualitativo, em municípios do Piauí. Participaram 20 enfermeiros, com mais de 3 anos de atuação na APS (capital/interior). Seleção dos municípios aleatória por categoria do IBGE e das equipes no município por "bola de neve". Coleta de dados via entrevistas semiestruturadas no Google Meet, realizadas entre Abril e Junho/2021, após treinamento. Dados analisados por por análise temática. Aprovado pelo CEP/FS/UnB (CAAE n. 20814619.2.0000.0030). Assegurou-se conformidade ética e TCLE para os participantes.
Resultados
Destaca-se a autonomia das enfermeiras da APS na saúde da mulher. Das 20 entrevistadas, 18 afirmaram maior autonomia no campo ginecológico e obstétrico. Práticas como pré-natal, prevenção de câncer do colo uterino e mama e manejo de ISTs foram citadas como áreas de autonomia. A autonomia é ligada à clareza e familiaridade com os protocolos e atividades bem estabelecidas. Contudo, lacunas em áreas complexas e interdisciplinares foram constatadas. Somente 6 enfermeiras relataram atuar na assistência a mulheres em situação de violência e 2 em educação em saúde reprodutiva. Isto indica que a autonomia, embora presente na saúde da mulher, parece restrita a ações predominantemente protocolares.
Conclusões/Considerações
A autonomia é reconhecida pelos profissionais, mas revela-se limitada em sua extensão e profundidade. Evidenciou-se que a atuação autônoma concentra-se em ações protocolares, onde diretrizes claras e estabelecidas oferecem arcabouço para a prática. A baixa participação na assistência a mulheres em situação de violência e na educação em saúde reprodutiva aponta para a necessidade de expandir o escopo da atuação autônoma além do protocolar.
INFECÇÃO GENITAL PELO HPV EM MULHERES QUE FAZEM SEXO EXCLUSIVAMENTE COM MULHERES, EXCLUSIVAMENTE COM HOMENS E COM AMBOS
Pôster Eletrônico
1 UNESP
Apresentação/Introdução
Poucos estudos internacionais investigaram a prevalência do HPV genital entre mulheres que fazem sexo com mulheres e, em âmbito nacional, há lacuna de conhecimento sobre a infecção quando se considera, em separado, mulheres que fazem sexo exclusivamente com mulheres e mulheres que fazem sexo com mulheres e com homens.
Objetivos
Analisar a prevalência da infecção genital pelo HPV por qualquer genótipo e por genótipo de alto risco oncogênico em mulheres que fazem sexo exclusivamente com mulheres, exclusivamente com homens e com ambos.
Metodologia
Estudo transversal, desenvolvido em Botucatu/São Paulo, incluindo 453 mulheres, classificadas em 3 grupos, conforme a prática sexual, autodeclarada, nos últimos 12 meses: Grupo 1 - Mulheres que fazem sexo exclusivamente com mulheres (MSM) (n=149); Grupo 2 - Mulheres que fazem sexo com mulheres e com homens (MSMH) (n=80) e Grupo 3 - Mulheres que fazem sexo exclusivamente com homens (MSH) (n=224). Os dados foram obtidos por meio de questionários e exame ginecológico. A detecção da infecção pelo HPV das amostras endocervicais foi realizada por testes moleculares. A comparação dos grupos foi realizada pelos testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher. Estudo aprovado pelo comitê de ética local.
Resultados
A maioria das participantes tinha até 29 anos (65,8%), 12 anos ou mais de estudo (76,1%), não vivia com a parceria (79,2%), tinha renda familiar per capita menor que dois salários-mínimos (60,5%) e autodeclarou-se branca (74,8%). A prevalência geral da infecção pelo HPV por qualquer genótipo e por genótipo de alto risco foi de 53,4% e 35,5%, respectivamente. MSM tiveram menores prevalências da infecção pelo HPV por qualquer genótipo e por genótipo de alto risco que MSMH e MSH (39,6% vs. 67,5% e 57,6%; p<0,001 e 22,1% vs. 46,2% e 40,6%; p <0,001, respectivamente).
Conclusões/Considerações
Apesar de MSM apresentaram menores prevalências da infecção genital do HPV por qualquer genótipo e por genótipo de alto risco em comparação às MSMH e MSH, em função das altas prevalências observadas, todas mulheres apresentavam elevada vulnerabilidade ao câncer de colo uterino e a outros agravos decorrentes da infecção pelo HPV, necessitando serem rastreadas para lesões pré-neoplásicas e neoplásicas.
ACONSELHAMENTO CONTRACEPTIVO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ANÁLISE SEGUNDO O METHOD INFORMATION INDEX (MII)
Pôster Eletrônico
1 Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
2 Universidade de São Paulo (USP)
Apresentação/Introdução
O aconselhamento contraceptivo contribui para a escolha informada, o uso consistente e a satisfação com o método contraceptivo. Estudos que avaliam o aconselhamento contraceptivo são ainda incipientes no Brasil, o que dificulta a identificação de aspectos que possam ampliar a qualidade da atenção em contracepção na atenção primária à saúde (APS).
Objetivos
Avaliar a qualidade do aconselhamento contraceptivo ofertado à usuárias da atenção primária em Porto Velho-RO por meio do Method Information Index.
Metodologia
Estudo transversal com 379 usuárias de contraceptivos de 17 unidades de APS de Porto Velho-RO, entre outubro de 2024 e maio de 2025. O instrumento contemplou três questões sobre aconselhamento contraceptivo segundo o MII: informação sobre outros métodos além do utilizado; efeitos colaterais; e como proceder em caso de efeitos colaterais. Foi analisada a proporção de respostas positivas a um, dois e três itens simultaneamente (quanto maior a proporção de itens respondidos melhor a qualidade do aconselhamento). Utilizou-se o teste X2 para avaliar diferenças entre mulheres que foram orientadas sobre os três componentes do indicador, e aquelas que não receberam informações ou receberam parciais.
Resultados
Os métodos contraceptivos mais utilizados eram injetáveis (39,3%), DIU de cobre (25,3%) e pílula (16,9%). Apenas 98 mulheres responderam “sim” às três questões do MII simultaneamente (25,9%), enquanto 134 (35,3%) e 88 (23,2%) responderam a uma e duas respectivamente, e 59 (15,6%) não receberam nenhuma orientação. Observou-se que quanto menor o status socioeconômico das mulheres, melhor a qualidade do aconselhamento (p=0,044). Mulheres que estava utilizando o método pela primeira vez na vida receberam mais orientações: dois (30,4%) e três itens(29,5%) do MII (p=0,047). Não houve diferenças em relação ao tipo de método utilizado e a qualidade do aconselhamento.
Conclusões/Considerações
Segundo o MII, a qualidade do aconselhamento contraceptivo foi relativamente baixa, visto que apenas um quarto das mulheres recebeu os três tipos de informação que compõem o indicador. Por essa razão, é necessário capacitar trabalhadores da saúde para que possam ofertar aconselhamento contraceptivo qualificado de forma a contemplar as necessidades em saúde sexual e reprodutiva de todas e todos.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA CONTRA MINORIAS SEXUAIS E DE GÊNERO NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pôster Eletrônico
1 UPE
2 SESAU
Apresentação/Introdução
A violência contra minorias sexuais e de gênero é um agravo com forte expressividade no Estado de Pernambuco, que pode ser mais bem compreendida a partir de panoramas epidemiológicos de suas conjunturas. Em 2015 foi atualizada a ficha de “Notificação Individual de Violência Interpessoal/Autoprovocada” do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), instrumentalizando esse panorama.
Objetivos
O trabalho teve por objetivo traçar o perfil da violência contra minorias sexuais e de gênero no Estado de Pernambuco a partir dos casos notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no período de 2016 a 2019.
Metodologia
Foi conduzido um estudo observacional e analítico, do tipo série temporal, baseado em dados secundários, a partir de 11 variáveis, caracterizando as vítimas, os tipos de violências e os agressores, as quais foram trabalhadas no software IBM SPSS 29. A presença de associação entre as variáveis independentes (características sociodemográficas) e a variável dependente (tipo de violência) foi investigada com a aplicação do teste qui-quadrado de Pearson. Seguiram-se as normas para pesquisas com seres humanos estabelecidas pela Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, obtendo a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco por meio do parecer 4.273.653/21.
Resultados
Foram identificados 244 casos de violência por motivação de homofobia/lesbofonia/bifobia/transfobia. Em uma análise temporal, 17,21% (42) foram registrados em 2016, 23,36% (57) em 2017, 29,51% (72) em 2018 e 29,92% (73) em 2019. Desses, 47,95% (117) foram caracterizados como violência física. Os municípios com maior número de notificações foram Recife 16,39% (40) e Petrolina 23,36% (57), somando 39,75% das ocorrências. Quanto às vítimas, 83,61% (204) foram pessoas negras; 50% (113) adultos ou jovens; 53,69% (131) pessoas do sexo feminino e 33,6% (82) se declararam heterossexuais. Foi expressiva a ausência de dados em diferentes campos da Ficha.
Conclusões/Considerações
É notável que as notificações aumentaram progressivamente desde a implementação do campo de violência por motivação de homofobia/lesbofonia/bifobia/transfobia nas fichas, mas o número reduzido de casos sugere uma subnotificação. O enfrentamento das violências contra minorias sexuais e de gênero passa necessariamente pela qualificação dos registros epidemiológicos.
O ACESSO DAS MULHERES LÉSBICAS E BISSEXUAIS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA REVISÃO DE ESCOPO NA SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFF
2 Centro de Psicologia da Universidade do Porto e União de Mulheres Alternativa e Resposta - UMAR
Apresentação/Introdução
Há uma invisibilidade da experiência de mulheres lésbicas e bissexuais, impactando negativamente sua saúde. Busca-se preencher essa lacuna e investigar como os discursos de saber-poder afetam o seu acesso e visa identificar falhas, fortalecer o debate e subsidiar políticas públicas, além de contribuir para a luta feminista, lésbica e bissexual, transformando subjetividades e ampliando o cuidado.
Objetivos
O objetivo é analisar o que tem sido produzido no âmbito da Saúde Coletiva sobre o acesso de mulheres lésbicas e bissexuais aos serviços de saúde e identificar barreiras, desafios, práticas de cuidado, além de mapear os países e períodos de produção.
Metodologia
A metodologia adotada foi a revisão de escopo, guiada pelo protocolo PRISMA. A pergunta foi: o que a Saúde Coletiva tem produzido sobre o acesso de mulheres lésbicas e bissexuais aos serviços de saúde? Utilizou-se o mnemônico PCC e foram pesquisadas as bases PubMed, Scopus e Web of Science. A revisão seguiu seis etapas: definição do objetivo e questões, identificação e seleção dos estudos, mapeamento e análise temática dos dados, e apresentação dos resultados. Foram incluídos artigos científicos nacionais e internacionais, em inglês, português ou espanhol, com recorte exclusivo para mulheres lésbicas ou bissexuais, excluindo revisões teóricas e estudos da população LGBTQIA+ em geral.
Resultados
A pesquisa indicou a existência de um número considerável de trabalhos, que com a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão, permitiu prosseguir com o planejamento da revisão de escopo. Utilizando-se a equação de pesquisa: ((lesbians) OR (bisexual women)) AND ((health services) OR (public health services access) OR (public health services accessibility)) AND ((public health) OR (collective health)), foram inicialmente encontrados 5.752 artigos na Web of Science, 494 na Scopus e 793 na Pubmed, totalizando 7.039 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, chegou-se a 1.443 artigos, os quais seguirão para a fase de leitura e análise temática.
Conclusões/Considerações
O estudo ainda está em andamento, mas já indica pouca produção científica sobre o tema e reforça a necessidade de estudos e políticas públicas que promovam o cuidado em saúde de mulheres lésbicas e bissexuais, reconheçam suas especificidades e ampliem o debate sobre diversidade nos serviços de saúde.
SINGULARIDADES DE SER MULHER E VIVER COM HIV/AIDS: UM ESTUDO QUALITATIVO
Pôster Eletrônico
1 UEFS
Apresentação/Introdução
A infecção pelo HIV tem passado nos últimos anos por uma mudança no perfil edificando um processo de feminização, o qual deve ser considerado os diversos processos de vulnerabilidades vivenciada por mulheres de um modo geral, e que podem ser potencializadas as que são infectadas por esta enfermidade, isto ocorre principalmente pelo fato da sociedade ser dominada culturalmente pelo patriarcado.
Objetivos
Conhecer os processos singulares da vida e do viver de mulheres infectadas com HIV/AIDS em um município no Nordeste do Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório realizado em um serviço de saúde que é referência municipal que atende doenças infecciosas em uma cidade do Nordeste do Brasil. Para participar da pesquisa precisa seguir os seguintes critérios: ser mulher com diagnóstico - HIV/AIDS, ser atendida a mais de um ano no serviço e ser maior de idade. O número de participantes (12) foi definido por saturação das respostas. Para a produção dos dados, utilizou a entrevista semiestruturada e a sua interpretação foi alicerçada na Análise temática, com a construção de uma trilha interpretativa e executada uma síntese horizontal para análise final. A pesquisa está aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados
Ser mulher e viver com a infecção do HIV se apresenta com um drama, devido o preconceito de gênero e demais estigmas relacionados à AIDS, era comum a vergonha em ser mulher e manter relações monogâmicas e ser infectada pelos parceiros, e muitas são abandonadas por este e não conseguem (re)encontrar novas relações afetivas, o que faz viver isolada socialmente. Além disso, é perceptível a responsabilidade em não transmitir a doenças para outras pessoas, e com isso, o medo de contar sobre a infecção a novos parceiros, e com isso a possibilidade de sofrer discriminação e preconceito por outras pessoas. Esta realidade produz mulheres que vivem uma tristeza permanente e um sentimento de culpa.
Conclusões/Considerações
O abandono e o sentimento de tristeza é uma realidade da mulher que vive com HIV/AIDS, influenciada por uma sociedade patriarcal, portanto, há uma necessidade de ressignificação da vida e a busca do enfrentamento desta realidade, portanto, o cuidado me saúde precisa garantir o manejo destas condições para que de fato oferte uma atenção a saúde integral e resolutiva.
BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Pôster Eletrônico
1 UFG
2 SMS
3 UNIFAN
Apresentação/Introdução
Nas maternidades públicas brasileiras, a implantação e implementação das boas práticas assistenciais referenciadas pela Organização Mundial de Saúde, no modelo humanizado de parto e nascimento, tem sido um grande desafio, por demandar educação permanente, interprofissionalidade e escuta qualificada e relação de confiança com as mulheres, para a promoção de sua autonomia e experiência positiva.
Objetivos
Verificar o atendimento ou não às recomendações da Organização Mundial de Saúde de boas práticas de atenção obstétrica à admissão, internação e no 10º dia pós-alta.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, realizado entre 2023 e 2024, em uma maternidade pública da capital de Goiás, com puérperas de 18 anos ou mais, alfabetizadas, de ambos os tipos de parto, no Alojamento Conjunto. Aplicou-se o questionário Termômetro da Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança na admissão (entrevista presencial), na internação (prontuário) e no 10º dia pós-alta (entrevista telefônica) e a análise estatística descritiva com apresentação de frequência e percentual para variáveis qualitativas e de média, erro padrão e desvio-padrão para variáveis quantitativas.
Resultados
Entre as 300 participantes houve predominância de características clinicas e obstétricas de risco habitual e com desfechos satisfatórios no parto e pós-parto. A maioria teve percepção de segurança e privacidade em relação à assistência, respeito ao consentimento prévio, comunicação assertiva, atenção digna, cuidado contínuo e respeitoso sem danos ou maus tratos, que favoreceram a recomendação da instituição para outras mulheres. Um terço teve percepção de violência caracterizada por desrespeito, discriminação e constrangimento e 4,33% dos recém-nascidos teve APGAR abaixo de sete após o quinto minuto e 43,3% não teve contato pele a pele, principalmente nos partos cesáreos.
Conclusões/Considerações
A instituição demonstrou seguir a maior parte das diretrizes da Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança e das boas práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, apesar da baixa adesão à apresentação ao Plano de Parto e a participação das Doulas na assistência, a ausência da oferta da analgesia farmacológica com punção lombar e a dificuldade da realização do contato pele a pele durante as cesáreas eletivas.
ACESSO E TRAJETÓRIA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MULHERES SEGUNDO O FINANCIAMENTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: ESTUDO TRANSVERSAL.
Pôster Eletrônico
1 UFMG
2 UFES
Apresentação/Introdução
A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha papel fundamental na garantia do acesso equitativo aos serviços de saúde no Brasil. Durante a pandemia de COVID-19, esse acesso foi comprometido, afetando especialmente as mulheres, que enfrentam vulnerabilidades agravadas por desigualdades sociais e de gênero.
Objetivos
Avaliar o acesso de mulheres aos serviços de saúde durante a pandemia de COVID-19, por meio da utilização de consultas médicas e odontológicas, segundo a posse de plano de saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado em Vitória (ES), com 1.077 mulheres ≥18 anos, entre janeiro e maio de 2022. Utilizou-se amostragem aleatória em dois estágios e aplicação de questionário estruturado via REDCap. Foram avaliados a utilização e a falta de acesso, com enfoque na utilização de serviços médicos e odontológicos, considerando o tipo de financiamento e a posse de plano de saúde. A análise foi realizada no Stata 17.0, com cálculo de prevalência e IC95%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Todas as participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Resultados
Nos 12 meses anteriores à pesquisa, a busca por atendimento médico foi maior entre mulheres com plano em comparação às sem plano. A utilização também foi superior no grupo, com plano (98,6%) frente às sem plano (87,3%), sendo a falta de acesso mais frequente entre estas. Mulheres com plano recorreram principalmente a consultórios particulares, enquanto aquelas sem plano utilizaram as UBS. Na saúde bucal, a percepção de necessidade foi maior entre mulheres com plano do que entre as sem plano. A utilização dos serviços seguiu o mesmo padrão, com maior utilização para mulheres com plano (97,3%) frente às sem plano (86,1%). A maioria, em ambos os grupos, foi atendida em consultório particular.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam uma considerável taxa de utilização de serviços de saúde, apesar da pandemia, e desigualdades entre mulheres com e sem plano no período pandêmico. Esses achados reforçam a importância do fortalecimento do sistema público, especialmente APS, e da criação de estratégias para garantir acesso equitativo mesmo em situações adversas.
ANÁLISE DAS INTERAÇÕES SOBRE ACESSO DA POPULAÇÃO TRANS AO SUS NAS REDES SOCIAIS: DESAFIOS, DISPUTAS E RESISTÊNCIAS
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
Apresentação/Introdução
O acesso da população trans ao Sistema Único de Saúde (SUS) é historicamente marcado por violações de direitos, invisibilização e negligências institucionais. Este estudo discute como as redes sociais, especialmente os perfis do Ministério da Saúde e da ANTRA, refletem e produzem discursos sobre acesso à saúde, cidadania e reconhecimento de direitos para pessoas trans no Brasil.
Objetivos
Analisar os discursos produzidos nas redes sociais sobre o acesso da população trans ao SUS, identificando tensões, disputas e sentidos atribuídos à saúde, aos direitos e à cidadania dessa população.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada na Netnografia e na Análise de Discurso na perspectiva foucaultiana. Foram analisadas postagens dos perfis @minsaude e @antra.oficial no Instagram, durante o primeiro semestre de 2024, selecionadas a partir de critérios de relevância temática e engajamento. A Netnografia permitiu observar práticas e interações nos ambientes digitais, enquanto a Análise de Discurso possibilitou compreender os enunciados como práticas sociais que produzem sentidos, sujeitos e relações de poder. O estudo articula-se aos campos da Saúde Coletiva, dos Estudos de Gênero e dos Direitos Humanos.
Resultados
Identificou-se que os discursos no perfil do Ministério da Saúde são marcados por intensa polarização, desinformação sobre o SUS, disseminação de fake news, preconceito e discursos antitrans. A ausência de informações consistentes sobre saúde trans no perfil institucional, exceto em datas simbólicas, reforça a invisibilização. Já no perfil da ANTRA, prevalecem discursos de resistência, denúncia das barreiras no acesso à saúde e afirmação dos direitos humanos, evidenciando uma concepção ampliada de saúde que articula demandas como moradia, trabalho, proteção social e respeito à identidade.
Conclusões/Considerações
A análise evidencia a centralidade das redes sociais como arenas de disputa simbólica sobre direitos e cidadania da população trans. As contradições nos discursos revelam tanto avanços quanto retrocessos no campo da saúde e dos direitos humanos. Fortalece-se a necessidade de políticas públicas intersetoriais, fomento à Educação Permanente em Saúde de trabalhadores do SUS e produção qualificada de dados que visibilizem essa população.
A SAÚDE TRANSMASCULINA A PARTIR DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM UM AMBULATÓRIO TRANS NO CONTEXTO DO SUS NO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 IFF/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O Profissional de Educação Física (PEF) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), vem atuando na Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada para o usuário e usuária no SUS. Assim, ele assume um papel importante nas principais políticas de saúde. Para as políticas de saúde trans, são poucas as iniciativas que levam em conta as práticas corporais e atividade física orientadas por PEF.
Objetivos
Investigar a contribuição da educação física para a promoção da saúde transmasculina em homens trans num ambulatório trans no SUS. Analisar a relação da saúde transmasculina com a construção da masculinidade trans através da atividade física.
Metodologia
Pesquisa em curso, de caráter qualitativo, de abordagem etnográfica e observação participante. A tese será feita em formato de artigo contendo dois. O primeiro será sobre Transmasculinidades, onde serão analisadas as questões relacionadas a essa identidade, tais como, história e demandas no campo da saúde. O segundo artigo será sobre Saúde Transmasculina, onde buscaremos conceituar esse termo e trazer dimensões de saúde para as transmasculinidades, desde o âmbito da saúde ambulatorial, até as práticas corporais e atividades físicas, e os desafios políticos que a saúde transmasculina traz para o campo da saúde coletiva. O campo empírico reunirá homens trans usuários no Serviço Identidade.
Resultados
Há pouco debate na literatura brasileira sobre práticas de atividade física e transmasculinidades no âmbito do SUS. Os resultados preliminares apontam que é necessário visibilizar as agendas políticas de saúde integral de homens trans; demonstrar a importância do profissional de educação física no cuidado à saúde trans no processo transexualizador do SUS; ampliar o entendimento de masculinidades trans brasileiras na sociedade; fomentar a discussão sobre acesso, inclusão e permanência de homens trans em espaços de práticas corporais e de atividade física dentro do SUS.
Conclusões/Considerações
Atentar que a promoção da saúde como uma das alternativas de acesso e inclusão de homens trans na prática de atividades físicas como dispositivos de cuidado em saúde, ainda representa um desafio. A assistência e cuidado de homens trans na saúde para além do processo transexualizador, também é algo que podemos contribuir ao abordarmos o tema da atividade física. Pensar cuidado em saúde no âmbito do lazer e saúde mental.
AS MATERNIDADES POSSÍVEIS EM CONTEXTOS DE USO PREJUDICIAL DE DROGAS E VULNERABILIDADE
Pôster Eletrônico
1 Instituto Aggeu Magalhães/FIOCRUZ-PE
Apresentação/Introdução
Os papeis de gênero, por meio de ideais maternalistas, impõem um modelo único de maternidade, marcando como desviantes as experiências de maternagem de mulheres que fazem uso de drogas. Esse estigma nega as capacidades e afetos dessas mulheres, apagando as maternidades possíveis e plurais que resistem e se constroem mesmo em contextos de vulnerabilidades e privação de direitos.
Objetivos
Refletir sobre maternidades possíveis em contextos de uso de drogas, vulnerabilidade e privação de direitos, a partir da escuta de mulheres que vivenciam essa realidade.
Metodologia
Este trabalho é desdobramento de uma pesquisa etnográfica intitulada “Itinerários dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres que fazem uso abusivo de drogas: um estudo de caso na cidade do Recife”. As discussões aqui trazidas são fruto da articulação entre a observação participante e a análise hermenêutica de quatro entrevistas com mulheres acolhidas numa instituição de cuidado integral a pessoas em uso prejudicial de drogas e vulnerabilidade social, entre setembro de 2024 e maio de 2025.
Resultados
Mulheres que fazem uso de drogas são estigmatizadas, têm direitos violados e mais dificuldades no exercício pleno e autônomo da maternidade. Contudo, o dispositivo da maternidade atua como quadro normativo idealizado, atrelado às ideias de poder criar, estar junto, educar e conviver com filhos. Há um suposto fracasso reconhecido por elas nessa função, associado ao uso prejudicial de drogas e o medo de perder a guarda das crianças para o Estado. A participação da família extensa e/ou outros atores, geralmente composta por mulheres, no cuidado das crianças, evidencia outras formas de cuidar, sustentadas por uma rede que fortalece essas maternidades possíveis em contextos adversos.
Conclusões/Considerações
Numa ótica interseccional, a proteção de crianças deve associar-se também à produção de estratégias de cuidado com mães em vulnerabilidade. Essas mulheres enfrentam dificuldades no exercício do direito à maternidade, mas ao acessarem redes de apoio, constroem arranjos possíveis e legítimos, ainda que distantes de uma maternidade idealizada. Assim, o cuidado coletivo e antimanicomial surge como um caminho para a promoção de direitos fundamentais.
A MASCULINIDADE HEGEMÔNICA: UMA ANÁLISE DAS VIVÊNCIAS DE HOMENS GAYS EM SANTA CATARINA
Pôster Eletrônico
1 UNIDAVI
Apresentação/Introdução
As diferentes manifestações de gênero e sexualidade estão presentes na humanidade desde sua origem. Com o desenvolvimento da sociedade moderna, pautada em regras morais binárias no que se refere às identidades de gênero, surgem discriminações e exclusões de pessoas dissidentes da binaridade de gênero socialmente imposta. É nesse contexto que se inserem os estudos sobre masculinidades.
Objetivos
Investigar as experiências de homens gays residentes em Santa Catarina a partir da perspectiva dos estudos da masculinidade.
Metodologia
A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter fenomenológico-hermenêutico, utilizando entrevistas online semiestruturadas como ferramenta para obtenção dos dados. Foram entrevistados sete homens gays cisgêneros, maiores de 18 anos e residentes em Santa Catarina. Desses, três se autodeclararam pardos, três brancos e uma pessoa preta. O convite para participação na pesquisa foi realizado por meio de grupos no WhatsApp e no Instagram do próprio pesquisador, também um homem gay cisgênero. Para a análise dos dados, utilizou-se a análise temática, que revelou três temas centrais: heterossexualidade compulsória; estereótipos sociais; e pressões internas da comunidade LGBTQIAPN+.
Resultados
Muitos dos entrevistados relataram que, desde a infância, foram forçados a seguir um padrão heterossexual, seja por medo de represálias familiares, seja pelo desejo de “ser normal”. As expectativas sociais em torno da masculinidade, especialmente no contexto de homens gays, revelam um campo complexo de performances e estereótipos, que envolve tanto a busca por aceitação quanto a resistência aos modelos hegemônicos de masculinidade. Os resultados também evidenciam as dificuldades e os estigmas que permeiam o processo de envelhecimento de homens gays cisgêneros, em uma sociedade que privilegia a juventude e impõe desafios específicos para essa população.
Conclusões/Considerações
O estudo concluiu que homens gays cisgêneros sofrem estigmas por não serem reconhecidos como homens. As normas sociais que sustentam a binaridade de gênero atravessam as relações entre os próprios homens gays, que reproduzem essa lógica excludente. Nesse cenário, a pressão para manter uma aparência jovem e corresponder aos padrões estéticos valorizados na própria comunidade se mostra recorrente, gerando experiências de exclusão.
SAÚDE MENTAL DA MULHER NEGRA: MÃE, MULHER OU CUIDADORA?
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
Apresentação/Introdução
A saúde mental das mulheres tem sido objeto de estudo nas últimas décadas nos mais diversos campos da área da saúde. As mulheres representam a maioria das pessoas acometidas de ansiedade e depressão na contemporaneidade, sendo as mulheres negras o grupo de maior vulnerabilidade psíquica no estrato social, por serem vítimas ‘preferenciais’ dos mais diversos tipos de racismo.
Objetivos
Discutir a saúde mental das mulheres negras que são mães de crianças com doença falciforme.
Metodologia
foram realizadas 7 entrevistas narrativas com mães de crianças com doença falciforme. Os critérios de inclusão foram ser mulher, autodeclarada negra e principal cuidadora de uma criança com doença falciforme. As entrevistadas foram selecionadas a partir da sua frequência em serviço de saúde (em especial pelas crises que acometiam as crianças), assim como pelo vínculo com a pesquisadora. As entrevistas foram realizadas através da plataforma Googlemeets e gravadas para posterior transcrição, tendo a sua quantidade estipulada pelo critério da saturação de resultados. Seis das sete entrevistadas eram ‘mães-solo’, responsáveis financeira, estrutural e emocionalmente por suas famílias.
Resultados
O cuidado à criança com doença falciforme exige dedicação diária e disponibilidade física e emocional direcionada aos cuidados preventivos, de tratamento, promoção e reabilitação da saúde dessas crianças. As crises álgicas são um dos fatores que geram a necessidade de um cuidado de urgência à criança com doença falciforme, o que impede muitas mães de trabalhar e estabelecer novos vínculos sociais. A partir das narrativas das mulheres foi possível identificar uma sobrecarga de cuidado, invisibilidade social, isolamento e baixo suporte social, capaz de gerar um ciclo vicioso de negligência estrutural, institucional e social frente às necessidades financeiras, emocionais e psíquicas dessas mulheres.
Conclusões/Considerações
Nesse estudo foi possível identificar que mulheres negras, mães de crianças com doença falciforme, são vítimas de violências que se somam e intercruzam. Políticas de saúde que amparem as cuidadoras das crianças com doença falciforme, seja no âmbito do enfrentamento ao racismo institucional, assim como das iniquidades em saúde, voltada para a população negra, se fazem necessárias em um país que se pretende democrático e justo socialmente.
RUPTURA DO CICLO DE VIOLÊNCIA POR MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA CUIDADA NO PROGRAMA CACTO
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Apresentação/Introdução
A suspeita ou diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista promove ruptura biográfica no curso de vida das mães de crianças com TEA. A deficiência enquanto marcador social é rejeitada pela heteronormatividade e patriarcado, repercutindo na culpabilização da mulher e intensificação de eventos violentos entre cônjuges
Objetivos
Relatar caso de uma mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista cuidada no programa CACTO, com ênfase para o rompimento do ciclo de violência.
Metodologia
Estudo de caso a partir da análise documental em prontuários de atendimento do CACTO: programa de cuidado unitário às mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista e/ou deficiência. O CACTO é conduzido por Enfermeiro qualificado com nível doutorado e expert na Teoria do Cuidado Unitário mediante encontros de cuidado individuais. Foram analisados documentos registrados no formato prontuário eletrônico armazenado no software Google Drive de novembro de 2013 a abril de 2025. Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com parecer nº 5.866.634. Foi utilizado pseudônimo Água para assegurar a privacidade da mãe.
Resultados
Água, 45 anos, parda, ensino fundamental incompleto, doméstica, em união estável, filha de 4 anos com TEA. Cita enquanto aflições a sobrecarga de cuidado, omissão do cônjuge e inexistência de renda. Água narra rejeição do diagnóstico de TEA pelo cônjuge, compreensão que justifica a omissão dele no cuidado à criança e a culpabilização da mãe. Os encontros são tomados por relatos de violência patrimonial e dependência financeira, o que dificulta a sobrevivência de Água e criança. Ao relatar intenção do divórcio Água é agredida fisicamente. Em seguida constrói-se possibilidades de ruptura da violência após acompanhamento jurídico, liberação do BPC da criança, e participação da rede de apoio.
Conclusões/Considerações
Cabem aos profissionais de saúde analisar fatores de risco e proteção que possam favorecer a ruptura do ciclo de violência. Escuta ativa, soberania da posição materna, libertação das mães sem julgamento e fortalecimento da autopercepção de si foram algumas estratégias exploradas no CACTO.
UM (CONTRA)MOVIMENTO EM ASCENSÃO: ANÁLISE DOS CONTEÚDOS ANTIFEMINISTAS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM
Pôster Eletrônico
1 UFF
Apresentação/Introdução
O impeachment de Dilma Rousseff em 2016 gerou forte polarização política no Brasil, marcada por discursos conservadores nas redes sociais. Tais discursos são acompanhados de ataques de ódio direcionados contra vários grupos e movimentos sociais que, combinado com o avanço das novas tecnologias de comunicação, resultaram na intensificação do surgimento de grupos antifeministas.
Objetivos
O estudo busca analisar os perfis antifeministas e suas narrativas presentes nas postagens. Assim como, a existência desse ativismo digital, os principais argumentos contrários ao feminismo e suas motivações para se opor aos direitos das mulheres.
Metodologia
Inicialmente a plataforma X foi escolhida para ser o objeto de análise da pesquisa. Todavia, mudanças legais exigiram que um representante no Brasil restringisse perfis extremistas, resultando na suspensão temporária da plataforma em 2024. Assim, o estudo migrou para o Instagram, onde foi realizada análise de conteúdo das postagens de 3 perfis extremistas, já que a rede possui menos restrições à desinformação e abriga páginas extremistas. A análise foi baseada nas perspectivas de Bardin (1977) e Minayo (2001), classificando postagens antifeministas em categorias como risco à família e à feminilidade, refletindo a oposição a pautas feministas e a influência dessas narrativas no imaginário social.
Resultados
O antifeminismo nos perfis analisados não apenas se opõe ao feminismo, mas utiliza o medo e o ódio para reforçar padrões conservadores, promovendo pânicos morais, que associam o feminismo à destruição da família e da ordem social. Tal discurso homogeneiza as mulheres como uma ameaça e reforça estereótipos negativos, afastando-as do movimento. No Brasil, o antifeminismo consolidou-se através de alianças com outros movimentos conservadores, como os pró-vida e pró-família, influenciando políticas públicas e o imaginário coletivo da população. A pesquisa destaca como a mobilização online e institucional do antifeminismo impulsiona retrocessos na luta por direitos das mulheres.
Conclusões/Considerações
A observação da potencialização do ódio contra a mulher no meio digital aponta a relevância do tema e a necessidade de novos estudos a respeito, especialmente no Brasil, sobre como o meio digital potencializa o ódio contra a mulher. Por meio de pesquisas que analisem o antifeminismo, considerando sua influência política e social, a formação no combate da desinformação e os estereótipos, se apresentam como caminho de defesa dos direitos humanos.
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A SINTOMAS DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE NA PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS
Pôster Eletrônico
1 UFG
2 IFG
3 HC UFG
Apresentação/Introdução
O período gravídico-puerperal é caracterizado por mudanças biológicas, emocionais e sociais. É apontado como um momento de maior vulnerabilidade da saúde mental da mulher para ocorrência de sintomas como ansiedade, depressão e estresse.
Objetivos
Verificar a prevalência de sintomas de ansiedade, depressão e estresse na percepção de puérperas.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa transversal de prevalência com puérperas em Alojamento Conjunto, atendidas em uma maternidade pública do Centro-Oeste brasileiro, entre os meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024. Aplicou-se um questionário sociodemográfico e obstétrico e a Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (EADS-21). Realizou-se uma análise descritiva das variáveis do questionário sociodemográfico e obstétrico e testes estatísticos de Kruskall-Wallis e de correlação de Spearman para as variáveis da EADS-21. Adotou-se nível de significância de 5% (p<0,05). O alfa de Cronbach do EADS-21 foi 0,824.
Resultados
Entre as 255 puérperas, quase sua totalidade estava na faixa etária reprodutiva de risco habitual para gestação, parto e puerpério, residia na região metropolitana da capital do estado de Goiás e tinha mais de oito anos de estudo. A maioria se declarou parda, vivendo com o companheiro e baixa renda. A prevalência dos sintomas de ansiedade foi de 16,1% (4,7% leves, 6,7% moderados, 3,1% graves e 1,6% extremamente severos); dos sintomas de estresse foi de 10,6% (4,7% leve, 3,9% moderado e 2% grave); e dos sintomas de depressão foi de 2% (1,2% leve e
Conclusões/Considerações
Conclui-se que o período gravídico-puerperal envolve vulnerabilidade emocional, frente à maior prevalência de sintomas de ansiedade e estresse entre as mulheres participantes do estudo, que, em quase sua totalidade, encontravam-se na fase reprodutiva de risco habitual. A intercorrência no parto foi o fator que esteve associado tanto a sintomas de ansiedade como
ENTRE DIREITOS E BARREIRAS: O PERCURSO DE HOMENS TRANSGÊNEROS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Pôster Eletrônico
1 UFU
Apresentação/Introdução
O processo transexualizador de homens trans no Brasil enfrenta grandes dificuldades organizacionais, desde o reconhecimento da identidade de gênero até o atendimento adequado. O estudo busca compreender e discutir os itinerários terapêuticos dessa população, que ainda carecem de desenvolvimento sistematizado e estruturação no país.
Objetivos
Analisar artigos que retratam os itinerários terapêuticos de homens transgênero e discutir as questões que limitam a eficiência dos programas disponibilizados pelo SUS.
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, que foi realizada por meio das bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, com a inclusão de artigos científicos publicados entre os anos de 2019 e 2024, bem como os mais relevantes para a temática; além de materiais do Ministério da Saúde, principalmente as portarias nº 2803/2013, nº 1.820/2009 e nº 2.836/2011 que fazem referência aos direitos da população LGBT no Brasil. Para a busca dos artigos, foram utilizados os descritores em português "acesso aos serviços de saúde", "transexualidade" e "políticas públicas em saúde”.
Resultados
A trajetória de cuidados em saúde para homens trans é complexa e envolve o reconhecimento da identidade de gênero e o acesso ao tratamento adequado. Apesar da regulamentação do processo transexualizador (PrTr) no Brasil, há barreiras como extensas filas, obstáculos institucionais e falta de atendimento especializado, a falta de capacitação profissional é diretamente responsável devido ao desconhecimento dos profissionais sobre as demandas dessa população. Relatos incluem recusa de atendimento, obrigando pacientes a mudarem de cidade em busca de profissionais acolhedores e recorrerem a automedicação. Além disso, a falta de difusão dos pontos de ação do PrTr é um grande limitador.
Conclusões/Considerações
É perceptível que o itinerário terapêutico de homens trans no PrTr no Brasil deve ser ampliado, as maiores falhas estão na dificuldade do sistema em implementar ações destinadas ao público, o que ocasiona invisibilidade e não pertencimento ao SUS, o que resulta em baixa resolutividade das questões do paciente e busca por meios informais e ilegais no processo transexualizador.
BIOPODER E EPISTEMICÍDIO NA MEDICALIZAÇÃO DA SAÚDE FEMININA
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
2 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP)
3 Centro Universitário São Camilo (CUSC)
Apresentação/Introdução
A medicalização de condições femininas converte desigualdades em patologias. Por tradições médicas patriarcais, patologiza vivências e silencia sofrimentos, gerando epistemicídio: supressão de saberes tradicionais pela biomedicina. A indústria farmacêutica reforça isso ao promover psicofármacos paliativos para tensões sociais, ampliando o controle biopolítico.
Objetivos
Analisar a medicalização da saúde feminina como biopolítica, examinando: (a) conversão da sobrecarga de gênero em patologias; (b) marketing farmacêutico banalizando psicofármacos; (c) estratégias contra-hegemônicas de práticas não medicalizantes.
Metodologia
Ensaio crítico fundamentado no biopoder, compreendido como disciplinamento de corpos por regimes sanitários, articulado ao epistemicídio, que denota o silenciamento de saberes subalternizados. Complementa-se com análise da iatrogênese cultural da medicalização institucionalizada e investigação histórica da medicalização do corpo feminino como controle social. Examina dados nacionais sobre automedicação feminina, revelando consolidação da vigilância biomédica sobre corpos produtivos. Desvenda narrativas publicitárias que vinculam desempenho social à conformidade farmacológica, evidenciando sua internalização coletiva.
Resultados
Observa-se que 40,5% dos diagnósticos de depressão feminina convertem desigualdades de gênero em patologias, ocultando determinações sociais. Marketing farmacêutico associa bem-estar a psicofármacos, resultando em automedicação de 53% mulheres (13 pontos percentuais acima da prevalência masculina). Hegemonia biomédica promove epistemicídio ao marginalizar saberes tradicionais e fragilizar redes comunitárias, corroborado por automedicação com acesso facilitado (47%) e indicações informais (44%). Consolida-se a medicalização da vida no consumo de psicofármacos por 14% das mulheres (contra 9% dos homens), perpetuando ciclos de dependência e substituindo demandas por transformação estrutural.
Conclusões/Considerações
A medicalização biopolítica converte sobrecargas de gênero em patologias, respaldada por marketing banalizador de psicofármacos. Propõem-se: políticas públicas (gênero e determinação social); regulação da publicidade de psicotrópicos; práticas não medicalizantes no Sistema Único de Saúde contra epistemicídio. Essas ações confrontam reducionismo biomédico, rompem ciclos de dependência e reafirmam a saúde feminina como direito à justiça epistêmica.
TÁ LIGADA? A VIDA SOCIAL DA LAQUEADURA TUBÁRIA
Pôster Eletrônico
1 IFF-Fiocruz/SMS-Rio
Apresentação/Introdução
A trajetória dos métodos contraceptivos, em especial da laqueadura tubária, reflete disputas históricas sobre controle, autonomia e justiça reprodutiva. Este trabalho analisa como práticas, discursos e marcos normativos revelam avanços, tensões e contradições na construção dos direitos sexuais e reprodutivos.
Objetivos
Compreender como a trajetória da contracepção expressa disputas sobre a autonomia reprodutiva, usando a laqueadura tubária como chave de leitura para os processos históricos de construção dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil.
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, com análise de documentos acadêmicos, históricos, jurídicos e de políticas públicas relacionados à contracepção e, especialmente, à laqueadura tubária. O recorte tem como foco central o contexto brasileiro, mas dialoga com experiências e processos internacionais, visando compreender como práticas, discursos e marcos normativos produziram sentidos e disputas em torno da contracepção, da esterilização e da construção dos direitos sexuais e reprodutivos. A análise articula referenciais dos estudos de gênero, da história da saúde e da justiça reprodutiva.
Resultados
O percurso da laqueadura desvela que, historicamente, a contracepção foi marcada por práticas eugênicas, racistas e sexistas. No Brasil, a regulamentação do planejamento familiar consolidou avanços, mas também impôs barreiras, como idade mínima, número de filhos e autorização do cônjuge. A recente Lei nº 14.443/2022 representa um marco na garantia da autonomia reprodutiva, mas práticas institucionais continuam tensionadas por desigualdades de gênero, raça e classe.
Conclusões/Considerações
Entende-se, portanto, que os direitos sexuais e reprodutivos seguem um campo de disputa, tensionado ora por movimentos de conquista de autonomia, ora pela persistência de práticas e políticas contraceptivas limitadas e limitantes que reproduzem e aprofundam iniquidades.
QUALIDADE DE VIDA E SINTOMAS CLIMATÉRICOS ENTRE MULHERES TRABALHADORAS DO SUS
Pôster Eletrônico
1 UFCG
2 UEPB
Apresentação/Introdução
O climatério é o período de transição entre a fase reprodutiva e não reprodutiva da mulher. Com o aumento da expectativa de vida, mais mulheres irão vivenciar o climatério, o que torna essencial uma assistência integral, pois mudanças biológicas e sociais afetam a qualidade de vida. Dessa forma, mulheres climatéricas enfrentam preconceito e desigualdades, inclusive dentro do mercado de trabalho.
Objetivos
Diante dessa problemática, o objetivo do trabalho é descrever as características, qualidade de vida e intensidade dos sintomas climatéricos vivenciados por mulheres trabalhadoras do SUS.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, exploratória com abordagem quantitativa. Foi realizada na cidade de Cuité, Paraíba. O estudo foi realizado com mulheres entre 40 e 65 anos, trabalhadoras do serviços do SUS do município de Cuité. A coleta de dados ocorreu por meio de três instrumentos, um questionário estruturado para identificação e caracterização das usuárias, através de dados clínicos, comportamentais e sociodemográficos; para avaliação da Qualidade de Vida foi utilizado o WHOQOL- Bref, e o Índice Menopausal de Kupperman para a avaliação da sintomatologia climatérica.
Resultados
Foram analisadas 38 entrevistas com mulheres que atuam no SUS da cidade de Cuité-PB, em diferentes serviços de saúde. A maioria tinha até o ensino médio, recebia até dois salários mínimos, era solteira e possuía até dois filhos. Os sintomas do climatério mais relatados foram fadiga (89,47%), cefaleia (81,58%), ondas de calor e nervosismo (78,95%). O maior número de mulheres apresentou sintomas leves (50%). A qualidade de vida foi avaliada pelo WHOQOL-Bref, sendo o domínio de meio ambiente o que obteve maior média (65,62), seguido dos domínios psicológico (64,90), relações sociais (63,92) e físico (58,39). O domínio psicológico apresentou a maior amplitude (75) e desvio padrão (15,99).
Conclusões/Considerações
Nesse sentido, conclui-se que as participantes do estudo enfrentam sintomas frequentes, como fadiga e cefaleia, com predomínio de intensidade leve. Apesar disso, mantém média razoável de qualidade de vida, com maior escore no domínio de meio ambiente, evidenciando a importância do cuidado integral e suporte social no contexto do trabalho.
TRABALHO E SAÚDE DE MULHERES CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM TERRITÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília - EGF
Apresentação/Introdução
O tema da pesquisa dialoga com os princípios da Saúde Coletiva, que reconhece a importância do sujeito como coparticipante no atendimento de suas demandas sociais. Dessa forma, a partir da visão das próprias mulheres catadoras, busca contribuir com subsídios para a implantação de políticas púbicas eficazes, que visem melhorar a qualidade de vida desse segmento populacional.
Objetivos
Analisar as condições de vida, de trabalho e de saúde de mulheres catadoras, que atuam como mobilizadoras sociais das cooperativas ou associações, que prestam serviços para o Serviço de Limpeza Urbana, do Governo do Distrito Federal.
Metodologia
Tendo em consideração as características do estudo e da sua população, optamos por utilizar a pesquisa qualitativa e exploratória, com base em entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo. O Distrito Federal conta com 11 contratos com cooperativas para a coleta seletiva, 17 catadores mobilizadores, sendo 12 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Sendo uma pesquisa por amostragem, foram entrevistadas 10 mulheres catadoras que atuam como mobilizadoras da Coleta Seletiva em vários pontos do Distrito Federal, visando atingir uma ampla extensão geográfica, considerando a diversidade dos ambientes de trabalho e vivência do público-alvo.
Resultados
A análise dos dados permitiu identificar quatro categorias temáticas, com resultados que apontam para um perfil socioeconômico da população estudada, com características de vulnerabilidade social; precárias condições de trabalho decorrentes da não garantia de direitos trabalhistas, e permeadas pelas conquistas e tensões no desempenho de suas funções; alta percepção das catadoras sobre os riscos de adoecer no ambiente de trabalho, com sugestões pertinentes sobre o que pode ser feito para reduzir esses riscos; e, por fim, as perspectivas e sonhos das entrevistadas, apresentando de onde obtêm estímulo para continuar sua atividade humana.
Conclusões/Considerações
Este estudo viabilizou a identificação de subsídios no tocante às condições de vida, trabalho e saúde de mulheres catadoras de materiais recicláveis que atuam na função de mobilizadora da Coleta Seletiva no território do Distrito Federal, que mostram que a feminização do trabalho surge associada ao subemprego no mundo do trabalho com persistência de desigualdades.
ENTRE INVISIBILIDADES E RESISTÊNCIAS: PREVENÇÃO A IST DE PESSOAS TRANS E OS DESAFIOS DA EQUIDADE NO SUS
Pôster Eletrônico
1 UEA
Apresentação/Introdução
A prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST é um desafio histórico. Para pessoas LGBT+, apesar de avanços através de políticas específicas de saúde LGBT+, estas seguem limitadas, tratando o grupo como homogêneo e desconsiderando especificidades, sobretudo das identidades trans, que são atravessadas por outras vulnerabilidades, como o trabalho sexual.
Objetivos
Buscou-se analisar as principais dificuldades no acesso à prevenção a IST de mulheres trans e travestis trabalhadoras do sexo do Amazonas, através das narrativas de ativistas que viveram esta realidade e que trabalham a pauta pelo movimento social.
Metodologia
Adotou-se uma abordagem qualitativa etnográfica, pautada em epistemologia situada. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro integrantes da diretoria da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas – ASSOTRAM, responsáveis por ações mensais de prevenção à IST junto a profissionais do sexo. Foram realizadas também observações participantes em dez atividades da associação entre 2024 e 2025. Se analisou os dados por meio da Análise Temática, envolvendo transcrição, codificação sistemática, identificação e articulação de núcleos de sentido, organização em eixos temáticos e elaboração de sínteses interpretativas.
Resultados
Os resultados evidenciam que o uma das principais barreiras para mulheres trans e travestis no acesso aos centros de saúde se dá principalmente pela discriminação e preconceito da equipe de saúde através do desrespeito ao nome social ou retificado, aos pronomes, e pela disforia de gênero por cota de olhares e gestos. A vulnerabilidade financeira se mostrou uma grande questão, pois o serviço sem preservativo era preterido pelos clientes. Também foram apontados o despreparo de equipes de saúde sobre identidade trans, horário incompatível das unidades de saúde e centralização dos serviços na capital. As ativistas buscam trabalhar a prevenção durante suas ações mensais.
Conclusões/Considerações
As múltiplas camadas de vulnerabilidade que incidem sobre pessoas trans evidenciam como a interseção entre desigualdade social e discriminação afetam a prevenção a IST de trabalhadoras do sexo trans. As ações do movimento social buscam minimizar esta distância, disponibilizando insumos e informativos, mas cabe ainda ao Estado analisar as demandas desta população e construir estratégias, em conjunto com elas, para ofertar o acesso pleno à saúde.
VIGILÂNCIA DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL FRENTE À DIVERSIDADE DE GÊNERO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Período de Realização
A experiência foi vivenciada durante os meses de novembro de 2024 a março de 2025.
Objeto da experiência
Investigação de óbito de Mulher em Idade Fértil, com foco na dificuldade de inclusão de pessoas transgênero no processo da vigilância de óbito materno.
Objetivos
Analisar os limites conceituais e operacionais das investigações de óbitos de MIF frente à diversidade de gênero, identificando lacunas nos sistemas de informação e nos protocolos de vigilância epidemiológica, e propor recomendações para a inclusão de uma abordagem antinormativa e equitativa.
Descrição da experiência
A autora, residente em saúde coletiva, atuou na investigação de óbitos de MIF, infantis, fetais e por tuberculose em uma coordenação de atenção primária. Identificou-se dificuldade dos profissionais em diferenciar sexo e gênero, o que levou à exclusão de pessoas com capacidade gestacional e à inclusão indevida de quem não apresentava esse risco. A ausência de campos para nome social e identidade de gênero dificultou a identificação e qualificação dos óbitos.
Resultados
A experiência demonstrou que os sistemas de informação em saúde e os instrumentos de investigação de óbitos estão desatualizados frente à diversidade de gênero, comprometendo a completude e a qualidade das informações. A tentativa de respeitar a identidade de pessoas transgênero acabou, por vezes, ignorando critérios clínicos relevantes, evidenciando a necessidade de adequações técnicas e conceituais.
Análise Crítica
A experiência revelou a urgência de revisão dos processos de vigilância sob uma ótica que ultrapasse a cisnormatividade, incorporando a realidade das pessoas transgênero e de outras identidades dissidentes. Além disso, destacou-se o papel estratégico da residência como espaço de formação crítica e produção de conhecimento prático-reflexivo no SUS.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se revisar fichas de investigação, declarações de óbito e sistemas como o SIM, incluindo campos para nome social, identidade de gênero e capacidade gestacional. Sugere-se criar comissões específicas para óbitos de MIF, com abordagem interseccional e pautada nos direitos humanos. É necessária atualização normativa, formação continuada e articulação intersetorial que reconheça a diversidade no cuidado e na vigilância.
PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E AUTOCUIDADO FEMININO: UMA ABORDAGEM DE EDUCAÇÃO POPULAR NO SERTÃO DE MOXOTÓ
Pôster Eletrônico
1 UFPE
Período de Realização
21 a 26 de maio de 2023
Objeto da experiência
O empoderamento das mulheres por meio de ações educativas voltadas à saúde sexual e ao autocuidado, baseadas nos princípios da educação popular.
Objetivos
Realizar rodas de conversa entre mulheres para um ambiente acolhedor, onde possam compartilhar experiências sobre repressão sexual e educação;
Promover a educação sexual para prevenção de infecções e saúde feminina, destacando a importância do uso do preservativo.
Metodologia
A experiência foi realizada em Ibimirim - PE, Sertão do Moxotó, com mulheres de diversas idades, utilizando rodas de conversa, músicas e dinâmicas para abordar temas como sexualidade, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e autocuidado. As atividades promoveram a troca de conhecimentos em um ambiente acolhedor, destacando a educação popular como ferramenta crucial para a autonomia feminina e o empoderamento, além de reforçar a conscientização sobre questões de saúde e bem-estar.
Resultados
Os resultados destacam a importância do autocuidado e do empoderamento feminino na compreensão da sexualidade. Em um ambiente acolhedor, meninas e mulheres compartilharam vivências sobre repressão histórica, promovendo amor-próprio e conscientização sobre seus direitos. Esse empoderamento transforma as participantes em agentes de mudança, incentivando práticas de saúde coletiva e o enfrentamento de opressões misóginas, contribuindo para a saúde pública e o fortalecimento da autonomia feminina.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a eficácia da educação popular como ferramenta de transformação social na saúde coletiva. O diálogo horizontal fortaleceu vínculos e rompeu silêncios, promovendo a autonomia feminina, a escuta ativa revelou barreiras culturais e sociais profundas, destacando a necessidade de acolhimento e metodologias participativas para enfrentar opressões de gênero.
Conclusões e/ou Recomendações
Portanto, a criação de espaços de diálogo entre mulheres é crucial para a desconstrução de tabus e fortalecimento do autocuidado, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. A promoção da saúde sexual e reprodutiva, aliada à abordagem da educação popular, se configura como uma estratégia eficaz no enfrentamento das desigualdades históricas de gênero, promovendo a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.
AÇÕES DE EDUCAÇÃO SEXUAL COM ADOLESCENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFES
Período de Realização
Setembro de 2024 e fevereiro de 2025.
Objeto da experiência
Atividades de educação sexual e reprodutiva com adolescentes em contexto periférico, utilizando abordagem participativa.
Objetivos
Promover um espaço seguro e participativo para discussão sobre sexualidade, métodos contraceptivos, IST’s e higiene pessoal, valorizando a escuta ativa, o respeito às diversidades e o fortalecimento da autonomia dos adolescentes, com construção coletiva do conhecimento.
Metodologia
A ação ocorreu em uma instituição do terceiro setor com adolescentes de uma região periférica de Vitória-ES. Utilizou-se abordagem com metodologia participativa. Nos encontros, adolescentes depositavam perguntas anônimas em uma caixa. Em seguida, discutiam temas sorteados de envelopes com imagens. As perguntas finais eram respondidas coletivamente. O foco era estimular trocas horizontais, sem julgamentos, promovendo respeito, autonomia e consciência sobre saúde sexual e reprodutiva.
Resultados
Houve participação ativa dos adolescentes, que se sentiram à vontade para expor dúvidas e experiências. A escuta qualificada possibilitou o surgimento de temas espontâneos e relevantes. A troca entre pares ampliou o entendimento sobre métodos contraceptivos, IST’s e direitos sexuais. A abordagem participativa mostrou-se efetiva ao permitir que os adolescentes se reconhecessem como sujeitos do cuidado, promovendo pertencimento, autonomia e respeito à diversidade.
Análise Crítica
A experiência demonstrou que práticas educativas participativas ampliam o engajamento dos adolescentes, fortalecem vínculos e favorecem a produção de sentidos sobre o cuidado em saúde. A escuta ativa e o acolhimento das dúvidas revelaram a potência da partilha de experiências como forma de aprendizado. Questionamentos sobre gênero, métodos contraceptivos e tabus foram abordados com respeito e liberdade, reforçando a necessidade de espaços contínuos de diálogo e escuta.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência reafirma a importância da educação sexual participativa, com linguagem acessível e livre de julgamentos. Recomenda-se investir em ações contínuas e intersetoriais, que promovam escuta qualificada, respeito à diversidade e valorização dos saberes juvenis. É essencial viabilizar o direito à informação, reconhecendo as diferentes realidades e fortalecendo a cidadania no contexto educacional.
UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE RELACIONAMENTO COMO FERRAMENTA DE PRIMEIRO CONTATO PARA SERVIÇO DE SAÚDE LGBT: UMA EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 UFRN
2 FACESA
3 SESAP/RN
Período de Realização
A experiência aconteceu no primeiro trimestre de 2025, entre os meses de Janeiro a Março.
Objeto da experiência
Criar estratégia de primeiro contato entre usuários LGBTs com um serviço de Atenção Primária à Saúde.
Objetivos
Apresentar a utilização de uma aplicativo de relacionamento como oportunidade para o primeiro contato de LGBTs a um serviço de saúde.
Mostrar como aplicativos de relacionamentos podem ser aliados ao processo de cuidado em saúde de pessoas LGBTs.
Metodologia
O Consultório de Saúde LGBT é um serviço que acontece dentro da Unidade Básica de Saúde Dimas Martins na cidade de Pendências-RN. Os atendimentos acontecem uma vez por semana, no turno noturno e de forma multidisciplinar. Considerando a baixa procura de novos usuários e as barreiras encontradas por essa população no acesso a serviços de saúde, a equipe resolveu criar um perfil no aplicativo Grindr para divulgar os serviços e ações do consultório.
Resultados
A utilização do aplicativo de relacionamento voltado ao público LGBT se mostrou uma estratégia inovadora para promover o acesso ao serviço de saúde, especialmente em ações de prevenção e diagnóstico. Ao aproveitar o alcance e a familiaridade deste aplicativo com a população-alvo, profissionais e serviço de saúde puderam divulgar informações, oferecer aconselhamento e até agendar atendimentos de forma discreta, acessível e personalizada.
Análise Crítica
Recursos tecnológicos, como aplicativos de relacionamentos, para promover o acesso a serviços de saúde da população LGBT representam uma importante inovação na redução de barreiras históricas enfrentadas por esse grupo. Esses meios digitais permitem estratégias mais direcionadas, sigilosas e acolhedoras, especialmente em contextos onde o preconceito ainda dificulta o acesso aos cuidados tradicionais.
Conclusões e/ou Recomendações
Essas tecnologias permitem atingir públicos muitas vezes marginalizados pelo sistema tradicional, reduzindo o impacto do estigma e da discriminação. Ao integrar essas soluções digitais às políticas públicas, torna-se possível construir uma atenção mais equitativa, inclusiva e centrada nas reais necessidades da população LGBT.
INCLUSÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR
Pôster Eletrônico
1 UFPR
2 FMS/PMPG
Período de Realização
Abril de 2023 à fevereiro de 2024
Objeto da experiência
Implantação do método contraceptivo subdérmico para mulheres em um município de porte médio no interior do Paraná.
Objetivos
Ampliar o acesso a métodos contraceptivos de longa duração e fortalecer a autonomia da enfermagem na Atenção Primária à Saúde.
Descrição da experiência
A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa-PR, com foco em mulheres de 18 a 49 anos em situação de rua, com HIV/AIDS, transtornos mentais ou uso de drogas, grandes multíparas ou em tratamento para tuberculose ou hanseníase. A experiência envolveu elaboração de protocolo clínico, capacitação das equipes da ESF e articulação intersetorial para oferta do implante subdérmico como método contraceptivo gratuito.
Resultados
Foram realizados atendimentos entre abril/2023 e fevereiro/2024, com 98,9% das usuárias mantendo o implante. A maior parte das inserções foi feita por enfermeiros (76,7%). O grupo etário predominante foi de 29 a 39 anos (54,5%). A experiência resultou em excelente adesão, sem efeitos adversos graves relatados, e com alto nível de satisfação das usuárias.
Aprendizado e análise crítica
A experiência demonstrou a importância da ampliação de métodos contraceptivos de longa duração no SUS e o impacto positivo da atuação da enfermagem no planejamento familiar. A abordagem intersetorial favoreceu o acesso de populações em situação de vulnerabilidade, promovendo direitos sexuais e reprodutivos de forma equitativa e eficaz.
Conclusões e/ou Recomendações
A inserção do implante subdérmico fortaleceu a Atenção Primária e o protagonismo da enfermagem no planejamento familiar. Recomenda-se a expansão da iniciativa para outros municípios, além da ampliação dos critérios de elegibilidade e da oferta de todos os métodos contraceptivos conforme avaliação clínica individualizada.
MOBILIZAR PARA EXISTIR: ARTICULANDO ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO E REDES DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DA PREVENÇÃO AO HIV COM JOVENS TRANS EM SANTOS, SP
Pôster Eletrônico
1 Unisantos
2 FSP/USP
3 UNIFESP
4 Prefeitura Municipal de Santos; UNIP
5 Université Lumière Lyon 2; Fiocruz Brasília
Período de Realização
Dezembro de 2024 a maio de 2025
Objeto da experiência
Mobilização comunitária como estratégia de aproximação territorial e construção de redes de socialização e cuidado com jovens trans
Objetivos
Analisar o processo de construção de redes de socialização e cuidado com adolescentes e jovens trans, a partir da mobilização comunitária em serviços de saúde e coletivos e suas contribuições para o acesso à saúde, à prevenção ao HIV e ao enfrentamento de lógicas necropolíticas e desigualdades interceccionais
Descrição da experiência
Este relato integra a pesquisa Babado Certo!, que visa construir, de maneira participativa e democrática, um protocolo para ampliação do acesso à prevenção e ao cuidado do HIV entre adolescentes e jovens trans no município de Santos, SP. Apresentamos a primeira fase do estudo, centrada no mapeamento e na mobilização de coletivos trans, da rede de serviços de saúde e de programas voltados à juventude, a fim de identificar articulações pré-existentes e construir vínculos com os territórios.
Resultados
Foram realizadas visitas de apresentação e discussão do Babado Certo! em 4 serviços de saúde (especializado em HIV e Aids, CAPS-IJ, UBS com Consultório na Rua); 5 coordenadorias e centros temáticos (juventude, diversidade, LGBT, desenvolvimento social e trabalho); e 6 coletivos e ONGs que atuam com a população trans. Um plano de comunicação em redes sociais foi desenvolvido para ampliar a divulgação e visibilidade do projeto e um comitê de acompanhamento comunitário foi constituído em maio 2025.
Aprendizado e análise crítica
A articulação com serviços e coletivos evidenciou a ausência de respostas integradas às necessidades de cuidado e proteção de direitos de adolescentes e jovens trans, bem como pouca atenção às especificidades etárias e à pluralidade das identidades trans. As escutas revelaram barreiras interseccionais e ausência de políticas específicas, reforçando a importância de práticas sensíveis e saberes locais. O comitê comunitário ampliou a participação social e qualificou os instrumentos e diretrizes da pesquisa
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou a potência da mobilização comunitária na promoção da equidade por meio da construção de redes de socialização e cuidado com adolescentes e jovens trans, em contextos atravessados por desigualdades estruturais. No entanto, fortalecer a participação de adolescentes mais jovens e em maior vulnerabilidade é central para respostas efetivas mais democráticas e sustentáveis na ampliação do acesso e cuidado da prevenção ao HIV.
LETRAMENTO LGBTQIA+: EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA / FIOCRUZ
Período de Realização
Outubro/2021 à Dezembro/2024.
Objeto da experiência
Realização de encontros formativos e de sensibilização acerca das temáticas de diversidade sexual e de gênero, à servidores públicos municipais.
Objetivos
Propagar informações e conhecimentos acerca da diversidade sexual e de gênero, como forma de promoção da cidadania da população LGBTQIA+, promover alinhamento entre conceitos e informações e humanizar as práticas e os atendimentos à população LGBTQIA+ nas políticas de saúde.
Descrição da experiência
Com a inauguração de ambulatório para acompanhamento de hormonização de pessoas trans e travestis, foi identificado que todas as outras unidades de saúde e os serviços das demais políticas, passaram a encaminhar e referenciar todos os usuários/pacientes que eram LGBTQIA+. A partir de tais situações, em articulação com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde, demos início a uma jornada de sensibilização e formação de servidores para o acolhimento da população LGBTQIA+ nos serviços de saúde.
Resultados
Foi possível observar certo desinteresse por parte de alguns, no início das discussões, mas através do uso de metodologias com dinâmicas e trocas entre os participantes, foi percebido que a interação proporcionou a quebra de paradigmas, levando-os a continuarem até o final da atividade. Os resultados podem ainda ser considerados positivos, do ponto de vista da ampliação do acesso dos sujeitos LGBTQIA+ aos serviços de saúde e aos direitos e benefícios sociais.
Aprendizado e análise crítica
A ideia desse trabalho se deu em torno da construção de espaços coletivos de reflexão sobre a possibilidade de (re)pensar sobre as práticas e sobre o acolhimento desse público, de modo a garantir-lhes acesso ao SUS, como quaisquer outros sujeitos. Embora tenham havido tantas formações, ainda são insuficientes para a garantia da saúde integral, sendo necessária a luta por políticas que atendam e atuem no processo de educação permanente, para discussões e sensibilizações constantes.
Conclusões e/ou Recomendações
Cabe ressaltar a relevância do trabalho realizado, fortalecendo e incluindo tais discussões na Política de Educação Permanente em Saúde, bem como nas ações de humanização, em todos os níveis de atenção. É de extrema relevância que a utilização da educação popular como metodologia foi uma estratégia fundamental para assegurar o protagonismo dos participantes e, consequentemente, surtiu efeitos nos atendimentos e acolhimento da população LGBTQIA+.
VIVÊNCIAS DE UMA ENFERMEIRA RESIDENTE COMO REFERÊNCIA TÉCNICA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAP+ EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SALVADOR, BAHIA.
Pôster Eletrônico
1 FESFSUS/FIOCRUZ
Período de Realização
Este relato de experiência ocorreu durante o período de abril de 2022 até novembro de 2023.
Objeto da experiência
O objetivo principal foi implementar e estabelecer a estratégia “Unidade Amiga da Saúde LGBT+” em uma USF do município de Salvador-Bahia.
Objetivos
O presente resumo contará as vivências e reflexões-críticas das atividades realizadas para abordar sobre saúde LGBTQIAP+, gênero e sexualidade.
Metodologia
Assim, foram realizadas algumas atividades de educação em saúde com foco em temáticas importantes para a comunidade LGBT+, inserindo também ações que se alinham com o calendário de ações de saúde da atenção primária, a fim de tratar assuntos como gênero/sexualidade de forma natural e transversal.
Resultados
Entendendo a necessidade de ofertar informações mais direcionadas, foi elaborada uma atividade complexa de educação permanente para todos os profissionais de nível superior e médio/técnico. O dia-a-dia da saúde ainda está imerso em modelos hegemônicos de praticar e pensar o cuidado em saúde como biomédico; então, agir contra esse sistema exige um esforço contínuo e foi importante estar em um espaço que possibilitou a criação de vivências no serviço de saúde que reflete o SUS ideal e para todes.
Análise Crítica
As ações com a população possibilitaram um senso de responsabilização com saúde da comunidade, entendendo o preconceito e a discriminação como determinantes diretos na saúde dos indivíduos. As atividades com os trabalhadores permitiram ensinar termos básicos sobre a comunidade LGBTQIAP+, a fim de evitar a falta de informação e melhorar o acolhimento na USF. O relato é um demonstrativo de como as políticas públicas propiciam a abertura de espaço para discussões de temáticas marginalizadas.
Conclusões e/ou Recomendações
As ações mostraram como a falta do conhecimento sobre a temática leva a uma fragilidade do cuidado desencadeando comportamentos de preconceitos e estigmas. Em contrapartida, a educação em saúde e a educação permanente são essenciais para a sensibilização da população e dos profissionais de saúde, além de promover uma perspectiva de transformação cisheteronormativa que acolha de maneira humanizada à população LGBTQIAP+ nos serviços de saúde.
"OCUPA SAPATÃO”: FESTA-MANIFESTO DE RESISTÊNCIA, CUIDADO COMUNITÁRIO E PROTAGONISMO LÉSBICO EM PORTO ALEGRE (2022–2024)
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
Período de Realização
A festa-manifesto ocupa sapatão ocorreu entre 2022 e 2024 durante o mês de agosto.
Objeto da experiência
Relato sobre a organização, execução e impactos da festa-manifesto “Ocupa Sapatão”, realizada em Porto Alegre desde de 2022.
Objetivos
Promover espaços de protagonismo lésbico que articulam cultura, arte e debate político para: (1) denunciar lesbofobia; (2) afirmar identidades plurais; (3) promover redes de cuidado; (4) disputar o espaço urbano; e (5) fortalecer agendas de políticas públicas para lésbicas.
Descrição da experiência
O “Ocupa Sapatão” é uma festa-manifesto que vem sendo realizado anualmente desde 2022 em espaço público através do movimento social e de apoio político pela mandata da Deputada Federal Daiana Santos, que tornou-se madrinha do evento desde seu começo, por meio de seu compromisso com a comunidade lésbica a partir da sua campanha eleitoral. As ações do evento priorizam mulheres lésbicas empreendedoras no comércio, arte e cultura. Ocupa Sapatao significa ocupar espaços da cidade e de poder.
Resultados
Mais de 5.000 pessoas já circularam pela festa-manifesto desde sua primeira edição. O evento promove ações de geração de renda entre a comunidade lésbica, com mais de 11 artistas e cerca de 30 expositoras, todas lésbicas. Em 2024, o evento entrou no calendário oficial de Porto Alegre, fortalecendo a visibilidade da comunidade. Os dados do LesboCenso, que mostram que 61% das lésbicas se sentem invisibilizadas em espaços públicos, reforçam a importância da iniciativa.
Aprendizado e análise crítica
A presença de Daiana Santos, primeira deputada federal lésbica e negra do RS, evidenciou o poder da representatividade. Sua atuação rompeu silêncios históricos, criando pontes com uma rede de cuidado e luta coletiva, como aponta o conceito de Zami, de Audre Lorde. O LesboCenso revelou que mais de 90% das entrevistadas não se sentem representadas na política institucional — dado que reforça o impacto do Ocupa Sapatão como contraponto afirmativo.
Conclusões e/ou Recomendações
O Ocupa Sapatão demonstrou que arte, empreendedorismo, cuidado mútuo e reivindicação política podem coexistir, ganhando escala e visibilidade. Frente ao cenário apontado pelo LesboCenso — de precarização, invisibilidade e violência — o evento se afirmou como território político e cultural de resistência e produção de cuidado comunitário, reafirmando a urgência por políticas públicas voltadas à população lésbica.
IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO LGBTQIAPN+ MAGNÓLIA LIMA: UMA EXPERIÊNCIA DE CUIDADO NO INTERIOR DO SERTÃO POTIGUAR
Pôster Eletrônico
1 UERN
Período de Realização
Fevereiro de 2025 a 11 de abril de 2025.
Objeto da experiência
Processo de implantação de ambulatório LGBTQIAPN+ em cidade do interior do RN, com ênfase na articulação intersetorial e composição da equipe mínima.
Objetivos
Relatar o processo de implantação do ambulatório LGBTQIAPN+ que visa garantir atenção à saúde da população em foco, com cuidado humanizado e embasado na Política Nacional de Saúde Integral LGBT; ampliar o acesso à PrEP, hormonioterapia, e exames preventivos; e promover a equidade no SUS.
Metodologia
Surge de articulação entre a Secretaria de Saúde de Pau dos Ferros/RN e profissionais da APS, que propuseram a criação de um ambulatório LGBTQIAPN+, integrado ao programa municipal TransFormação. A equipe é composta por médico de família, enfermeira, psicóloga, nutricionista, assistente social e estagiária. Foram realizadas três capacitações com trabalhadores da Atenção Primária à Saúde, abordando saúde LGBTQIAPN+ e apresentando os objetivos e fluxos do serviço.
Resultados
Apesar do curto tempo de funcionamento, observa-se ampliação do acesso de pessoas trans ao cuidado em saúde no próprio território, evitando deslocamentos para outras cidades. As capacitações fortaleceram o conhecimento técnico dos profissionais, especialmente sobre protocolos clínicos, saúde sexual, hormonal e fluxos de referência. A mobilização territorial também contribuiu para reduzir barreiras institucionais, gerando maior visibilidade e legitimidade à iniciativa.
Análise Crítica
A experiência reafirma o papel estratégico da gestão na promoção da equidade. Os aprendizados envolvem planejamento, articulação intersetorial e enfrentamento a resistências conservadoras, inclusive entre profissionais. Houve tentativas de deslegitimar o projeto no campo político. A formação crítica da equipe e o trabalho coletivo foram fundamentais para consolidar o serviço, destacando o engajamento ético e político como eixo condutor da proposta.
Conclusões e/ou Recomendações
A implantação do ambulatório LGBTQIAPN+ no sertão nordestino é um marco de inovação e equidade em saúde. Recomenda-se que outros municípios adotem estratégias similares, articulando gestão, trabalhadores e comunidade. A experiência aponta ainda o valor formativo do ambulatório para residentes e estagiários, promovendo práticas alinhadas aos princípios da integralidade e do cuidado culturalmente competente.
INTEGRAÇÃO: ADVOCACY, DIREITOS HUMANOS E SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+
Pôster Eletrônico
1 IRR/FIOCRUZ
Período de Realização
Fevereiro de 2024 a dezembro de 2025.
Objeto da experiência
Projeto realizado pela Fiocruz-Minas com o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais sobre saúde integral da população LGBTQIAPN+ .
Objetivos
formação de ativistas LGBTQIAPN+ para a atuação em espaços de controle, decisão e mobilização comunitária e elaboração de um plano de incidência política voltado para os temas de saúde integral LGBTQIAPN+ e direitos humanos.
Descrição da experiência
Foram realizadas duas oficinas, uma dedicada à discussão dos temas: saúde integral, direitos humanos e Advocacy, e outra destinada a elaboração do plano de incidência política. Para compreender as demandas da população LGBTQIAPN+ relacionadas à saúde integral e direitos humanos, foi realizada observação participante das oficinas, grupo focal e duas entrevistas semiestruturadas. Participaram do projeto 29 pessoas LGBTQIAPN+, residentes em Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Resultados
O corpo foi identificado como categoria central a partir da qual foram pautadas demandas e necessidades dos/as participantes. Um corpo que ameaça a ordem social hegemônica, sendo cotidianamente vulnerabilizado e (não) reconhecido. O território de vida e trabalho, a violência institucional, sobretudo na Rede de Atenção à Saúde, o cenário político e a não garantia de direitos já conquistados foram apontados como as principais questões que deveriam compor o plano de incidência política.
Aprendizado e análise crítica
Dois pontos foram muito marcantes: a necessidade dos/as participantes de falar e serem ouvidos em um espaço institucional e a clareza que eles têm sobre seus direitos já conquistados. Em certa medida, os/as participantes já haviam participado de ações de Advocacy na luta cotidiana pela efetivação dos seus direitos. Nesse sentido, as discussões que o projeto propiciou podem contribuir para a sistematização de etapas e estratégias de mobilização e comunicação em futuras ações de Advocacy.
Conclusões e/ou Recomendações
Acreditamos que o plano de incidência política, construído de forma coletiva com pessoas LGBTQIAPN+ que vivenciam a violação, cotidiana e cruel de seus direitos pode contribuir para pautar politicamente a questão da saúde integral dessa população. Desse modo, será primordial apresentar o plano de incidência política em espaços deliberativos como Conselhos de Saúde, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Secretarias de Saúde, entre outros.
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A EQUIDADE DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO E NA CIÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Período de Realização
Maio de 2025
Objeto da experiência
Relato de atividade que discutiu os desafios de mulheres na ciência, destacando exclusões históricas e a importância do diálogo interseccional.
Objetivos
Descrever as reflexões de uma atividade sobre os obstáculos enfrentados por mulheres, especialmente negras, para ocuparem posições de liderança na ciência e na universidade.
Metodologia
Relato de experiência sobre a roda de conversa “Equidade de Gênero na Educação e na Ciência”, realizada em 14 de maio de 2025 no CCS/UFRB, com graduandas de diversos cursos. A atividade discutiu os desafios enfrentados por mulheres, sobretudo negras, na ocupação de espaços de liderança acadêmica e científica. A metodologia priorizou escuta horizontal, trocas afetivas e construção coletiva de estratégias contra desigualdades estruturais.
Resultados
A roda de conversa promoveu escuta e reflexão crítica sobre os desafios enfrentados por mulheres, especialmente negras, na universidade. As participantes compartilharam vivências marcadas por exclusões e resistências, destacando as interseccionalidades como eixo central na análise dos obstáculos à liderança acadêmica. A atividade reforçou a importância de espaços horizontais e da construção de políticas que reconheçam trajetórias diversas e promovam equidade na pós-graduação.
Análise Crítica
A atividade evidenciou a importância do debate interseccional na análise crítica das desigualdades de gênero e raça na ciência, contribuindo para a formação de uma consciência coletiva comprometida com a equidade e com a transformação das estruturas acadêmicas excludentes.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência revelou o papel transformador do diálogo interseccional na formação crítica e na construção de pertencimento mais justo para mulheres negras na ciência. Reforça-se a importância de que ações semelhantes sejam incorporadas às políticas institucionais, promovendo uma agenda contínua de combate às desigualdades no ensino superior.
TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACOLHIMENTO PARA POPULAÇÃO LGBTQIA+
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
Período de Realização
Dezoito meses
Objeto da experiência
Trata-se de projeto que visa desenvolver e testar um modelo de política pública baseada em tecnologias sociais de acolhimento para população LGBTQIA+.
Objetivos
Viabilizar a manutenção dos serviços de acolhimento LGBTQIA+;
Promover a organização de rede de cuidados com as pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, violência e vínculos familiares rompidos;
Realizar pesquisas de monitoramento dos serviços de Acolhimento de pessoas LGBTQIA+.
Descrição da experiência
O projeto visa desenvolver e testar um modelo de política pública baseada em tecnologias sociais de acolhimento para população LGBTQIA+. Entende-se por tecnologias sociais a utilização de conhecimentos técnicos e sociais na promoção de serviços, técnicas e metodologias reaplicáveis. Por meio dessas iniciativas, será possível oferecer o desenho de uma estratégia nacional de acolhimento, com foco nas experiências reais mapeadas e fortalecidas por este projeto.
Resultados
Política Pública desenvolvida e testada baseada em tecnologias sociais de acolhimento para a população LGBTQIA+.
Maior integração da saúde e da inovação, na perspectiva de promoção da saúde integral e de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida,
Articulação de experiências Fiocruz e MDHC no desenvolvimento e testagem de uma política pública voltada para o acolhimento de pessoas LGBTQIA+.
Aprendizado e análise crítica
Oferecer o desenho de uma estratégia nacional de acolhimento, com foco nas experiências mapeadas e fortalecidas requer o crescimento da importância das relações movimento social e Estado, bem como com o movimento LGBT e os movimentos por direitos humanos. Isso ocorre não apenas pelo apoio financeiro que o Estado ou as organizações passam a oferecer às organizações ativistas, mas especialmente pela abertura de canais de interlocução política com os governos e com outros atores.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que as Casas possuem pontos em comum na sua organização, principalmente quanto às formas de manutenção, já que, em sua grande maioria, atuam sem o apoio do poder público. O desafio para implementação de uma estratégia nacional de acolhimento vai muito além da superação de preconceitos. Atravessa, antes de qualquer coisa, o reconhecimento como humano, sujeito de direitos, com demandas específicas a serem fomentadas pelo Estado.
VOZES FEMININAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AGÊNCIA, DOR E DESEJO NAS EXPERIÊNCIAS SEXUAIS
Pôster Eletrônico
1 UFRGS
2 Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS)
Período de Realização
Maio de 2025, em ação educativa numa Unidade de Saúde da Família da Atenção Primária à Saúde (APS).
Objeto da experiência
Vivência coletiva com mulheres na APS sobre sexualidade, focando na escuta de experiências marcadas por dor, ausência de desejo e falta de agência.
Objetivos
Descrever e refletir criticamente sobre relatos de mulheres em ação coletiva na APS acerca de experiências sexuais: dor, ausência de desejo e falta de agência. Analisar efeitos dessas vivências para o cuidado integral e promoção da saúde sexual feminina, considerando gênero, idade e silêncio social.
Metodologia
A atividade integrou a "Gincana Saúde em Jogo" e reuniu 15 mulheres, com idades entre 48 e 74 anos, em um encontro sobre sexualidade na maturidade. Utilizou-se a dinâmica "verdadeiro ou falso" como disparador de conversas e escuta. No início, houve resistência das participantes mais velhas, mas a presença das mais jovens, o acolhimento mútuo e o vínculo favoreceram a abertura. O espaço tornou-se seguro para emergirem falas íntimas e tabus, revelando aspectos invisibilizados na rotina da APS.
Resultados
As falas evidenciaram a normalização da dor na menopausa, o silenciamento de queixas ginecológicas em mulheres mais velhas e a vivência de relações sexuais sem prazer ou afeto. Também surgiram crenças sobre a obrigação feminina de satisfazer o parceiro para evitar traições, e a ausência de diálogo familiar sobre sexualidade e a vergonha menstrual. Algumas relataram sentir-se forçadas a manter relações por medo de grosseria ou rejeição, vivenciando dor física, sofrimento psíquico e silenciamento.
Análise Crítica
A experiência mostrou que espaços coletivos sensíveis e intergeracionais podem produzir escuta qualificada, vínculo e fortalecimento do cuidado na APS. As falas revelaram como normas de gênero, etarismo e silêncios institucionais impactam a saúde sexual. O compartilhamento de vivências gerou identificação e cuidado entre as mulheres, ampliando a consciência sobre direitos sexuais e reprodutivos. Refletiu-se a urgência de estratégias de cuidados que respeitem desejo, corpo e autonomia feminina.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência demonstrou que ações coletivas sobre sexualidade na APS rompem silêncios, promovem vínculos e reconhecem demandas historicamente negligenciadas. Recomenda-se que a APS incorpore dinâmicas participativas com foco em gênero e escuta, valorizando saberes femininos como base do cuidado. Espaços de fala intergeracionais e acolhedores devem ser fortalecidos como prática cotidiana no cuidado em saúde sexual, baseado na equidade e respeito.
MATRICIAMENTO CLÍNICO VOLTADO PARA A EQUIPE PROFISSIONAL DA APS DA CLINICASSI EM CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ COM ÊNFASE NA HARMONIZAÇÃO DE PESSOAS TRA
Pôster Eletrônico
1 UNB
2 CASSI
Período de Realização
O nucléo de atenção a saúde da população LGBTQIA+ , foi criado em maio de 2024
Objeto da experiência
A implantação de grupos para matriciamento clínico, voltado para o tema terapias hormonais para pessoas trans e a discussão de casos clínicos
Objetivos
Matriciamento de hormonização para os trabalhadores das unidades da clíniCassi, que engloba e fomenta os temas de terapia hormonal com visibilidade a pessoas trans e a discussão de casos clínicos dessa população, com evidência em educação popular em saúde.
Metodologia
O núcleo entende que a terapia hormonal é um passo importante e fundamental na trajetória de muitas pessoas trans proporcionando não apenas mudanças físicas, mas também fortalecendo o bem-estar emocional e psicológico, no entanto cada jornada e única e o acompanhamento personalizado e essencial para garantir a segurança e o sucesso desse processo.
Resultados
Além disso o núcleo trás, o apoio psicológico, o acolhimento e a construção de redes de suporte que fazem toda a diferença, frisando a inclusão do acesso e de que cuidados de saúde adequados são pilares fundamentais para uma vida plena e autêntica quando se trata de saúde. Cabe destacar a categoria ‘organização do serviço e atenção à saúde LGBTQIA+’, com enfoque na subcategoria ‘formação dos trabalhadores da saúde’.
Análise Crítica
O núcleo compreende que a demanda ainda é potencialmente reprimida quando se refere a assistências a saúde referente ao processo de terapias de hormonização e demandas da população LGBTQIA+, pela escassez de profissionais da saúde que sejam habilitados adequadamente para a prestação desse serviço, por esse motivo a iniciativa de capacitação dos trabalhadores da rede cliniCASSI. Onde vem crescendo e aumentando o interesse dos trabalhadores pelo matriciamento.
Conclusões e/ou Recomendações
É preciso aprofundar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o público, visando à reafirmação da garantia de direitos como participantes da cliniCassi com base nos princípios da integralidade e equidade, em que vale destacar a militância LGBTQIA+ atuando fortemente na tradução do conhecimento, oferecendo conteúdo, discussão de casos. Com a intenção de fortalecer o vínculo com os serviços ofertados.
A ESCUTA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SEXUALIDADE EM UM DISPOSITIVO PSICANALÍTICO GRUPAL
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Período de Realização
A pesquisa-intervenção atua desde 2021 até o momento atual.
Objeto da experiência
A escuta psicanalítica das violências de gênero e sexualidade relatadas em espaços de escuta grupal
Objetivos
Considerando situações de violência contra mulheres e LGBTfobia escutadas em campo, este trabalho discute como a escuta psicanalítica atua clínica e politicamente, como instrumento de cuidado, de reconhecimento e como ferramenta propulsora de interações coletivas que fomentam pensamento crítico.
Metodologia
Através da experiência de pesquisa-intervenção, na qual há implementação de dispositivos psicanalíticos de escuta grupal, a equipe se deparou com diversos relatos de violência de gênero e sexualidade. Com isso, recorremos à interseccionalidade, que auxiliou no entendimento tanto das especificidades dessas discriminações quanto das suas interseções com outros discursos de poder, além de que proporcionou articulações teórico-práticas entre psicanálise, filosofia e ciências sociais.
Resultados
Ao longo do trabalho, foram escutadas experiências de violências físicas e simbólicas, como assédio sexual, moral e LGBTfobia, vividas na escola e em transportes públicos. Ainda que algumas fossem compartilhadas pela primeira vez, todas revelavam situações difíceis de serem verbalizadas e elaboradas, indicando processos de invisibilização. Tais violências expunham uma normatividade cishetero que produz silenciamentos e traumas, exigindo uma escuta interseccional, afetiva e polifônica.
Análise Crítica
Os relatos nas rodas evidenciaram como a falha do ambiente repercute nos âmbitos individuais e coletivos de forma potencialmente traumática, e como a escuta pode fornecer recursos subjetivos para lidar com isso. Entendemos que a violência expressa uma cis-hetero-normatividade que legitima e produz silenciamentos, e que escutar de maneira implicada permite intervir na roda não apenas sublinhando e nomeando violências, mas testemunhando e reconhecendo os sujeitos em sua integridade.
Conclusões e/ou Recomendações
Reconhecer as dimensões sociopolítica, coletiva e simbólica do sofrimento psíquico e dos processos de subjetivação é um pilar ético da escuta clínica e da ampliação de estratégias de promoção da saúde integral. Com uma escuta implicada, situada e interseccional, a roda pôde funcionar como espaço propulsor de novas elaborações e de interações coletivas criadoras de pensamento crítico, a partir do deslocamento de posições cristalizadas socialmente.
TRANSFORMANDO SAÚDE: AMBULATÓRIO LGBTQIAPN+ NO INTERIOR DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 Associação Mahatma Gandhi – Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva
2 Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva
Período de Realização
Fevereiro de 2023 a fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Implantação e consolidação de um ambulatório LGBTQIAPN+ com foco na população transexual em Catanduva-SP
Objetivos
Ofertar cuidado integral à população LGBTQIA+, focando no atendimento clínico e psicossocial de pessoas trans. Fortalecer a equidade e demais princípios do SUS na atenção à saúde desta população. Valorizar a escuta empática e qualificada e ampliar o acesso aos serviços de hormonização no município.
Descrição da experiência
Catanduva-SP não contava, até 2023, com estrutura para atenção especializada à população LGBTQIAPN+. Diante disso, foi elaborado o protocolo “Atendimento em Saúde na Rede Pública de Catanduva para as Pessoas LGBTQIA+”, com apoio do Conselho LGBT. Em fevereiro de 2023, iniciou-se o ambulatório LGBTQIA+ no Centro de Especialidades Médicas, com médico, psicólogo e assistente social, oferta gratuita de hormônios, acompanhamento contínuo e articulação com a rede de saúde.
Resultados
Mais de 510 consultas foram realizadas para cerca de 60 pacientes em dois anos. O ambulatório oferece atendimento médico semanal, acompanhamento psicológico conforme demanda e suporte social para retificação de nome e documentos. A atuação multidisciplinar garante cuidado integral e articulação com a rede. Em parceria com o Conselho LGBT, promove ações educativas e fortalece vínculos com o CTA-SP para capacitações e cirurgias.
Aprendizado e análise crítica
Evidenciou-se a importância da escuta ativa e valorização das especificidades da população LGBTQIAPN+. O modelo centrado na pessoa, mostrou-se essencial para o cuidado efetivo. O apoio intersetorial e o vínculo com a comunidade contribuíram para o êxito da proposta. A construção coletiva do protocolo e o diálogo constante com o Conselho LGBT foram determinantes. A experiência também destacou a necessidade de formação contínua da rede e de ampliação das ações preventivas e educativas.
Conclusões e/ou Recomendações
O ambulatório LGBTQIA+ é um avanço para o SUS no interior paulista, mostrando que qualquer município, independente do porte, pode promover saúde equitativa e humanizada. Recomenda-se ampliar a articulação com a atenção primária, CTA e rede socioassistencial, além de fomentar educação permanente e grupos de apoio. A continuidade e expansão da iniciativa são essenciais para garantir acesso e cidadania à população LGBTQIAPN+.
A ATUAÇÃO DOS BUROCRATAS DE NÍVEL DE RUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DA MULHER: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Ciência Políticas da Universidade de Brasília - IPOL, UnB.
Período de Realização
Setembro de 2024 e janeiro de 2025,
Objeto da experiência
40 publicações analisadas referente ao Papel do Profissional da Linha de Frente (Burocrata à nível de rua) referente a atenção primária em saúde da mulher.
Objetivos
Este trabalho analisa a atuação dos Burocratas de Nível de Rua da Saúde na implementação de políticas públicas para a saúde da mulher, a partir de uma revisão sistemática com 65 artigos da SciELO, dos quais 40 foram selecionados para estruturar a pesquisa.
Descrição da experiência
Este estudo analisa a atuação dos Burocratas de Nível de Rua (BNRs) na implementação de políticas de saúde da mulher, por meio de uma revisão sistemática qualitativa baseada em 17 anos de artigos da SciELO. Observa-se que, apesar de avanços legais, há desconexão entre normas e prática, devido à falta de capacitação e estrutura. Destaca-se o papel central dos BNRs e como seu uso da discricionariedade impacta a efetividade das políticas.
Resultados
O objetivo central foi, por meio da revisão sistemática, compreender como os BNRs lidam com as políticas de saúde da mulher. Apresentam-se resultados quantitativos e, sobretudo, qualitativos sobre sua implementação. Os primeiros estudos sobre essa atuação datam de 2007, quase 20 anos após a criação do SUS, coincidindo com o avanço das pesquisas sobre burocracia de nível de rua no Brasil.
Aprendizado e análise crítica
Os primeiros estudos sobre a atuação dos BNRs na saúde da mulher datam de 2007. De 2007 a 2017, foram produzidos 48,78% dos artigos analisados; de 2018 a 2024, 51,1%. Em 2016 e 2022 houve destaque em publicações. As temáticas mais recorrentes foram saúde sexual e reprodutiva (30%), violência doméstica (22,5%) e humanização no atendimento (20%).
Conclusões e/ou Recomendações
A análise de 40 artigos revelou avanços políticos na formulação de políticas de saúde da mulher, mas também evidenciou desconexão com a realidade dos BNRs. A discricionariedade, aliada à falta de capacitação, resulta em práticas desiguais, reforçando falhas estruturais e humanas no atendimento.
A SAÚDE INTEGRAL NAS NARRATIVAS DE MULHERES TRANSEXUAIS DE MINAS GERAIS: UMA BIOGRAFIA COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 ESP-MG
Período de Realização
A experiência ocorreu no período de junho de 2023 a dezembro de 2024.
Objeto da experiência
Elaboração de biografia coletiva de mulheres transexuais de MG com base na metodologia de história oral da Série Sempre-Vivas, do EGEDI /FJP.
Objetivos
Desvelar razões sociais, culturais e políticas associadas à posição dessas mulheres na sociedade mineira e suas dificuldades na efetivação de direitos, por meio do olhar interseccional, visibilizando os desafios no acesso à saúde integral e as estratégias de luta e superação por elas desenvolvidas.
Metodologia
Realizou-se formações da equipe sobre direitos da população LGBT, vivências das mulheres transexuais e história oral. O roteiro semiestruturado de entrevistas foi validado por representante das mulheres trans e o projeto aprovado pelos Comitês de Ética da Fiocruz Minas e da FHEMIG. Foram entrevistadas 12 mulheres em 9 cidades, com diversidade de região, faixa etária, raça/cor, orientação sexual, escolaridade, vínculo empregatício e ativismos. Todo o processo de elaboração foi participativo.
Resultados
As narrativas revelam os desafios enfrentados pelas mulheres transexuais e travestis, como violência desde a infância, falta de reconhecimento de suas identidades, baixa qualificação dos profissionais de saúde para lidar com as dissidências de gênero e sexualidade, dificuldades para encontrar profissionais especializados e os altos custos dos procedimentos. As histórias destacam a luta contra o preconceito na saúde e apontam avanços lentos, porém importantes na garantia da saúde integral no SUS.
Análise Crítica
Apesar de avanços com as políticas nacional (2013) e estadual (2020) de saúde integral da população LGBT, ainda persistem expressões alarmantes de preconceito, violência, estigma e desigualdades nos serviços de saúde. As narrativas evidenciam que o acolhimento inadequado, a patologização das identidades trans e as barreiras socioculturais e econômicas comprometem o cuidado integral. Superar esses desafios exige reorientar práticas, saberes e valores ainda pautados pela lógica cisheteronormativa.
Conclusões e/ou Recomendações
A história oral humaniza vivências e evidencia barreiras no cuidado em saúde das mulheres transexuais e travestis: estigma, preconceito, exclusões, violências e dificuldades de acesso. Também são produzidos saberes e práticas de cuidado a partir das experiências compartilhadas. Tais vivências exigem estratégias interseccionais de cuidado e formação permanente para profissionais do SUS, com vistas a promover acolhimento, equidade e respeito.
AÇÃO EDUCATIVA DE ENFERMAGEM PARA PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE HOMENS ADULTOS NO AMBIENTE DE TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFMS
2 UCDB
Período de Realização
Novembro de 2024
Objeto da experiência
Ação educativa de enfermagem para promoção de autocuidado aos homens adultos.
Objetivos
Relatar a experiência de enfermeiras em uma ação educativa de enfermagem para promoção do autocuidado de homens adultos no ambiente de trabalho.
Descrição da experiência
Ação realizada em uma empresa estatal de uma capital do Centro-Oeste brasileiro. Participaram três enfermeiras e duas acadêmicas de enfermagem. A palestra relacionou futebol ao cuidado e abordou doenças prevalentes, comportamentos de risco e ações de autocuidado: atividade física, alimentação saudável, práticas para redução do estresse e cessar o tabaco e álcool. Após, houve espaço para diálogo, rastreio de hipertensão arterial e diabetes, medidas antropométricas e orientações individualizadas.
Resultados
A ação proporcionou um espaço acolhedor e direcionado ao público masculino, com escuta ativa e abordagem integral da saúde, para além das campanhas pontuais. Vincular o futebol ao cuidado facilitou a adesão e engajamento dos participantes durante a palestra. Ademais, o momento de aferição de sinais vitais e medidas antropométricas permitiu um momento mais privado, assim, pode-se abordar especificidades e comportamentos de cada indivíduo, para orientações mais personalizadas.
Aprendizado e análise crítica
A vivência da ação contribuiu para ampliar a compreensão das enfermeiras acerca das especificidades dos homens e favoreceu a reflexão no planejamento de intervenções futuras voltadas ao autocuidado dos homens e promoção de saúde, para melhora do engajamento e manejo dos hábitos de vida e comportamentos de risco.
Conclusões e/ou Recomendações
Essa experiência reiterou a necessidade de articular estratégias conjuntas com o ambiente de trabalho, com inserção da Atenção Primária nesses pontos do território. Dessa forma, operaciona-se premissas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, como a promoção de ações educativas e estratégias que estimulem o autocuidado e ampliação do acesso aos serviços e informações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos.
PROTAGONISMO TRAVESTI NA FORMAÇÃO MÉDICA: EXPERIÊNCIA NO INTERNATO EM ATENÇÃO BÁSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Pôster Eletrônico
1 Graduanda de História da UFF
2 Docente do ISC - UFF
Período de Realização
Entre jan e dez de 2024 durante módulo saúde LGBT do internato obrigatório da Atenção Básica (AB)
Objeto da experiência
Narrativa travesti dos desejos e percalços do uso de hormônios na adequação de gênero foi propulsora no ensino-aprendizagem de discentes de medicina.
Objetivos
Fomentar as epistemologias educacionais e práticas de cuidado na Atenção Básica. Apoiar a teoria a partir de narrativas experienciadas. Descrever e possibilitar protagonismo travesti junto às atividades de formação. Aproximar discentes de corpos dissidentes e reduzir estigmas/preconceitos.
Descrição da experiência
A narradora ser uma travesti e bolsista integrante projeto de extensão Saúde integral da população LGBTQIA+ pela ótica da saúde coletiva(PROSAIN-UFF). Participa de forma ativa nas aulas, todavia, a narrativa sobre busca de atenção em saúde, em decorrência de efeitos adversos da auto uso de hormônios, mostra a ausência de saberes sobre a temática dos profissionais de saúde, em especial, médicos, revelam-se os ambientes despreparados para acolher e ofertar atenção integral à saúde de corpos dissidentes.
Resultados
Existe uma lacuna na formação médica sobre as demandas da população LGBTQIA+. Reconhecimentos dos preconceitos e estigmas, bem como iatrogenias e efeitos deletérios durante itinerários terapêuticos resultado da cultura de exclusão. A ausência de cuidados na AB, contrasta com as necessidades imediatas das transformações corporais das travestis - uso de hormônios sem prescrição. A convivência com corpos dissidentes proporcionou um aprendizado diferenciado na formação dos internos.
Aprendizado e análise crítica
A formação médica carece de conteúdos sobre gênero e sexualidade, assim como as demandas de saúde das pessoas LGBTQIA+, suas especificidades e direito a saúde. A Legislação sobre direito a saúde da população LGBTQIA+ é desconhecida pela maioria dos discentes. Participar das aulas e apresentar o relato, foi fundamental para o compartilhamento das questões que envolvem o cotidiano de discriminação continuada e as demandas de saúde que travestis experimentam na sociedade e serviços de saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
O protagonismo LGBTQIA+, na formação médica, produz impactos significativos e fundamentais para efetivar a equidade/integralidade na AB-SUS. Ofertar conteúdos sobre saúde LGBTQIA+, nos cursos da saúde é urgente para enfrentar, tanto a violação de direito, como promover acolhimento humanizado do cuidado na Rede de Saúde, para um SUS mais universal e acessível. A presença da travesti em aula foi fundamental para humanizar o aprendizado
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLINICAS DE UMA POPULAÇÃO ASSISTIDA EM UMA MATERNIDADE DA PARAÍBA
Pôster Eletrônico
1 UFPB
Período de Realização
O presente estudo foi realizado no período de 01 janeiro a dezembro de 2024.
Objeto da experiência
Análise demográfica e sociocultural de gestantes com foco em saúde, educação e estrutura familiar.
Objetivos
Identificar características demográficas e socioculturais da população estudada, visando entender suas necessidades e influências nas políticas públicas de saúde e educação na região.
Descrição da experiência
A experiência foi conduzida por meio de coleta de dados que abordaram aspectos como faixa etária, município de residência, raça/cor, situação conjugal, escolaridade, tipo de parto e realização de pré-natal. Os dados foram obtidos através de entrevistas e questionários aplicados a uma amostra representativa da população local. Os Dados forram disponibilizados por meio do sistema de informações da referida maternidade.
Resultados
Os resultados mostraram uma predominância de jovens adultos (20 a 34 anos) e uma alta taxa de união estável (51,8%). A maioria possui ensino médio (66,7%) e a taxa de cesarianas foi de 63,2%. Além disso, 62,9% das mulheres relataram ter realizado pré-natal completo. A população é majoritariamente parda (89,6%).
Aprendizado e análise crítica
A análise revelou a necessidade de políticas públicas direcionadas à educação e à saúde, especialmente considerando a alta taxa de cesarianas e a baixa proporção de ensino superior. A predominância de uniões estáveis versus casamentos formais sugere uma mudança nas dinâmicas familiares e sociais, que deve ser considerada nas intervenções sociais.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a implementação de programas que promovam a educação continuada e a conscientização sobre práticas de saúde, como a importância do pré-natal e os riscos associados ao tipo de parto. Além disso, é fundamental promover ações que integrem os jovens na busca por oportunidades, visando um desenvolvimento social mais equilibrado.
TRANSFORMAÇÃO TRANSBUCAL BRASIL - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS FORMADORES PARA A TRANS PESQUISA
Pôster Eletrônico
1 UFSC
Período de Realização
A construção dos cursos ocorreu entre os meses de outubro de 2024 e junho de 2025.
Objeto da experiência
Descrever a construção, condução e resultados de dois cursos de formação destinados a equipe de campo de pesquisa científica com a comunidade trans.
Objetivos
Fornecer subsídios e formação principalmente aos pesquisadores cisgêneros do Projeto Transbucal Brasil, para que estes estivessem preparados para adentrar as atividades de campo do estudo no contexto da pesquisa com pessoas trans.
Descrição da experiência
Dois cursos online hospedados no moodle foram desenvolvidos com o objetivo de capacitar pesquisadores, graduandos e pós-graduandos, profissionais da rede e o movimento social para a pesquisa com pessoas trans no contexto do projeto Transbucal Brasil, além de facilitar a (des)construção de conhecimentos básicos acerca da transgeneridade e a pesquisa com a comunidade, além de promover estratégias de divulgação, tradução e disseminação de conhecimento transcentrado.
Resultados
Os cursos ocorreram entre os meses de março e junho de 2025, formando cerca de 180 pessoas. A necessidade de transformar a pesquisa sobre transgeneridades urge, superando abordagens cisnormativas que historicamente silenciaram vozes, a importância da colaboração e do protagonismo das pessoas trans dentro da produção. Os dados reforçam que pesquisas que se baseiam nesta população devem ser feitas com e não sobre, garantindo que as vivências sejam representadas com autenticidade e respeito
Aprendizado e análise crítica
O Transbucal Brasil propõe mudança de paradigma ao desenvolver cursos formativos voltados à capacitação de pesquisadores cis, promovendo sensibilização pautada nos saberes transepistêmicos. A estrutura dos cursos, combinando conteúdos teóricos, discussões síncronas com pesquisadores trans e ferramentas audiovisuais, demonstra que é possível construir pesquisas junto a comunidade trans desconstruindo estereótipos tendo a transpeistemologia com eixo norteador na produção ética do conhecimento.
Conclusões e/ou Recomendações
Só é possível avançar no conhecimento científico sobre saúde da população trans, quando se privilegia os saberes transcentrados, se faz a reflexão crítica sobre privilégios cis/hetero/brancos e se promove a construção coletiva sobre saberes. É esperado que este relato incentive novas pesquisas sobre a saúde trans, garantindo que estas vozes não sejam apenas ouvidas, mas também liderem narrativas sobre suas próprias existências.
A PATERNIDADE NA PAUTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESENVOLVENDO AÇÕES PARA FORTALECER A PRESENÇA DOS HOMENS NA ESFERA DOS CUIDADOS INFANTIS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Período de Realização
Experiência derivada de projeto de extensão em atividade, com desenvolvimento desde abril de 2024
Objeto da experiência
Trata-se de ação extensionista voltada à promoção do envolvimento dos homens no âmbito dos cuidados infantis, a partir da Atenção Primária à Saúde
Objetivos
As ações do projeto têm/tiveram por objetivo incentivar o envolvimento e a presença dos homens no ciclo pré-natal, parto e puerpério, nos serviços de APS de Santa Cruz/RN, com vistas a fortalecer o exercício da paternidade e a implicação masculina nos cuidados infantis.
Descrição da experiência
As atividades foram desenvolvidas na rede de saúde do município de Santa Cruz/RN, a partir de abordagens metodológicas diversas, envolvendo: debates formativos entre os integrantes, conversas e atividades coletivas no cotidiano dos serviços de APS (rodas de diálogo e salas de espera), elaboração de materiais informativos e ações de mobilização social, incluindo o desenvolvimento campanhas educativas. O público-alvo foram os usuários e profissionais dos serviços, além de estudantes de graduação.
Resultados
O projeto levou à criação e implementação de uma série de espaços e iniciativas de trabalho, voltadas a debater os homens na esfera do cuidado, especialmente no tocante à paternidade. Destas, destacam-se: criação da campanha “Pai, agente que Cuida”, salas de espera nas unidades básicas de saúde, participação em programa da Rádio Comunitária local, publicação de materiais em rede social, rodas de conversa com gestantes em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, e atividades grupais com homens.
Aprendizado e análise crítica
Tem sido possível produzir saberes e ações em saúde que auxiliam a inserir a paternidade na pauta cotidiana dos serviços de APS na rede local, o que favorece o debate sobre melhorias na produção da saúde dos homens, das mulheres e das crianças no SUS. Em especial, destaca-se um progressivo reconhecimento dos homens como sujeitos que podem ser inseridos nos espaços de cuidado, colaborando para o compartilhamento de responsabilidades no campo da saúde reprodutiva e promoção da equidade de gênero.
Conclusões e/ou Recomendações
Apesar da positividade dos resultados, entende-se que ainda há muito a se fazer no tocante ao reconhecimento dos homens como sujeitos que podem (e devem) demonstrar/assumir responsabilidades nos cuidados de si e dos outros, o que aponta a necessidade de outras estratégias que colaborem tanto para a sustentabilidade das ações iniciadas com o projeto, como para oportunizar experiências acadêmicas implicadas e transformadoras para os discentes.
ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NO ENSINO DA GRADUAÇÃO MÉDICA SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+.
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário São Camilo
Período de Realização
agosto a dezembro de 2024
Objeto da experiência
Estratégias utilizadas no ensino da graduação médica sobre a saúde da população LGBTQIAPN+.
Objetivos
Descrever as estratégias utilizadas na abordagem da saúde da população LGBTQIAPN+ para o ensino médico na perspectiva de docentes da Saúde Coletiva.
Descrição da experiência
Atividade integrou a disciplina Integração Saúde e Comunidade VI (graduação em Medicina), focada nas necessidades de saúde da população LGBTQIAPN+, abordando aspectos históricos, culturais e biopsicossociais. Incluiu aulas expositivas, visitas ao CR POP TT (Centro de Referência para Travestis e Transexuais Janaína Lima) e ao Museu da Diversidade Sexual. Como produto final, os estudantes elaboraram diários de campo reflexivos individuais sobre a experiência.
Resultados
Estudantes do 6º semestre de um Curso de Medicina em São Paulo destacaram a importância de identificar as necessidades humanas em sua formação, relacionando momentos históricos com realidades atuais, arte com cuidado social, e saúde com afeto. Incluíram histórias de vida, relações familiares, território e sua arquitetura como espaços produtores de saúde. Também demonstraram interesse na hormonização de pessoas trans e travestis, observando seus benefícios entre os/as assistidos pelo CR POP TT.
Aprendizado e análise crítica
As visitas técnicas encorajaram estudantes a revisitar conceitos da saúde coletiva aprendidos em semestres anteriores, agora aplicados à população LGBTQIAPN+. Os e as estudantes também puderam ver na prática a importância dos aspectos históricos, culturais e sociais da população LGBTQIAPN+ para o cuidado em saúde, embora ainda não tenham realizado atendimentos clínicos a esta população.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência prática em cenários LGBTQIAPN+ revelou-se enriquecedora tanto no aspecto pedagógico quanto pessoal. Proporcionou aos futuros médicos reflexões profundas sobre acolhimento e cuidado em saúde, destacando a importância de compreender as dimensões socioculturais específicas das pessoas que vivenciam dissidências de gênero e sexualidade, ampliando sua competência cultural e formação humanizada.
SAÚDE LGBT E GÊNERO: CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), ISSO DÁ SAMBA?
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFF
Período de Realização
Trabalho de Campo Supervisionado (TCS), componente curricular (CC) do semestre acadêmico de 2024.2.
Objeto da experiência
Atividades sobre produção do cuidado integral, equidade e integralidade voltadas à saúde da população LGBT para discentes de medicina.
Objetivos
Contribuir na formação discente em saúde. Sensibilizar discentes sobre aspectos sociais e históricos que marginalizam existências. Provocar um debate sobre percepções da diversidade; criar uma atmosfera de acolhimento entre discente/docente/estagiária docente e demais atores.
Descrição da experiência
O samba história para ninar gente grande da escola de samba mangueira, apresentado no 1° dia de aula, faz pontes com demais mo(vi)mentos do CC. Narra-se “a história que a história não conta”, revelando “o avesso do mesmo lugar “e “versos que o livro apagou”. Dinâmicas com atores/espaços de cuidado LGBTs desmistificam/(res)significam práticas/saberes do cuidar protocolados/centrados na epidemiologia sem ponderar vulnerabilizações (re)construídas na (re)colonização de corpos discentes/dissidentes.
Resultados
Discentes, docentes e atores dos mo(vi)mentos do processo ensino-aprendizagem descortinam a história dos estigmas, escancaram o avesso do mesmo lugar dos preconceitos e os versos da LGBtfobia presente no tecido social que oprimem/subjugam e vulnerabilizam a população LGBT. Assim, novas reflexões/epistemes, como inéditos viáveis Freirianos, desfilam na passarela do conhecimento e, como baluartes, (re)inauguram possibilidades na produção do cuidado pautado pela diversidade do existir.
Aprendizado e análise crítica
O artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação afirma que discentes devem ser formado(a)s para abordar a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero e orientação sexual. A experiencia do CC pode sinalizar ruptura na formação focada na matriz histórica e sociopolítica que teima em perpetuar exclusão por via nosológica. Urge-se novos olhares para ouvir outras/os “Marias, Mahins, Marielles, malês”.
Conclusões e/ou Recomendações
O estágio docente, como espaço de formação da identidade, possibilita a reflexão crítica no processo ensino-aprendizagem. O samba como metáfora, a discentes de medicina, permitiu debate sobre produção do cuidado, diversas camadas da desigualdade para atingir equidade e integralidade da atenção. Assim, outros CC precisam abordar a temática de forma longitudinal e de forma dialética entre teoria e prática junto a corpos considerados dissidentes.
SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+: EXPERIÊNCIAS, APRENDIZADOS E DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS
Pôster Eletrônico
1 UFU
2 Departamento de APS da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Araguari
Período de Realização
As atividades foram realizadas durante o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025.
Objeto da experiência
Formação de profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) para a qualificação do cuidado à população LGBTQIAPN+, visando à equidade.
Objetivos
Relatar a experiência de uma formação teórico-prática direcionada para profissionais de saúde da APS, com foco na saúde integral da população LGBTQIAPN+, promoção da equidade e na problematização das barreiras institucionais existentes que limitam o acesso dessa população aos serviços de saúde.
Descrição da experiência
Foi realizada uma formação teórico-prática sobre diversidade de gênero, orientação sexual e direitos da população LGBTQIAPN+, conduzida por uma equipe do PET-Saúde Equidade para profissionais de saúde da APS de um município de médio porte em Minas Gerais. A proposta promoveu troca de saberes, escuta ativa e reflexões sobre práticas institucionais, criando um espaço seguro e educativo para um atendimento mais humanizado, respeitoso e inclusivo.
Resultados
A formação foi realizada para 100% das equipes de Saúde da Família e 25% das equipes de Atenção Primária do município. Tal atividade englobou uma exposição dialogada sobre a história da luta pelos direitos da população LGBTQIAPN+ e o letramento; diversas rodas de conversa entre os profissionais da APS e os integrantes do PET-Saúde; e dinâmicas práticas, na qual os trabalhadores puderam vivenciar as dificuldades e os preconceitos que a população LGBTQIAPN+ enfrentam ao longo de suas vidas.
Aprendizado e análise crítica
As atividades realizadas permitiram a troca de conhecimentos. A equipe PET-Saúde pode esclarecer o assunto, com o objetivo de tornar o acesso à saúde mais democrático e equânime aos usuários do SUS. Notou-se a resistência de alguns profissionais nas discussões, o grande interesse de outros e uma forte gratidão da maioria se fizeram presentes. Assim, evidencia-se que muito ainda deve ser feito, sendo necessário um trabalho contínuo, a fim de romper estereótipos e ampliar o acesso à saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Utilizando metodologias participativas, a formação contribuiu para a construção de reflexões críticas entre os profissionais da APS e sobre os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+ no acesso aos serviços de saúde. Ademais, reafirmou a importância dos princípios do SUS - universalidade, integralidade e equidade - ao promover práticas de cuidados éticas, acolhedoras e comprometidas com a diversidade e os direitos humanos.
A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO E ACONSELHAMENTO NA COMUNICAÇÃO DE TESTAGEM POSITIVA PARA HIV: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ/BRASÍLIA
2 SES/DF
Período de Realização
A experiência ocorreu no mês de junho de 2025.
Objeto da experiência
A prática do acolhimento e aconselhamento, na comunicação de testagem positiva para HIV.
Objetivos
Apresentar a experiência de uma enfermeira residente, em conjunto com sua preceptora, na realização do acolhimento e aconselhamento de um usuário, durante a comunicação de um resultado positivo para HIV.
Metodologia
Trata-se de um relato de experiência, vivenciada por uma residente de enfermagem, em conjunto com sua preceptora, na Unidade Básica de Saúde 02 de Ceilândia/DF, durante o atendimento de uma demanda espontânea. O caso envolveu um usuário jovem, homossexual, que realizou testagem rápida para HIV, cujo resultado foi positivo. Diante desse cenário, foram realizadas práticas de acolhimento e aconselhamento, considerando as especificidades e vulnerabilidades do usuário, e oferecimento de apoio emocional.
Resultados
Como resultado do acolhimento e do aconselhamento ofertados no atendimento, o usuário relatou uma redução significativa dos sentimentos de angústia, ansiedade, medo e desesperança frente ao seu diagnóstico. O suporte emocional, aliado às informações oferecidas, contribuiu para o fortalecimento do enfrentamento da situação vivenciada.
Análise Crítica
A experiência vivida reforça a necessidade de aprimorar a capacitação de profissionais de saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) em acolhimento e aconselhamento, especialmente para atender usuários homossexuais que buscam testagem para ISTs/HIV. É crucial que o atendimento não se limite à realização de testes rápidos, mas inclua um suporte abrangente e sensível às necessidades específicas desse público, que já enfrenta preconceitos sociais.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se, portanto, que o acolhimento e o aconselhamento são práticas essenciais para a saúde coletiva, que visam informar, avaliar riscos e oferecer apoio emocional aos usuários. Essas ações devem ser fortalecidas na APS, contribuindo para o enfrentamento da epidemia de HIV/Aids. Sabe-se que, um bom acolhimento e aconselhamento podem ajudar a reduzir, ou até superar, os obstáculos do estigma, da vergonha e do medo, que ainda cercam a Aids.
PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA: O PSE COMO ESTRATÉGIA INTERSETORIAL DE EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE, DIREITOS E CONSENTIMENTO.
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ BRASÍLIA
Período de Realização
Agosto de 2024 a Novembro de 2024.
Objeto da experiência
Intervenção educativa intersetorial em saúde sexual e reprodutiva com adolescentes em contexto de vulnerabilidade do Distrito Federal.
Objetivos
Criar espaço seguro de diálogo com adolescentes sobre saúde sexual, práticas sexuais, ISTs, aborto, consentimento, gênero e orientação sexual, promovendo autonomia, prevenção e acesso qualificado aos serviços de saúde dentro do Programa Saúde na Escola - PSE no CEF 32 de Ceilândia, DF.
Descrição da experiência
No 2ºterritório mais vulnerável do DF, promovemos rodas de conversa com adolescentes, abordando temas sensíveis como práticas sexuais, aborto, infecções sexualmente transmissíveis, consentimento, gênero e direitos humanos. Utilizamos uma linguagem acessível e inclusiva para criar um ambiente seguro e acolhedor, que rompe tabus e barreiras culturais. Essa abordagem estimula a confiança, o diálogo franco e fortalece a autonomia dos jovens na vivência consciente e responsável da sexualidade.
Resultados
A ação resultou em expressivo aumento da procura espontânea de adolescentes na UBS, que passaram a buscar métodos contraceptivos, preservativos, apoio psicológico e orientações qualificadas sobre sexualidade. Esse movimento fortaleceu o vínculo intersetorial entre saúde e escola, ampliou o acesso a informações seguras e promoveu o cuidado integral, acolhendo as demandas específicas da juventude e contribuindo para a autonomia e o protagonismo juvenil.
Aprendizado e análise crítica
A promoção de espaços de escuta qualificada e diálogo aberto sobre sexualidade, consentimento e direitos permitiu empoderar os jovens a identificar sinais de abusos, assédios e situações de vulnerabilidade. Com abordagem acolhedora, foi possível reconhecer riscos como gravidez indesejada e ISTs, fortalecer a prevenção e garantir o acesso aos cuidados. Além disso, os encontros proporcionaram momentos descontraídos de esclarecimento de dúvidas e orientações seguras sobre práticas sexuais.
Conclusões e/ou Recomendações
As rodas de conversa, realizadas no âmbito do PSE, consolidaram-se como estratégia eficaz na promoção da saúde sexual, permitindo abordagem integral das demandas dos adolescentes. Ao articular educação e saúde, o PSE fortalece a integralidade do cuidado, promovendo vínculos, autonomia, prevenção de agravos e identificação precoce de vulnerabilidades, assegurando um atendimento humanizado e contínuo.
III CURSO DE EXTENSÃO EM RELAÇÕES RACIAIS E DE GÊNERO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM GÊNERO, RAÇA E SAÚDE - NEGRAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Período de Realização
O curso aconteceu no ano de 2024, com duração de 2 semestres
Objeto da experiência
Este relato trata-se das vivências do III curso de extensão em relações raciais e de gênero.
Objetivos
O objetivo do Curso foi proporcionar um espaço formativo e reflexivo sobre as temáticas de relações de gênero, raça e saúde, abordando conceitos fundamentais, feminismo negro, racismo estrutural e institucional, saúde mental e os efeitos do racismo na saúde da população negra.
Descrição da experiência
O curso foi dividido em dois módulos com 10 encontros formativos e 40 horas de carga horária. Abordou temas conceituais de gênero e raça, feminismo negro e interseccionalidades, bem como a saúde mental e os efeitos do racismo na saúde da população negra. As discussões eram ministradas por convidados e professores do núcleo de estudos, com duração de aproximadamente 2 horas, com momento para pontuações e dúvidas, o curso ofereceu também um suporte teórico com leituras obrigatórias e complementares.
Resultados
Atividades como essas proporcionam um espaço de troca de experiências pessoais e profissionais, que nos fazem refletir sobre nossas atitudes e a importância de atuar de forma mais consciente e sensível às questões de gênero, raça e saúde. Nos instrumentaliza para ações, projetos ou políticas voltadas à promoção da justiça social, combate ao racismo e à discriminação de gênero, fortalecendo o compromisso social através de uma postura ativa na luta por direitos humanos, igualdade e inclusão.
Aprendizado e análise crítica
A participação no curso de extensão foi uma experiência extremamente enriquecedora, da qual podemos perceber o quanto esses temas estão profundamente interligados e como eles impactam a vida da população. Durante os encontros, tivemos a oportunidade de discutir questões relacionadas às desigualdades no acesso aos serviços de saúde, às experiências de discriminação enfrentadas por diferentes grupos e à importância de promover uma atenção mais humanizada e inclusiva.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou a importância de espaços formativos sobre raça, gênero e saúde, contribuindo para a compreensão da urgência de discutir e enfrentar o racismo e o sexismo como determinantes sociais da saúde. A continuidade e institucionalização de iniciativas como esta não devem ser vistas como complemento, mas como eixo estruturante de uma formação crítica , ética e comprometida com a equidade e a transformação social.
DIÁLOGO ENTRE A PESQUISA, SERVIÇO E PROFISSIONAIS DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A RESPOSTA A MORTALIDADE MATERNA EM MATO GROSSO
Pôster Eletrônico
1 UFMT - INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
2 Consultora independente
Período de Realização
28 e 29 de maio de 2025
Objeto da experiência
Relatar a concepção metodológica das oficinas e plenária durante o I Simpósio Mato-Grossense de Morte Materna
Objetivos
Descrever a concepção metodológica das oficinas e plenária realizadas durante o Simpósio com o intuito promover espaços coletivos de escuta, identificação de problemas e potencialidades no enfrentamento da morte materna em Mato Grosso.
Descrição da experiência
As oficinas e plenária foram elaboradas a partir do Resumo Executivo da pesquisa “Mortalidade de mulheres em idade fértil e materna em Cuiabá e Mato Grosso”, conduzida pelo ISC/UFMT e parceiros. Com base em cinco situações-problema, os grupos (com cerca de 25 participantes) discutiram determinantes da morte materna nos territórios e elaboraram propostas de enfrentamento. Facilitadores e relatores capacitados conduziram os debates com foco na escuta ativa, no protagonismo e nos saberes regionais.
Resultados
As oficinas revelaram fatores associados à morte materna, como dificuldade de acesso à atenção especializada, fragilidades na linha de cuidado e na comunicação entre níveis. A experiência fortaleceu vínculos entre gestores, profissionais e pesquisadores, promovendo diálogo e escuta qualificada. As propostas serão sistematizadas e disponibilizadas a serviços de saúde e órgãos de controle para aprofundar o tema nos territórios.
Aprendizado e análise crítica
A atividade evidenciou a potência das metodologias participativas na aproximação entre os atores envolvidos. A articulação entre ciência, gestão e cuidado mostrou potencial para orientar ações no enfrentamento da morte materna, apesar da limitação de tempo para as discussões durante o Simpósio.
Conclusões e/ou Recomendações
A realização das oficinas e plenária final apresentaram-se como estratégias importante para a articulação política e técnica no que se refere a formulação de respostas aos desafios da morte materna. Recomenda-se http://bit.ly/AbrascoAssociadosque tais espaços possam ser implementados pelos atores envolvidos no intuito do monitoramento das propostas apontadas no Simpósio.
PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA DIVERSIDADE: EXPERIÊNCIA DE AÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À LGBTFOBIA EM MERCADO PÚBLICO EM RECIFE
Pôster Eletrônico
1 SESAU Recife
2 UFRPE
Período de Realização
A ação foi realizada no dia 17 de maio de 2024 no período da manhã, em Recife-PE.
Objeto da experiência
Ação Dia Internacional de Combate a LGBTFOBIA, com educação em saúde, vacinação e acolhimento à população LGBTQIAPN+, focando na promoção e prevenção.
Objetivos
A ação teve como objetivo promover visibilidade, inclusão e respeito à população LGBTQIAPN+, aliando estratégias de educação em saúde e acolhimento à ampliação do acesso à vacinação.
Descrição da experiência
Foi realizada ação de educação em saúde no mercado público da Encruzilhada, Distrito Sanitário II - Recife. Houveram rodas de conversa sobre a LGBTfobia, os desafios do uso do nome social, além da orientação sobre IST’s e informações sobre serviços do Centro de Referência sobre a saúde da População LGBT. Também foi ofertado imunização contra hepatites, tétano e Influenza, testes rápidos para ISTs e entrega de kits de cuidados pessoais, reforçando o acesso a direitos e o acolhimento.
Resultados
A ação contou com a participação de aproximadamente 36 usuários, incluindo pessoas em situação de rua do entorno do Mercado. Durante a atividade foram ofertados os serviços de vacinação, e realizados testes rápidos em 28 usuários.
Aprendizado e análise crítica
Apesar da relevância da ação realizada, observa-se a necessidade da continuidade de ações como essa, garantindo a manutenção dos vínculos estabelecidos com a comunidade e a efetividade das estratégias de promoção à saúde. Além disso, destaca-se a importância de estabelecer fluxos de encaminhamentos da população atendida para a rede de saúde do Distrito Sanitário II, assegurando a continuidade do cuidado e acesso integral às políticas públicas de saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Ações centradas na escuta qualificada, promoção e cuidado em saúde fortalecem o vínculo entre o SUS e a população LBGBTQPN+. A combinação entre educação em saúde, prevenção e acolhimento é uma potente ferramenta para reduzir as barreiras de acesso que são comuns à essa população. Destaca-se a necessidade do desenvolvimento de ações e espaços propulsores de visibilidade e acolhimento à população de maneira contínua e frequente.
PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO TRANSEXUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Pôster Eletrônico
1 UFPA
Período de Realização
Relato de experiência com 12 mulheres trans em ação de saúde na ESF, Belém-PA, em março de 2025.
Objeto da experiência
Relatar a vivência de estudantes de enfermagem durante uma atividade de saúde voltada à população trans, abordando o processo transexualizador.
Objetivos
Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem em ação voltada à população transexual em uma ESF de Belém-PA, promovendo acolhimento humanizado, acesso à informação e encaminhamentos adequados por meio da articulação com o Projeto Casulo e a rede de atenção à saúde.
Descrição da experiência
A ação iniciou com recepção e roda de conversa sobre o Projeto Casulo, realizada na unidade de saúde. Os estudantes elaboraram material informativo com orientações sobre cadastro na ESF e acesso ao projeto. Houve triagem, testagem para ISTs, vacinação, consulta de enfermagem e encaminhamentos, garantindo inserção na rede de atenção especializada e suporte contínuo no processo de transição de gênero.
Resultados
A ação atendeu doze mulheres transexuais em uma ESF com práticas de acolhimento, educação em saúde e cuidado clínico. Houve roda de conversa sobre o processo transexualizador e o Projeto Casulo, elaboração de materiais educativos, consultas de enfermagem, testagens para ISTs, vacinação e encaminhamentos. Todas foram inseridas na rede especializada com suporte contínuo da ESF.
Aprendizado e análise crítica
A atividade evidenciou a importância do acolhimento sensível à população trans, frequentemente negligenciada. A vivência possibilitou aos acadêmicos compreenderem o impacto do cuidado afirmativo e a promoção de direitos. Destacou-se ainda a necessidade de capacitação contínua e o papel da enfermagem na articulação do cuidado e na promoção da equidade em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
A ação permitiu oferecer cuidados com enfoque afirmativo, fortalecendo o acesso da população trans aos serviços de saúde, promovendo seus direitos e contribuindo para sua qualidade de vida.
ENTRE MITOS E VERDADES: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO ‘E AGORA? DESMISTIFICANDO O SEXO NA ADOLESCÊNCIA‘
Pôster Eletrônico
1 UFSM
Período de Realização
A vivência iniciou em março de 2025 e se estenderá até julho de 2025.
Objeto da experiência
Promover educação sexual inclusiva e acolhedora para adolescentes, incentivando conhecimento crítico e diálogo aberto sobre sexualidade.
Objetivos
Relatar a experiência acadêmica vivenciada no projeto de extensão, promover uma abordagem de educação sexual baseada no acolhimento e respeito, além de proporcionar um ambiente seguro, ético e confortável para adolescentes em situação de vulnerabilidade informacional.
Metodologia
O projeto de extensão da UFSM foi realizado em escolas públicas de Santa Maria-RS, promovendo educação sexual para adolescentes. As atividades abordaram anatomia genital, ciclo menstrual, infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, por meio de dinâmicas, materiais educativos e esclarecimento de dúvidas anônimas. As turmas foram divididas por gênero para favorecer o diálogo, garantindo ambiente seguro e acolhedor.
Resultados
O projeto proporcionou um espaço de diálogo seguro, favorecendo a reflexão crítica entre os adolescentes. Observou-se expressiva interação, com relatos espontâneos, questionamentos pertinentes e desconstrução de conceitos equivocados. As intervenções permitiram identificar lacunas no conhecimento prévio e promover o desenvolvimento de atitudes mais responsáveis em relação à sexualidade.
Análise Crítica
Os adolescentes ampliaram o entendimento sobre sexualidade além de mitos, reconhecendo a importância do respeito próprio e do outro. A análise crítica revelou a persistência de tabus e desinformação que dificultam o acesso ao diálogo aberto. Essa experiência evidenciou a necessidade de espaços educativos contínuos que promovam autonomia e responsabilidade, preparando-os para escolhas conscientes e saudáveis.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto evidenciou a importância da educação sexual clara e acolhedora para adolescentes, contribuindo para a desmistificação de tabus e o fortalecimento da autonomia dos jovens. Recomenda-se a ampliação dessas ações em escolas públicas, garantindo espaços seguros para diálogo e respeito, promovendo decisões conscientes e responsáveis sobre a saúde sexual e o bem-estar dos adolescentes.
A IMPORTÂNCIA DA VISIBILIDADE AO ACOLHIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM ENFERMEIRO TRANSGÊNERO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó-SC, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF)
Período de Realização
Realizado entre 08/2023 à 05/2025, em uma Unidade de Pronto Atendimento.
Objeto da experiência
A experiência relatou o impacto da representatividade transgênera no acolhimento às pessoas trans, abordando avanços e barreiras enfrentadas.
Objetivos
Promover a visibilidade trans no campo da saúde coletiva, destacando a importância de enfermeiros transgêneros como agentes de transformação. Identificando sua influência no acolhimento, humanização e reforçando políticas públicas que reconhecem a diversidade, assim reduzindo desigualdades.
Descrição da experiência
Este relato de experiência reflexivo aborda a vivência de um enfermeiro transgênero no atendimento a pessoas trans em uma Unidade de Pronto Atendimento no sul do Brasil. Inserido em um contexto municipal marcado pelo conservadorismo e coronelismo, destaca-se o frágil acesso dessa população à atenção primária em saúde. Muitas vezes, a entrada ocorre por serviços especializados, como Urgência e Emergência, onde o desconhecimento profissional pode gerar constrangimentos durante o cuidado.
Resultados
Os enfermeiros transgêneros demonstraram maior empatia e conforto no atendimento a pessoas transgêneras, promovendo vínculo, aumento a adesão ao tratamento e redução da evasão. Esses profissionais foram fundamentais na desconstrução de preconceitos, melhorando a relação entre pacientes e equipes. Apesar disso, desafios como discriminação interna e ausência de políticas claras de inclusão institucional ainda dificultam avanços mais expressivos.
Aprendizado e análise crítica
A representatividade transgênera é fundamental, contribuindo significativamente no bem-estar dos pacientes e para a compreensão das equipes de saúde sobre diversidade. Favorecendo a sensação de pertencimento e cuidado, promovendo interações baseadas na empatia. E facilitando o diálogo no ambiente de trabalho, educando sobre as especificidades da população transgênera e humanizando o atendimento. Contudo, a principal barreira está na superação de valores pessoais enraizados entre profissionais.
Conclusões e/ou Recomendações
O acolhimento baseado no encontro entre semelhantes configura uma estratégia eficaz para fortalecer a confiança no ambiente de saúde, que deve ser espaço de segurança e acolhimento. Profissionais pertencentes à comunidade transgênera desempenham papel essencial na superação de barreiras, contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais humanizado e inclusivo, fundamentado na empatia e no respeito às diversidades.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DIÁLOGOS POSSÍVEIS SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE EM UM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2 Secretaria Estadual da Saúde/RS
Período de Realização
A experiência de educação permanente em saúde (EPS) foi realizada entre abril e outubro de 2023.
Objeto da experiência
Profissionais de um serviço público de saúde especializada, referência no atendimento em saúde sexual em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Objetivos
Relatar e analisar as repercussões de uma proposta de intervenção científica e educativa sobre gênero e sexualidade realizada com profissionais de um serviço público de saúde.
Descrição da experiência
A intervenção ocorreu em cinco encontros mensais com a abordagem de conceitos de gênero, sexualidade, saúde sexual e acesso a serviços para LGBTI+. O espaço foi facilitado por diferentes pessoas, como representantes de movimentos sociais, pesquisadoras e trabalhadoras da área da saúde e contou com a participação de 25 profissionais de diversas áreas do serviço, incluindo saúde, vigilância, apoio administrativo e higienização.
Resultados
Durante os encontros discutiu-se sobre as potencialidades e fragilidades no atendimento às pessoas LGBTI+ no serviço. A partir dessas reflexões, construi-se coletivamente estratégias para reduzir as violências institucionais e ampliar o acesso dessa população. Os profissionais ressaltaram a importância do espaço de EPS para promover reflexões críticas sobre as práticas e qualificar o processo de trabalho. A resistência à participação e a sobrecarga dos profissionais impactaram na adesão à EPS.
Aprendizado e análise crítica
O estudo evidenciou a forte influência do conservadorismo na estruturação de violências e na atuação profissional e o potencial da EPS em questionar o modelo vigente e qualificar o trabalho sob uma perspectiva mais equânime e integral. Verificou-se a importância do apoio da instituição para a sustentação de um espaço contínuo de EPS e a potencialidade da presença da diversidade de saberes e do cotidiano na capilarização das discussões em espaços mais resistentes ao diálogo sobre esse tema.
Conclusões e/ou Recomendações
Verifica-se a importância da EPS para promover práticas profissionais pautadas na promoção da humanização, da dignidade e do respeito às identidades de gênero e sexualidades. Recomenda-se a manutenção de espaços de EPS sobre o tema e a utilização de metodologias que estimulem o diálogo e representem as situações vivenciadas por essa população, como relatos de pessoas LGBTI+, apresentação de dados epidemiológicos e a discussão de casos fictícios.
CONSTRUÇÃO DE MODELO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA MULHER NO RIO GRANDE DO SUL
Pôster Eletrônico
1 SES/RS
Período de Realização
Modelo de serviço construído e elaborado ao longo do ano de 2023 e primeiro semestre de 2024.
Objeto da experiência
Construção de modelo de serviço ambulatorial de atenção à saúde da mulher baseado em indicadores de saúde, vazios assistenciais e regulação de acesso.
Objetivos
Construir um modelo de serviço ambulatorial de atenção à saúde da mulher, baseado nos dados de indicadores de saúde e de regulação de acesso.
Descrição da experiência
Como Projeto Estratégico de Governo, foi solicitada a construção de um modelo de serviço ambulatorial voltado à saúde da mulher. Formou-se um grupo técnico para condução do projeto, que reuniu e analisou dados dos principais indicadores de saúde da mulher, por região de saúde do estado, das filas de regulação ambulatorial da Ginecologia e suas subespecialidades, da rede de serviços já existente e dos vazios assistenciais identificados.
Resultados
Foram definidos cinco eixos de atendimento: Colo do Útero, Mama, Endometriose, Climatério e Planejamento Reprodutivo. O foco do serviço é a realização de exames e procedimentos para diagnóstico precoce de neoplasias, acompanhamento e tratamento ambulatorial para os sintomas do climatério e da endometriose, avaliação de fertilidade e capacitação de enfermeiros para inserção de dispositivo intrauterino. Seis dos 20 serviços propostos já estão em funcionamento com mais de 700 consultas realizadas.
Aprendizado e análise crítica
Com o levantamento dos dados e a identificação das lacunas encontradas na rede já existente, criou-se um serviço que oportuniza acesso à diagnóstico precoce e tratamento das condições ginecológicas mais prevalentes nas filas de espera para consulta. Aliado à navegação de pacientes, educação permanente e matriciamento, é possível qualificar a transição do cuidado para outros níveis de atenção e melhorar a comunicação entre as equipes, garantindo que as pacientes não desistam dos tratamentos.
Conclusões e/ou Recomendações
A construção de um projeto de serviço de saúde baseado em indicadores de saúde e filas de espera de regulação exige uma análise estratégica dos dados. O monitoramento e avaliação do tempo médio de espera por especialidade, percentual de redução de filas, absenteísmo e taxa de mortalidade por neoplasias de colo e mama mostrarão o impacto do serviço nos territórios e quais as ações a serem desenvolvidas conforme o perfil de saúde das mulheres.
A MULHER REI EM DEBATE: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE UMA AÇÃO EXTENSIONISTA EM UMA ESCOLA ESTADUAL BAIANA.
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Período de Realização
23 Maio de 2025.
Objeto da experiência
Cine debate O que é ser mulher na sociedade contemporânea promovido pelo Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS) em uma escola estadual.
Objetivos
Promover um ambiente de reflexões e aprendizagens sobre questões raciais, gênero e empoderamento feminino no ambiente escolar.
Descrição da experiência
O relato faz parte das ações do projeto de extensão ‘CINE NEGRAS’. Nessa atividade, buscou-se fomentar estratégias para a construção de um ambiente escolar livre do racismo, misoginia e demais discriminações. A partir de obras cinematográficas, o projeto almeja propagar de forma pedagógica soluções para que a escola seja um ambiente seguro e promotor de saúde. Na ação foi exibido o filme A Mulher Rei por cooperar com o objetivo desejado e culminou com o momento de debate com os alunos.
Resultados
O filme mobilizou inquietações dos alunos por extrapolar os padrões normativos para pensar as mulheres, notou-se que há tendência à padronização para papéis de gênero mesmo diante das diferenças culturais. A experiência mostrou a fragilidade dos estudantes sobre a pluralidade cultural e religiosa do continente africano e sobre o protagonismo das mulheres negras em África. A ação foi uma oportunidade para ratificar as diferenças e desumanidades relativas à escravização em África e no Brasil.
Aprendizado e análise crítica
A ação extensionista aproximou a universidade da comunidade e ampliou as possibilidades de formação do pensamento crítico da juventude, refletiu sobre a influência do patriarcado e a necessária ruptura com os demarcadores sociais de gênero. Também foi um mecanismo de valorização do legado ancestral para a formação de consciência identitária e étnica dos povos que se constituem pela diáspora. Além disso, contribuiu para o fomento da Lei 10.639 no ambiente escolar.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que há necessidade de outras ações no mesmo sentido para promoção de conhecimentos sobre temas ainda pouco refletidos pelos alunos como gênero, colonialidades e decolonialidades. A formação de sujeitos saudáveis em sua integralidade perpassa pela compreensão de suas origens, papel social e potencialidades. Portanto, além de seu caráter disruptivo, a ação também foi promotora de saúde e bem viver no ambiente escolar.
AGENTE TRANSFORMADOR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE PARA POPULAÇÃO TRANSGÊNERA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA
Pôster Eletrônico
1 Afya Itabuna
Período de Realização
Outubro de 2024 à Fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Atendimento ambulatorial e capacitação de estudantes e profissionais para atenção à população transgênera.
Objetivos
Promover o acesso à saúde da população transgênera de Itabuna e Ilhéus por meio de atendimento médico, educação em saúde, capacitação de estudantes e profissionais da saúde e fortalecimento da atenção integral e humanizada.
Metodologia
O projeto Agente TRANSformador integrou ações de educação em saúde, capacitação de estudantes e profissionais para atendimento ambulatorial de pessoas transgêneras. As abordagens médicas foi realizada por estudantes supervisionados por médicos no ambulatório acadêmico da Afya Itabuna. As ações incluíram escuta qualificada, prescrição e encaminhamentos, com foco na integralidade e equidade do cuidado.
Resultados
Realizou-se atendimento mensal contínuo com participação média de 6 a 14 estudantes e 6 a 8 pacientes por mês. Foram feitas consultas iniciais, retornos, prescrições, exames e encaminhamentos, ampliando o acesso à saúde e sensibilizando os futuros profissionais para o cuidado humanizado e inclusivo da população transgênera.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a necessidade de espaços formativos para abordar a saúde da população transgênera. Estudantes desenvolveram competências técnicas e humanas e identificaram lacunas na rede pública de saúde. A baixa oferta de serviços especializados reforça a importância da extensão universitária como canal de acolhimento e inclusão.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto contribuiu para qualificar o atendimento e ampliar o acesso à saúde da população trans em Itabuna e Ilhéus. Recomenda-se sua continuidade, expansão regional, incentivo à criação de centros de referência e inclusão permanente da temática LGBTQIA+ nos currículos da saúde, visando fortalecer a equidade no SUS.
O QUE SE ESPERA E O QUE SE EVITA: UMA DISCUSSÃO COMUNITÁRIA SOBRE O USO DE SUBSTÂNCIAS ENTRE TRAVESTIS E MULHERES TRANS TRABALHADORAS DO SEXO EM SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 NUDHES - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde da População LGBT+
2 Faculdade de Saúde Pública
3 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Cassa de São Paulo
4 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
Período de Realização
Reunião do Conselho de Acompanhamento Comunitário (CAC) da Pesquisa Trama, 20 de fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Interpretação de dados com o CAC da Pesquisa Trama, formado por 6 travestis e mulheres trans trabalhadoras sexuais e 2 mulheres cis da saúde
Objetivos
Relatar a análise da experiência de interpretação coletiva de duas variáveis qualitativas que encerravam o questionário quantitativo da Pesquisa Trama (n=283), com duas frases completadas livremente pelas participantes: “Nos próximos anos eu espero...” e “Nos próximos anos eu quero evitar...”.
Descrição da experiência
O CAC da Pesquisa Trama (2023–2025) integra uma abordagem de base comunitária que acompanhou a implementação de um estudo transversal de métodos mistos sobre os efeitos da COVID-19 na saúde mental de travestis e mulheres trans trabalhadoras sexuais em São Paulo. Em diálogo com o CAC, a equipe de pesquisa discutiu os resultados das variáveis qualitativas da etapa quantitativa, em que o uso de substâncias emergiu como principal tema. Refletiu-se sobre seus sentidos no contexto do trabalho sexual.
Resultados
O uso de substâncias foi debatido como prática individual, fenômeno coletivo, sintoma social e resposta psíquica na vida de travestis e mulheres trans trabalhadoras do sexo. Aparece como estratégia de sobrevivência e anestesia da dor, ligada à exclusão, violência e ausência de cuidado social e de saúde em suas trajetórias. Destacou-se o incentivo de clientes, que oferecem um pagamento adicional para o uso conjunto, e o consumo como forma de lidar com o frio, a rua e a privação de sono.
Aprendizado e análise crítica
A análise com o CAC reforça a importância da cocriação entre pesquisadores e comunidades diretamente impactadas em pesquisa. O processo gerou reflexões críticas sobre o uso de substâncias. No Estudo Trama, que não previa perguntas específicas sobre o tema, a emergência espontânea revela a centralidade e a relevância de pensar o uso de álcool e outras drogas a partir da experiência de travestis e mulheres trans trabalhadoras sexuais.
Conclusões e/ou Recomendações
As variáveis “Nos próximos anos eu espero…” e “Nos próximos anos eu quero evitar…” captaram desejos e recusas coletivas que aprofundam a análise quantitativa dos dados. A interpretação conjunta com o CAC evidenciou que pensar os dados em diálogo com a comunidade amplia sentidos e contribui para políticas públicas e estratégias de cuidado mais situadas e coerentes com as realidades das trabalhadoras sexuais.
PROMOÇÃO DO ACESSO À SAÚDE E A DIREITOS DE PESSOAS LGBTQIAPN+: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO REALIZADO EM BELÉM, PARÁ
Pôster Eletrônico
1 UEPA
2 IFPA
Período de Realização
Projeto desenvolvido de março a julho de 2024, com ação em saúde realizada em junho.
Objeto da experiência
Projeto realizado em parceria com a Universidade Popular (UNIPOP), em Belém/PA, com educação em saúde e acesso a direitos da população LGBTQIAPN+.
Objetivos
Relatar a experiência vivenciada de discentes de Saúde Coletiva em um projeto de extensão voltado à comunidade LGBTQIAPN+ com ênfase na promoção da saúde, acesso a direitos e à rede de atenção à saúde.
Metodologia
Iniciou-se com uma roda de conversa (Saúde, o direito de reexistir) facilitada pelos discentes numa relação horizontalizada com os 9 participantes. Foram distribuídos papéis para que, por meio de desenhos, fossem expressas suas percepções em relação à saúde. Ademais, foram disponibilizados folders sobre o fluxo das redes de atenção à saúde. Após o coffee break, ocorreram as testagens para ISTs (HIV, sífilis e hepatite C), com resultados entregues pelo docente, coordenador do projeto.
Resultados
A ação atingiu os objetivos propostos, promovendo escuta qualificada, acolhimento e reflexões sobre direitos e saúde da população LGBTQIAPN+. A atividade em questão fortaleceu o vínculo entre a universidade, a comunidade e os participantes. Todos os testes foram aplicados e entregues de forma ética e sigilosa. A roda de conversa oportunizou relatos de vida, especialmente de pessoas trans, fortalecendo o sentimento de reexistência e pertencimento.
Análise Crítica
A do trabalho desenvolvido, evidenciou-se o quanto ações em saúde voltadas à população LGBTQIAPN+ são urgentes e necessárias. A atividade proporcionou aos discentes, que vivenciaram todas as etapas do projeto, o desenvolvimento de habilidades de comunicação, empatia e trabalho em equipe. A baixa adesão foi um ponto a ser considerado, refletindo os desafios de mobilização para alcançar essa população, ainda marginalizada e vulnerabilizada no acesso aos serviços públicos.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a ampliação de projetos contínuos voltados às populações LGBTQIAPN+, com foco em saúde e cidadania, sobretudo no contexto local em que foi desenvolvido. Ações como essa que promovem educação em saúde podem impactar no acesso a serviços públicos, além de empoderar os indivíduos na busca por seus direitos.
ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO DE INTERRUPÇÃO GESTACIONAL PREVISTA EM LEI: CAPACITAÇÃO DE RESIDENTES EM MEDICINA DE FAMÍLIA NO CUIDADO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Pôster Eletrônico
1 egressa da residência em MFC da ESP-DF
Período de Realização
De 19 a 23/08/2024 no Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei do Distrito Federal
Objeto da experiência
Estágio de cinco dias no Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei (PIGL) localizado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).
Objetivos
Ressaltar a importância e incentivar a replicação do acompanhamento a programas de interrupção gestacional prevista em lei por residentes de Medicina de Família e Comunidade (MFC), evidenciando competências clínicas, éticas e de defesa dos direitos reprodutivos no cuidado integral às mulheres.
Metodologia
Durante o estágio optativo do 2º ano de residência em MFC na Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP-DF), os residentes podem integrar o PIGL e monitorar acolhimento on-line/presencial das pessoas atendidas, validação legal, exames, escolha do método, execução de misoprostol, AMIU ou curetagem e prescrever contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, no pós-procedimento. Além disso, podem compreender fluxos e participar da articulação com a Atenção Primária à Saúde (APS).
Resultados
Por meio da experiência, constatou-se um fluxo ágil do acolhimento ao procedimento e a procura crescente de mulheres e homens trans de vários estados, evidenciando o caráter referencial do programa e a escassez de serviços no país. Também foi verificado que muitas pessoas atendidas não se reconheciam vítimas de violência sexual ou estupro de vulnerável, por desconhecerem seus direitos e que a violência pode ocorrer mesmo em ato inicialmente consentido, como a remoção intencional do preservativo.
Análise Crítica
A vivência destacou o papel da APS na detecção ativa de violência sexual e no esclarecimento dos direitos reprodutivos. Identificou-se a presença de lacunas de informação sobre os fluxos de interrupção legal entre profissionais de saúde, reforçando a necessidade de capacitação e protocolos claros. O aprendizado obtido no estágio propiciou uma abordagem sem julgamento e fortalecedora da autonomia feminina nos atendimentos, mas barreiras institucionais, como o estigma, ainda persistem.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência ampliou competências da médica de família para lidar com interrupção gestacional prevista em lei, especialmente em adolescentes. Recomenda-se incorporar estágios nos serviços de interrupção legal às residências, fortalecer a discussão de gênero no currículo da residência, padronizar fluxos, ampliar a oferta de serviços e promover educação permanente sobre direitos reprodutivos, assegurando acolhimento humanizado e oportuno na APS.
INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NA APS: EXPERIÊNCIA DA USF CÓRREGO DA FORTUNA COM ADOLESCENTES E MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA.
Pôster Eletrônico
1 UFPE
Período de Realização
Dezembro de 2024 a Maio de 2025 (em curso)
Objeto da experiência
Oferta e organização da inserção do Implanon como estratégia de planejamento reprodutivo no território da USF Córrego da Fortuna, Recife/PE.
Objetivos
Compartilhar a experiência da equipe da USF Córrego da Fortuna na implantação do método contraceptivo Implanon, destacando os critérios de público prioritário, o planejamento local, a articulação com os ACS e os resultados obtidos com adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.
Descrição da experiência
A implantação do Implanon como método contraceptivo na USF Córrego da Fortuna iniciou-se em dezembro de 2024. A equipe promoveu reunião com os ACS para pactuação de estratégias de busca ativa de adolescentes entre 12 e 19 anos e mulheres em situação de rua, conforme diretrizes municipais. Foram ofertadas vagas semanais para inserção do implante. O processo contou com agendamentos, acolhimento, escuta qualificada e orientações, fortalecendo o cuidado no planejamento reprodutivo.
Resultados
Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, foram realizadas 24 inserções do Implanon em adolescentes de 12 a 19 anos. Destas, apenas 2 ocorreram por demanda espontânea; as demais foram fruto da busca ativa dos ACS e do planejamento da equipe. A estratégia demonstrou efetividade ao alcançar o público-alvo prioritário, além de promover reflexões sobre autonomia reprodutiva e o papel ativo da APS no acesso aos métodos contraceptivos de longa duração.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a importância do planejamento local, da sensibilização da equipe e do protagonismo dos ACS na busca ativa e no vínculo com o território. Apesar dos avanços, ainda se observa baixa procura espontânea, revelando barreiras relacionadas à desinformação, estigma e desigualdades no acesso. O matriciamento e a educação em saúde foram fundamentais para qualificar a abordagem, mas é necessário fortalecer estratégias contínuas de informação e acolhimento.
Conclusões e/ou Recomendações
A implantação do Implanon na USF Córrego da Fortuna mostra-se uma prática potente de cuidado reprodutivo na APS. Recomendamos a ampliação de momentos educativos com adolescentes, ações intersetoriais com escolas e CRAS, e o monitoramento contínuo da demanda. Fortalecer a escuta qualificada e garantir retaguarda para eventuais intercorrências é essencial para consolidar a confiança no método e na APS como espaço de cuidado integral.
NEM TODA MATERNIDADE É MATERNAR: VIVÊNCIAS E LETRAMENTOS NO GT4 DO PET-SAÚDE EQUIDADE – UFAL
Pôster Eletrônico
1 UFAL
2 Secretaria de Saúde de Maceió- AL
Período de Realização
Maio de 2024 a maio de 2025, que marca o primeiro ano de vivência do PET-Saúde Equidade.
Objeto da experiência
Processo formativo inicial sobre maternagem, com letramentos e reflexões interprofissionais no GT4 do PET-Saúde Equidade–UFAL.
Objetivos
Apresentar a experiência inicial do GT4 do PET-Saúde Equidade na construção coletiva de saberes sobre maternagem, refletindo sobre desafios teóricos e os atravessamentos de gênero, raça, classe e os efeitos do capitalismo que recaem sobre as mulheres no cuidado e na formação em saúde.
Metodologia
O GT4 é formado por docentes da UFAL, profissionais da APS (Nutrição e Serviço Social) e estudantes das ciências da saúde, sociais e humanas. A proposta de discutir a maternagem revelou confusões com o conceito de maternidade. Foram realizados letramentos com base em Calibã e a bruxa (Federici, 2004) e artigos científicos, problematizando como o capitalismo redefiniu o papel da mulher e o cuidado, reforçando desigualdades de gênero e a desvalorização da maternagem.
Resultados
A partir das imprecisões conceituais, construiu-se um espaço de formação crítica sobre maternagem. As leituras permitiram reconhecer maternagem como prática coletiva, historicamente invisibilizada e atribuída exclusivamente às mulheres. O grupo elaborou um projeto de pesquisa sobre maternagem na universidade, analisando legislações vigentes, direitos sociais e acadêmicos e investigando estruturas institucionais que podem comprometer o cuidado e a promoção da equidade entre estudantes da UFAL.
Análise Crítica
A experiência evidenciou como o cuidado tem sido historicamente invisibilizado e atribuído exclusivamente às mulheres, a partir de construções sociais, culturais e econômicas. O debate sobre maternagem permitiu reconhecer as múltiplas opressões que recaem sobre corpos feminizados. O GT4 se constituiu como espaço fértil para trocas, produção de saberes e formação crítica comprometida com a Saúde Coletiva.
Conclusões e/ou Recomendações
Discutir maternagem na saúde exige reposicionar o cuidado como prática coletiva, política e situada. Recomenda-se ampliar espaços formativos que considerem as vivências de mulheres em sua diversidade e que articulem interseccionalidade, crítica ao modelo biomédico e superação das lógicas capitalistas que precarizam a vida e a formação. O PET-Saúde é um campo potente para essas transformações.
PROGRAMA CEDAE POR ELAS: IGUALDADE DE GÊNERO E SAÚDE INTEGRAL PARA MULHERES NO AMBIENTE CORPORATIVO E NAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS
Pôster Eletrônico
1 CEDAE
Período de Realização
18 meses de Programa.
Objeto da experiência
Cedae Por Elas promove equidade de gênero com ações em saúde, maternidade, liderança e inclusão para trabalhadoras e mulheres vulneráveis.
Objetivos
Fomentar a igualdade de gênero na CEDAE por meio de um programa institucional que promova a saúde integral das mulheres, o enfrentamento às violências, apoio à maternidade, desenvolvimento profissional e ações nas comunidades vulneráveis.
Descrição da experiência
A implantação do Programa baseou-se em diagnóstico participativo conduzido por grupo formado por mulheres de todas as diretorias da CEDAE. Com os dados, propuseram-se ações à alta gestão, resultando na criação de salas de acolhimento, amamentação e atividades coletivas. O Programa atua em três eixos: convivência, escuta especializada e suporte à maternidade. As ações foram ampliadas para comunidades vulneráveis, com parcerias e capacitações
Resultados
Em 18 meses, o Programa registrou: 3.402 participações em atividades coletivas, 691 trabalhadoras alcançadas, 237 moradoras de comunidades atendidas, 1.056 atendimentos de suporte à maternidade, 966 acolhimentos psicossociais, 105 litros de leite extraídos e 33 litros doados, 30 mulheres formadas em liderança, certificação das salas de amamentação, parcerias com SEBRAE e Secretaria da Mulher. Também promoveu educação financeira, empreendedorismo e acesso a políticas públicas.
Aprendizado e análise crítica
O “Cedae Por Elas” revelou que promover equidade de gênero exige escuta ativa, espaços seguros e atuação interseccional. A prática mostrou que o cuidado integral à mulher no trabalho fortalece vínculos e gera impacto social. Contudo, enfrenta o desafio de romper barreiras estruturais e culturais em um ambiente historicamente masculinizado, exigindo investimento contínuo, engajamento da alta gestão e políticas públicas mais integradas.
Conclusões e/ou Recomendações
O Cedae Por Elas consolida o compromisso da Companhia com a equidade de gênero, a saúde integral e o bem-estar feminino. Mais que ação corporativa, é uma tecnologia social com impacto nas comunidades, que reafirma o papel da CEDAE como agente de transformação social e avança na efetivação do S do ESG.
VIVÊNCIAS E APRENDIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DISCENTES DA SAÚDE EM UM PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE SEXUALIDADE E GÊNERO
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Período de Realização
Abril de 2024 a abril de 2025.
Objeto da experiência
Alunos dos cursos de Enfermagem e Psicologia integrantes de um projeto sobre gênero e sexualidade.
Objetivos
Relatar o impacto da extensão na formação acadêmica e pessoal; e relatar práticas extensionistas voltadas à promoção de saúde LGBT+ e investigar.
Metodologia
Entre abril de 2024 e abril de 2025, graduandos da saúde participaram do projeto de extensão “CUyDADOS”, no IMS/UFBA, vivenciando formações teóricas e práticas sobre sexualidade, gênero e cuidado. Com ações junto a coletivos sociais, eventos acadêmicos e intervenções na Atenção Primária à Saúde, a experiência possibilitou reflexões críticas, diálogo com a comunidade e formação sensível e humanizada, articulando ensino, pesquisa e extensão de forma transformadora.
Resultados
Entre abril de 2024 e abril de 2025, discentes que integram o projeto CUyDADOS, com ações práticas-teóricas sobre sexualidade e gênero. Atuaram com mulheres trans, ofereceram formação para profissionais do PSF e promoveram eventos como o TRANSparência e a sala temática CLOSET, o que fortaleceu a importância do cuidado humanizado e formação crítica de alunos da saúde.
Análise Crítica
A participação no projeto de extensão permitiu aos alunos o contato e o estudo da temática do projeto, possibilitando a formação de profissionais mais capacitados para o atendimento da população. A capacitação dos profissionais da saúde, atuantes na rede municipal de saúde do município, permitiu propagar os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo no projeto, contribuindo para a construção de um Sistema Único de Saúde com mais equidade.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que, entre 2024 e 2025, o Projeto de Extensão “Corpo, Sexualidade e Práticas de Cuidado” (CUyDADOS) evidenciou o potencial da universidade na promoção dos direitos humanos e do cuidado em saúde para pessoas LGBT+. Suas ações integram ensino, pesquisa e extensão, com impacto na formação discente, na sensibilização de profissionais e na promoção da cidadania, apesar dos desafios identificados.
TRANSVERTENDO O CUIDADO PARA PESSOAS LGBTI+ NA ATENÇÃO BÁSICA DE NATAL/RN: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Período de Realização
Agosto de 2022 a agosto de 2023.
Objeto da experiência
Esse relato irá se deter na experiência de parte de uma pesquisa- ação realizada em duas Unidades de Saúde da Família (USF) do município de Natal.
Objetivos
Relatar a experiência de oficinas de saúde LGBTI realizadas na atenção básica da cidade de Natal, RN.
Descrição da experiência
O projeto foi planejado e executado por diversos atores sociais. Primeiramente, foi realizado a criação de vínculos entre os participantes e o levantamento das principais problemáticas sobre saúde LGBTI, a partir disso foi realizado um planejamento de oficinas com base em metodologias participativas e pautadas na Educação Popular em Saúde (EPS), que tinha como principal direcionamento garantir um espaço de discussão onde a troca de conhecimento acontecesse de forma horizontal e democrática.
Resultados
Através das oficinas foi estabelecido um vínculo e um espaço de trocas entre profissionais e usuários, uma vez que os usuários puderam ser acolhidos e ter suas demandas e conhecimentos ouvidos, enquanto os trabalhadores foram sensibilizados e envolvidos com as discussões, o que garantiu um aprendizado mais horizontal e efetivo, a partir de toda a reflexão provocada. Na intenção de superar as problemáticas, também houve a fixação de cartazes e distribuição de bottons para valorização da ambiência
Aprendizado e análise crítica
As oficinas tiveram metodologias como `a tenda do conto`, teatro, fotografia e outras metodologias participativas. Quando pessoas LGBTI que vivem no território assumem um lugar de educador, diversos são os ganhos. Destacamos: o fortalecimento do vínculo da equipe com os usuários, uma proposta emancipatória de formação, uma discussão mais orientada de acordo com a especificidade de cada território, um espaço importante de escuta e de reconhecimento da população e um estímulo ao controle social.
Conclusões e/ou Recomendações
Acredita-se que a experiência com as oficinas tenha sido exitosa uma vez que, em todas as
rodas de conversa, o conhecimento prévio das pessoas LGBTI+ que vivem no território, baseado em
suas histórias de vida, práticas sociais e culturais, foi priorizado e valorizado. Dessa forma, a
aquisição de novos conhecimentos ocorreu de forma horizontal, para todas as partes envolvidas:
trabalhadores, usuários e pesquisadores.
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE SEXUALIDADE E IST’S COM ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM
Pôster Eletrônico
1 UNIVATES
Período de Realização
A atividade de educação em saúde foi realizada em dois dias, durante o mês de abril de 2025.
Objeto da experiência
Participaram 75 estudantes do 7º, 8º e 9º ano de uma escola municipal, localizada em um município do interior do Rio Grande do Sul (RS).
Objetivos
Relatar as atividades de educação em saúde desenvolvidos por acadêmicos do 6º semestre do curso de Enfermagem da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), abordando a temática da sexualidade e das infecções sexuais transmissíveis (IST’s).
Descrição da experiência
A partir de uma demanda da escola à universidade, os acadêmicos elaboraram materiais gráficos e, juntamente, com seus supervisores, preparam um momento de integração com os alunos. As atividades foram realizadas em dois momentos: 1) apresentação de slides sobre sexualidade, mudanças e desafios da puberdade, início da vida sexual, IST’s e métodos contraceptivos; 2) realização de uma dinâmica com os estudantes e a demonstração/exposição de alguns métodos contraceptivos disponíveis.
Resultados
Depois da apresentação, os alunos expressaram suas dúvidas e curiosidades acerca das temáticas. Dentre às questões, destacaram-se as seguintes: quais doenças poderiam ser transmitidas pelo beijo; se era mesmo importante utilizar preservativo com namorada(o) e por que a utilização apenas de anticoncepcionais injetáveis ou orais não seriam o suficiente. Com isso, reforçou-se a importância do uso de preservativos e esclareceram-se outras dúvidas em relação à utilização de anticoncepcionais.
Aprendizado e análise crítica
Após a atividade foi possível destacar o interesse dos alunos sobre a temática, que ainda segue sendo um tabu. Momentos como esses auxiliam na desmitificação de informações e ressaltam a necessidade de mais espaços de diálogo sobre o tema no ambiente escolar. Ademais, essas ações também são importantes para os acadêmicos de enfermagem, pois fortalecem a formação profissional e ampliam o olhar sensível e crítico dos mesmos ao trabalharem com temas complexos e fundamentais para à saúde coletiva.
Conclusões e/ou Recomendações
Momentos de escuta e diálogos com adolescentes, principalmente sobre essa temática, são de suma importância. Reitera-se também que essas atividades devem ser realizadas de maneira clara, ética e acolhedora. Por fim, atividades de educação em saúde reforçam o papel dos estudantes da área da saúde, neste caso, dos acadêmicos de enfermagem em serem agente de transformação social e ainda, promotores de saúde.
AUDIOVISUAL SOBRE SAÚDE MENTAL DE HOMENS GAYS NEGROS: ESTEREÓTIPOS, SEXUALIZAÇÃO E OBJETIFICAÇÃO DOS CORPOS EM BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA
Pôster Eletrônico
1 IFPA
2 UEPA
3 UFPA
Período de Realização
Abril de 2024 a março de 2025.
Objeto da produção
Documentário sobre sexualização e objetificação de homens gays negros em Belém–PA, abordando seus impactos na saúde mental, identidade e vida cotidiana.
Objetivos
O projeto visa conscientizar sobre os danos psíquicos causados pela hipersexualização de homens gays negros, denunciando opressões interseccionais e promovendo saúde mental, protagonismo LGBTQIA+ negro e políticas públicas antirracistas e inclusivas.
Descrição da produção
O documentário de média duração (12-20 min) será baseado em pesquisa, entrevistas e grupos focais com homens gays negros. O roteiro refletirá suas experiências, com gravações em locais simbólicos de Belém, imagens e dados sobre racismo e saúde mental. O audiovisual visa gerar empatia e alcançar diversos públicos, sendo usado em eventos, oficinas e rodas de conversa como ferramenta educativa e de mobilização social.
Resultados
Análise crítica da produção
O documentário aborda a desumanização histórica dos corpos negros, propondo novas existências para homens gays negros como sujeitos políticos e afetivos. Usa a arte para resistência, rompendo silenciamentos com escuta, palavra e imagem, ocupando espaços simbólicos e reais historicamente negados a esses corpos.
Considerações finais
O trabalho ressalta a urgência de novas narrativas sobre saúde mental da população negra LGBTQIA+. O audiovisual amplia o alcance emocional, inspirando iniciativas que veem o corpo negro como potência e dignidade. Com escuta e visibilidade, busca construir políticas de cuidado e pertencimento, criando alternativas de vida e afeto para quem foi visto só como objeto, não sujeito.
UMA CARTA A SUSI E À MINHA MÃE: JAMAIS AS ESQUECEREI
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura da Cidade do Recife
2 Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz
3 Prefeitura da Cidade de Jaboatão dos Guararapes
4 Universidade Federal de Pernambuco
Período de Realização
Julho a dezembro de 2021.
Objeto da produção
A violência à qual, continuamente, corpos não-cisheteronormativos estão expostos.
Objetivos
Descrever as vivências de um estudante de graduação em Odontologia, enlutado pela perda recente da mãe, em um serviço de emergência hospitalrecifense, transformando a dor de minha experiência em poesia.
Descrição da produção
Aquelas gotas de sangue no chão branco, apesar da dor e violência que
escondiam, mostraram uma face bela do caos. Os raios vermelhos eram como se um
pintor, movido por muita raiva, tivesse jogado seus pincéis carregados de tinta às
folhas. Era lindo! Gotas com as bordas das mais diversas formas, pequenos riscos e
raios, formas distintas que não se comunicavam, mas que, em conjunto, passavam
uma mensagem que ultrapassava o visual.
Resultados
Susi, como decidi chamá-la, havia sido atacada no rosto. Pelo pouco que
entendi, resultado de um desentendimento com um cliente que se recusou a pagar o
combinado pelo programa. Deitada na maca, nenhum procedimento técnico me era
permitido executar, então foquei minhas forças naquilo que julgo fazer melhor: ouvir.
Deitada na maca, estava entregue. Os lábios rasgados eram uma pequena
demonstração de que gente como nós, está exposta por existir. Às vezes, existir é um
crime. Aqui é, pelo jeito.
Análise crítica da produção
Antes, entre raras cruzadas, travestis e transexuais eram objeto de curiosidade,
especialmente durante a minha adolescência. Evitava encará-las, mas eram alvo de
olhares de acinte tímido. Eu, tão jovem, mal sabia, mas já reproduzia, mesmo que
sem palavras, a transfobia. Éramos nós, os “normais”, de calças e vestidos; e elas,
que desobedeciam àquela regra que nunca foi dita, mas compreendida e reproduzida
por todos.
Considerações finais
Trata-se de um relato pessoal, que une um momento de perca de um ente querido do autor que, concomitantemente, encontrou a face mais cruel da violência racista e transfóbica no Brasil. Das pedras, tentei extrair flores. Flores murchas mas que, com a investigação científica, organização política e a ocupação de espaços de poder, têm absurda potencialidade para desabrochar. A estruturação textual foge às regras: assim como as travestis.
QUALIFICA PRÉ-NATAL RECIFE: ESPECIFICIDADES NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO DE HOMENS TRANS
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Saúde do Recife
Período de Realização
De 13 de setembro a 22 de dezembro de 2023.
Objeto da produção
Cursos de formação profissional
Objetivos
Ofertar educação permanente para profissionais de saúde da Atenção Básica (AB), da enfermagem e medicina, do Recife acerca do cuidado ofertado às diversidades de famílias LGBTQIAPN+, no pré-natal, destacando as especificidades do acompanhamento aos homens trans no ciclo gravídico-puerperal.
Descrição da produção
A metodologia consistiu em aula expositiva em AVA, abordando o tema “Gestação na população LBT” na aula 5 da unidade sobre “Atendimento pré-natal”. O curso foi articulado pela Políticas Municipal de Saúde da Mulher, tendo a parceria da Política de Saúde Integral da População LGBT e com a Escola de Saúde do Recife. Com 250 vagas, contou com 10 turmas, tutores mediadores, quatro unidades, cinco encontros online com avaliações e cinco presenciais.
Resultados
A aula foi ofertada para as 10 turmas do curso, alcançando 226 profissionais naquele momento. Destes, 140 concluíram o curso em sua integralidade, representando uma taxa de quase 70% de conclusão com êxito, um número expressivo para a expectativa de impacto no processo de trabalho no território. O momento abordou diversidade familiar, identidade de gênero, comunicação afirmativa e pré-natal de homens trans, com foco em acolhimento e redução da violência institucional na saúde.
Análise crítica e impactos da produção
O cuidado pré-natal é essencial para a saúde no ciclo gravídico-puerperal, mas tradicionalmente focado em mulheres cisgênero, enquanto homens trans enfrentam barreiras de acesso. A ação formativa promoveu reflexões sobre práticas inclusivas e equitativas, evidenciando a importância da educação permanente para qualificar o cuidado, ampliar o acesso e garantir direitos. Reforça o desafio de replicar essa experiência em novas edições do curso no município, fortalecendo equidade e universalidade.
Considerações finais
Reconhecer as iniquidades em saúde vivenciadas por homens trans é essencial para ampliar o acesso com cuidado integral, inclusivo e plural. É necessário que o planejamento e a execução de políticas no SUS, como a estratégia apresentada aqui, superem a lógica cisheteronormativa, promovendo a equidade em saúde e fortalecendo o princípio da universalidade, contribuindo para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos.
O AMOR DÓI? ROMPENDO O SILÊNCIO SOBRE A VIOLÊNCIA NO NAMORO ADOLESCENTE POR MEIO DE UM PRODUTO EDUCACIONAL
Pôster Eletrônico
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Ceres, Ceres, GO, Brasil.
2 Universidade Evangélica de Goiás, Ceres, GO, Brasil.
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Ceres, Ceres, GO, Brasil e Universidade de São Paulo, Escola Médica, São Paulo, SP, Brasil.
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Ceres, Ceres, GO, Brasil e Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Nutrição, Goiânia, GO, Brasil.
Período de Realização
Outubro de 2023 a abril de 2025.
Objeto da produção
Material didático digital (livro), sobre prevenção da violência (física, psicológica, sexual e digital) no namoro entre adolescentes.
Objetivos
Desenvolver um produto educacional, com base em evidências científicas e metodologias ativas, visando à reflexão crítica e o protagonismo de professores e adolescentes na prevenção e enfrentamento da violência no namoro.
Descrição da produção
Desenvolvido com base em evidências científicas, este produto educacional seguiu cinco etapas: análise do público-alvo; definição de objetivos pedagógicos voltados à reflexão, prevenção e transformação; elaboração em capítulos com texto literário autoral, teoria, oficinas e jogos; aplicação em grupos focais; e avaliação preliminar. É interdisciplinar e integra os eixos conceitual, pedagógico, comunicacional e estético, com linguagem acessível e orientações para uso.
Resultados
Aplicamos este produto educacional em cinco oficinas: uma com 22 participantes, do grupo de pesquisa, e quatro, com 60 estudantes do ensino médio do IF Goiano-Ceres. Avaliações analisaram clareza, aplicabilidade e engajamento. Os dados indicaram eficácia didática, potencial reflexivo sobre gênero e violência, e embasaram ajustes conforme critérios da CAPES.
Análise crítica e impactos da produção
A prototipagem e as avaliações indicam que o material contribui com a educação crítica ao abordar a violência no namoro com base em evidências, linguagem acessível e oficinas ativas. Estimula diálogo, reflexões, protagonismo e favorece a equidade de gênero. Seu formato interdisciplinar, digital e replicável amplia o alcance e o impacto na Educação Básica.
Considerações finais
Material didático para professores e estudantes do ensino médio que integra teoria científica, literatura e oficinas (encenação, checklists e jogos) para prevenir a violência no namoro. Aplicável em projetos sociais e rodas de conversa, amplia o acesso a informações qualificadas e éticas. O material está concluído e segue para as etapas previstas de validação e disseminação.
A CO-CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE CUIDADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ POR MEIO DE GRUPOS FOCAIS NO SUS RECIFE
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Executiva de Atenção Básica Recife
Período de Realização
Foi realizada de outubro de 2024 a março de 2025 no município do Recife.
Objeto da produção
Manuais / Protocolos - Construção coparticipativa entre gestão e assistência de uma linha de cuidado (LC) em saúde voltada para a população LGBTQIAPN+ .
Objetivos
Construir um texto base para a linha de cuidado (LC) em saúde voltada para a população LGBTQIAPN+ do Recife
Fortalecer práticas inclusivas e livres de discriminação a população LGBTQIAPN+ no âmbito do SUS;
Construir diálogo entre profissionais e gestores na estruturação do cuidado efetivo e integral;
Descrição da produção
A metodologia utilizada foi a de grupos focais para produção da LC, mediados por facilitadores da gestão da Política de Saúde Integral da População LGBT. Cada grupo focal era composto por equipes e trabalhadores que fossem estratégicos na condução do cuidado da população LGBTQIAPN+, como a eMulti, Consultório na Rua, entre outros. O processo foi sistematizado de forma colaborativa, resultando na elaboração de um documento-base para a linha de cuidado em saúde LGBTQIAPN+ no território.
Resultados
A partir das discussões, por área técnica/equipe, foram sistematizados fluxos de acolhimento que garantem escuta qualificada, acesso a atendimentos, promoção da saúde individual e coletiva, articulação com a rede intra e intersetorial, a partir da realidade de cada serviço. Diante disso, cada equipe elaborou um texto norteador de práticas para o serviço que ofertava, que irá compor o texto final da LC de Saúde LGBT do Recife.
Análise crítica e impactos da produção
A construção coletiva de uma LC centrada na pessoa e não em doenças, é um desafio e uma estratégia para enfrentar as iniquidades em saúde por se tratar de uma população marginalizada. Ao convidar os profissionais da rede obteve-se uma condução da LC mais alinhada com a assistência e a corresponsabilização com a gestão quanto ao cuidado. A sensibilização das equipes fez diferença na condução da construção para discutir a inclusão das demandas da população LGBTQIAPN+ no planejamento do território.
Considerações finais
A experiência reafirma a centralidade dos processos participativos e da escuta qualificada como estratégias fundamentais para a efetivação do direito à saúde da população LGBTQIAPN+ no SUS. Linhas de cuidado para essa população não apenas combate a LGBTQIAPN+fobia institucional, mas também fortalece a equidade. A experiência reafirma um compromisso político com a construção de um SUS verdadeiramente inclusivo e antidiscriminatório.
PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO EM INTERVENÇÕES MÉDICAS RELACIONADASÀ IDENTIDADE DE GÊNERO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TRANS/GÊNERO DIVERSO (TGD): UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 University of São Paulo
2 University of Toronto
Apresentação/Introdução
A demanda por cuidados relacionados à identidade de gênero para jovens trans aumentou nos últimos anos, criando cenários de tomada de decisão novos e frequentemente desafiadores para jovens, famílias e profissionais, especialmente no que diz respeito às intervenções médicas.
Objetivos
Nesta revisão de escopo, buscou-se dentificar e sintetizar a literatura sobre tais processos de tomada de decisão, com foco nos (1) critérios utilizados e (2) dilemas enfrentados.
Metodologia
Revisão de escopo empregando a metodologia JBI e relatada conforme as diretrizes PRISMA-ScR. Incluímos literatura revisada por pares que abordasse processos de tomada de decisão relacionados a bloqueadores de puberdade, terapia hormonal afirmativa de gênero e outras intervenções, como procedimentos cirúrgicos, para pessoas com menos de 18 anos. Consultamos cinco bases de dados (Scopus, PubMed, Web of Science, Embase e BVS). Dois revisores independentes realizaram a triagem e extração de dados. Empregamos análise de conteúdo simples para síntese temática dos achados em categorias relacionadas aos critérios para as intervenções e dilemas identificados no processo decisório.
Resultados
Identificamos 1.532 artigos, dos quais 28 atenderam aos critérios de inclusão. Quatro categorias principais foram identificadas: (1) disforia de gênero e saúde mental – critério central para a eligibilidade às intervenções; (2) competência para a tomada de decisão – envolvendo idade, maturidade e capacidade de compreensão; (3) riscos e efeitos colaterais – especialmente preocupações com fertilidade e possível arrependimento; e (4) envolvimento familiar e questões financeiras – incluindo consentimento parental e cobertura de seguro saúde. Os dilemas surgiram das diferentes perspectivas entre jovens, familiares e profissionais ao equilibrar riscos, benefícios e a prontidão para decisões.
Conclusões/Considerações
Os processos decisórios são complexos, moldados por fatores clínicos, sociais e culturais. Estudos recentes sugerem adoção crescente de abordagens baseadas em consentimento, valorizando a autonomia jovem. As perspectivas variam entre jovens, famílias e profissionais, que frequentemente seguem linhas temporais diferentes, gerando tensões entre atores. Persistem lacunas críticas sobre cuidados para jovens não-binários e em populações do Sul Global.
CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL LGBT+ E CONCEITOS DE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário São Camilo
Período de Realização
Setembro a novembro de 2024
Objeto da experiência
Educação em saúde de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre a Política Nacional LGBT+, significado da sigla e diferenciação entre gênero e orientação sexual.
Objetivos
Promover a capacitação dos ACS sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT+;
Discutir o significado da sigla;
Diferenciar identidade de gênero, orientação sexual.
Descrição da experiência
Alunos que cursavam o sexto semestre de graduação realizaram oficinas educativas com os ACS de Unidades Básicas de Saúde (UBS). As oficinas ocorreram de forma interativa, iniciando com o levantamento do conhecimento prévio dos ACS sobre o tema. Posteriormente, foi realizada uma roda de conversa abordando a política e os direitos dessa população, identidade de gênero, orientação sexual e a definição da sigla LGBTQIAPN+. Foram abordados os preconceitos na sociedade em geral, com ênfase na saúde.
Resultados
Participaram cerca de 90 ACS, 30 em cada UBS, que demonstraram elevado interesse no tema e participação. As oficinas promoveram a ampliação do conhecimento sobre a população LGBTQIAPN+, a desconstrução de estereótipos e a valorização do atendimento humanizado. Os estudantes relataram desenvolvimento de habilidades de comunicação, educação em saúde e sensibilização para a diversidade, reconhecendo a importância da inclusão em políticas públicas de saúde.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou desafios relacionados às resistências iniciais e às lacunas conceituais sobre diversidade sexual e de gênero. Demandou dos estudantes preparo técnico e sensibilidade cultural para promover o diálogo. A participação ativa dos ACS indicou que estratégias educativas participativas são eficazes para a construção de práticas inclusivas e respeito à diversidade no cotidiano da Atenção Primária à Saúde (APS).
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto contribuiu para a qualificação dos ACS no atendimento à população LGBTQIAPN+ e para a formação dos estudantes, promovendo desenvolvimento de habilidades de comunicação. Recomenda-se a continuidade de ações educativas sobre diversidade sexual e de gênero na APS, aliadas a metodologias participativas, visando o fortalecimento de práticas inclusivas e a redução das barreiras no acesso à saúde.
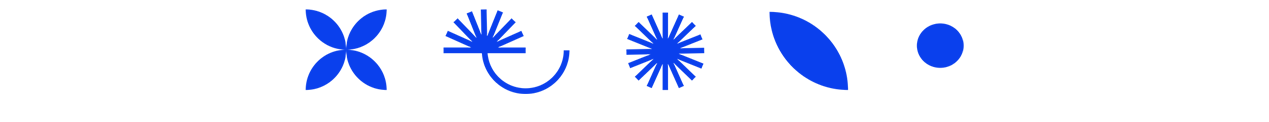
Realização:

